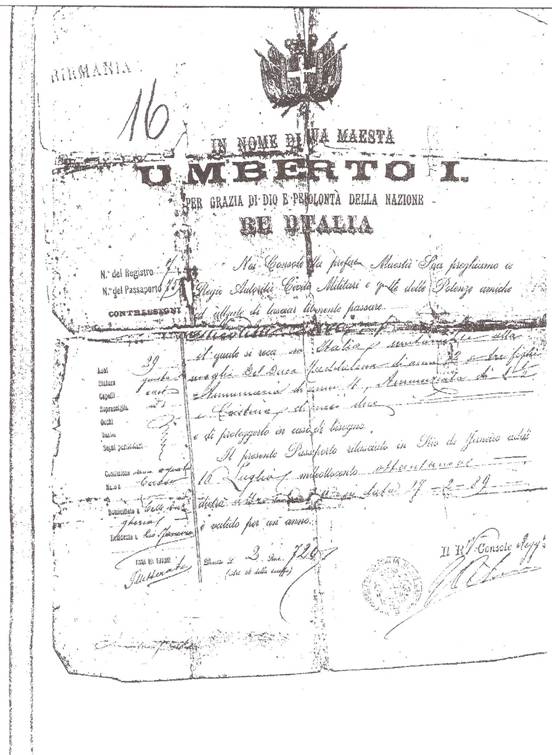TERNAS MEMÓRIAS DE TENRA INFÂNCIA
Cleusa Piovesan
Morávamos no interior de São João, pequeno município no Sudoeste do Paraná. Sou a filha mais velha de Armando e Marina. Nasci em 12 de maio de 1967, nove meses e doze dias após o casamento deles, ou seja, não havia o planejamento para se ter filhos, e eu era considerada uma “graça de Deus”. Paparicada por todas as tias e pelos avós paternos, que moravam na mesma casa, eu era o centro das atenções, por ser a primeira neta depois de meu avô, viúvo, ter se casado com a avó Elisa. Ela já estava com 31 anos, e as filhas mais velhas dele, do primeiro casamento com Carolina, eram quase da idade dela. Isso gerou um ódio à primeira vista (mas isso é assunto para outras histórias).
Depois que eu nasci, uma tia, Eloni, casada com o irmão da mãe, que morava na cidade, já conhecia anticoncepcional, e falou para meus pais que se não quisessem ter “uma penca” de filhos aquela seria a forma de evitar. Meu pai comprou quando foi à Pato Branco e minha mãe tomava escondido; escondiam a cartela debaixo do colchão de palha. Quando eu estava com três anos, minha avó Elisa falou para meus pais “A Cleusa já tem três anos e Deus não abençoou vocês com mais um filho!”. Então, meus pais decidiram parar com o anticoncepcional e minha irmã Maísa nasceu no ano seguinte, em 1970.
Um pouco antes disso, meu avô havia construído uma casa de alvenaria, a uns 500 metros de onde morávamos, porque o tio Geraldo, irmão de meu pai, iria se casar com a tia Orildes. Meus avós, com as três tias, Irma, Mercedes e Matilde, e o tio Antoninho, foram morar na casa nova, e os recém-casados passaram a dividir o casarão conosco (era de telhado bangalô, construído com madeira de pinheiro e até os cepos da casa eram toras de pinheiro de, aproximadamente, 50 cm de diâmetro) não lembro bem, mas havia uns dez cômodos, com um porão, onde se guardava mantimentos e ferramentas da lavoura, além de um...
Continuar leitura
TERNAS MEMÓRIAS DE TENRA INFÂNCIA
Cleusa Piovesan
Morávamos no interior de São João, pequeno município no Sudoeste do Paraná. Sou a filha mais velha de Armando e Marina. Nasci em 12 de maio de 1967, nove meses e doze dias após o casamento deles, ou seja, não havia o planejamento para se ter filhos, e eu era considerada uma “graça de Deus”. Paparicada por todas as tias e pelos avós paternos, que moravam na mesma casa, eu era o centro das atenções, por ser a primeira neta depois de meu avô, viúvo, ter se casado com a avó Elisa. Ela já estava com 31 anos, e as filhas mais velhas dele, do primeiro casamento com Carolina, eram quase da idade dela. Isso gerou um ódio à primeira vista (mas isso é assunto para outras histórias).
Depois que eu nasci, uma tia, Eloni, casada com o irmão da mãe, que morava na cidade, já conhecia anticoncepcional, e falou para meus pais que se não quisessem ter “uma penca” de filhos aquela seria a forma de evitar. Meu pai comprou quando foi à Pato Branco e minha mãe tomava escondido; escondiam a cartela debaixo do colchão de palha. Quando eu estava com três anos, minha avó Elisa falou para meus pais “A Cleusa já tem três anos e Deus não abençoou vocês com mais um filho!”. Então, meus pais decidiram parar com o anticoncepcional e minha irmã Maísa nasceu no ano seguinte, em 1970.
Um pouco antes disso, meu avô havia construído uma casa de alvenaria, a uns 500 metros de onde morávamos, porque o tio Geraldo, irmão de meu pai, iria se casar com a tia Orildes. Meus avós, com as três tias, Irma, Mercedes e Matilde, e o tio Antoninho, foram morar na casa nova, e os recém-casados passaram a dividir o casarão conosco (era de telhado bangalô, construído com madeira de pinheiro e até os cepos da casa eram toras de pinheiro de, aproximadamente, 50 cm de diâmetro) não lembro bem, mas havia uns dez cômodos, com um porão, onde se guardava mantimentos e ferramentas da lavoura, além de um quartinho para defumar salame, carne seca e guardar os queijos para secar.
A vida era simples e rústica, com o conforto possível para as condições da época. A pia da cozinha não tinha encanamento, era instalada no parapeito da janela e havia uma tábua pregada por onde escorria a água. O chuveiro era de latão, instalado num pequeno cômodo, na entrada da porta da cozinha, ao lado da escada. Tínhamos que aquecer a água e encher o latão, regulando a quantidade de água, abrindo para molhar o corpo e ensaboar, fechando-o, e abrindo de novo para o enxágue. A água tinha que dar para o banho. No chão havia ripas de madeira, com um espaço entre elas, para que a água escorresse. E a patente (sanitário) era feita distante da casa; uma casinha de madeira com uma parte de meio metro mais alto do que o assoalho, com um buraco, redondo, para que a urina e as fezes caíssem num buraco de uns dois metros de fundura. E o papel higiênico era qualquer coisa que pudesse ser usada para higienizar as partes íntimas. Difícil era ter de ir à noite à “casinha”, como também era chamada a patente.
A iluminação ficava por conta de velas e de lampiões à querosene. Mais tarde sugiram os “liquinhos”, com um bocal de vidro transparente, instalado em um botijãozinho de gás de dois quilos, e uma haste na qual se colocava uma “camisinha” de um tecido perfurado, aceso com fósforo. Ter um desses em casa era luxo, e o gasto de gás era racionado. Só era ligado quando vinha visita. Também se economizava a querosene do lampião.
O horário de dormir era após o programa “A voz do Brasil”, às 19 h, (o pai não deixava ninguém falar nessa hora) e do programa do Zé Bettio. Quando o Zé Bettio dava o beijinho estalado pelo rádio era a hora de irmos para a cama, sem reclamar.
Na casa dos meus avós, na patente, foi colocado sobre o buraco um vaso sanitário de louça, e a minha alegria era fazer minhas necessidades fisiológicas lá. Ficava um tempão! O tanque era de cimento, um tanque grande, de dois metros por um, no qual vinha água corrente de uma fonte d’água e era uma festa tomar banho naquele tanque. O nosso era de madeira, bem menor, também com água vinda de uma fonte, de modo que a água jorrava incessantemente. Nós íamos buscar água para o consumo numa fonte próxima ao rio Guabiroba, que ficava a uns 150 m da casa. E não era considerado desperdício termos a água correndo à vontade no tanque.
Eu já estava com uns cinco anos, quando foi construída uma roda d’água, e uma casinha para um gerador de energia, para termos luz elétrica em nossa casa. Foi feita uma vala que captava a água do rio Guabiroba, na elevação do terreno, e construída com tábuas de madeira, sobre uma armação bem alta, uma bica de uns 50 centímetros de largura, com uma parede lateral de uns 20 centímetros, que conduzia a água da vala até a roda d’água, fazendo o motor do gerador funcionar. O tio Antoninho, que por uns tempos cuidou de mim e da minha prima Rose, filha do tio Geraldo, era o maior entusiasta da tal construção.
À noite, os homens iam na vala caçar rãs e, às tardes, a alegria das crianças da vizinhança (filhos dos agregados e nós) era escorregar pela armação de tábuas que conduzia a água à roda e descíamos nas pás da roda d’água, sem noção do perigo. As tábuas, com o tempo, ficaram com um limo verde e muito mais lisas, escorregávamos mais rápido, e era mais divertido. Isso rendeu algumas surras (merecidas), mas foi uma fase da minha vida de que tenho muita saudade, pela inocência com que eu via o mundo!
Recolher