Projeto: Indígenas Pela Terra e Vida
Entrevista de Iana Saíssem Silva Gonçalves Mura
Entrevistada por Márcia Mura
Entrevista concedida via Zoom (Porto Velho), 26/11/2022
Entrevista n.º: ARMIND_HV028
Realizada por Museu da Pessoa
Transcrita por Mônica Alves
P/1 - __________ Karuka, boa tarde! É com muita satisfação que eu te recebo aqui, junto com a equipe do Museu da Pessoa, pra ouvir a sua história de vida, nesse projeto que tem como propósito ouvir pessoas indígenas, lideranças que estão na luta pelo território e pela vida. A sua atuação enquanto Coletivo Mura, também é muito importante pra gente poder demarcar a memória. A memória Mura e a luta de recuperação dessa memória no Baixo Madeira. Então agradeço muito, muitos Nemeguere! Muitos agradecimentos por esse convite, nesse momento tão especial da sua vida, que também é especial para nós do Coletivo Mura. Porque está chegando mais uma criança, que é o futuro da nossa resistência, né? Então seja bem vinda! E você pode começar a falar por onde achar melhor.
R - Eu fico bem feliz, bem grata pela oportunidade que estão me dando, de poder contar um pouquinho da nossa história, que não é uma história apenas minha, é uma história de todos nós do Coletivo Mura e de todos aqueles que vivem às margens do Rio Madeira. Eu agradeço a princípio ao Museu do Amanhã, pela oportunidade que está dando a todos nós, que hoje estamos participando dessa entrevista. Eu estou um pouquinho gripada. Aqui na região Norte, nesse período começou o período de chuva. E eu já peço desculpas desde agora, se eu, em algum momento precisar me ausentar. Tudo isso só foi possível porque, eu em determinado momento da minha graduação e da minha história de vida, eu conheci a Márcia e ela me abriu as portas para que hoje eu pudesse estar falando com mais propriedade sobre a minha história, sobre a história do nosso povo, sobre a história da minha família,...
Continuar leituraProjeto: Indígenas Pela Terra e Vida
Entrevista de Iana Saíssem Silva Gonçalves Mura
Entrevistada por Márcia Mura
Entrevista concedida via Zoom (Porto Velho), 26/11/2022
Entrevista n.º: ARMIND_HV028
Realizada por Museu da Pessoa
Transcrita por Mônica Alves
P/1 - __________ Karuka, boa tarde! É com muita satisfação que eu te recebo aqui, junto com a equipe do Museu da Pessoa, pra ouvir a sua história de vida, nesse projeto que tem como propósito ouvir pessoas indígenas, lideranças que estão na luta pelo território e pela vida. A sua atuação enquanto Coletivo Mura, também é muito importante pra gente poder demarcar a memória. A memória Mura e a luta de recuperação dessa memória no Baixo Madeira. Então agradeço muito, muitos Nemeguere! Muitos agradecimentos por esse convite, nesse momento tão especial da sua vida, que também é especial para nós do Coletivo Mura. Porque está chegando mais uma criança, que é o futuro da nossa resistência, né? Então seja bem vinda! E você pode começar a falar por onde achar melhor.
R - Eu fico bem feliz, bem grata pela oportunidade que estão me dando, de poder contar um pouquinho da nossa história, que não é uma história apenas minha, é uma história de todos nós do Coletivo Mura e de todos aqueles que vivem às margens do Rio Madeira. Eu agradeço a princípio ao Museu do Amanhã, pela oportunidade que está dando a todos nós, que hoje estamos participando dessa entrevista. Eu estou um pouquinho gripada. Aqui na região Norte, nesse período começou o período de chuva. E eu já peço desculpas desde agora, se eu, em algum momento precisar me ausentar. Tudo isso só foi possível porque, eu em determinado momento da minha graduação e da minha história de vida, eu conheci a Márcia e ela me abriu as portas para que hoje eu pudesse estar falando com mais propriedade sobre a minha história, sobre a história do nosso povo, sobre a história da minha família, sobre a história das pessoas que vivem às margens do Rio Madeira. Eu fico bem grata pela oportunidade.
P/1 - (...). Eu vou agora passar aqui para o roteiro e aí eu vou fazendo algumas perguntas. Você vai respondendo então a partir da sua própria percepção, da sua história de vida, tá? Gostaria que você me falasse o seu nome, se você tem um nome indígena e um nome oficial? Como a gente fala, né? E se você sabe como foram escolhidos esses nomes? E o significado do seu nome, se você tiver um nome indígena, ou mesmo um nome que você tem mesmo, que foi dado pela sua família.
R - Bom, eu me chamo Iana Saíssem Silva Gonçalves. É o meu nome que está na Certidão de Nascimento, foi dado pelo meu pai. E hoje em dia eu me identifico como de Iana Saíssem Mura, como forma de resistência, como forma de demarcar lugar. Mas por que hoje eu falo que eu me chamo Iana Saíssem Mura, né? É porque a gente precisa estar em lugares que precisam reconhecer, nós, povos da floresta, povos ribeirinhos, como indígenas. É claro que essa é uma definição que cada um tem que buscar para si. Não é algo que eu vou forçar na cabeça de alguém. Cada um tem o direito de examinar. E hoje, usar o sobrenome Mura, o nome do nosso povo, é algo muito importante para mim, porque me deixa mais fortalecida em lugares que na realidade a gente não tinha tantos espaços. E hoje, talvez, o quão forte é o Mura em nossas vidas e o quanto também é… como eu posso falar… o quanto é desafiador e o quanto é importante. Porque a partir do momento que você coloca o Mura, você está assumindo uma guerra com outras pessoas também. Outras pessoas, que é difícil para elas engolirem, e eu digo engolir no sentido de aceitar que tem um Mura na faculdade, que tem um Mura dando aula, que tem um Mura caminhando por caminhos que a princípio, não eram lugares que era aceito hoje em dia… anteriormente. Hoje em dia são obrigados a nos respeitar.
P/1 - É isso aí, minha parente! Onde e quando você nasceu?
R - Bom, eu nasci no Estado do Amapá, no dia dezesseis de junho de 1993. Mas a minha família materna, por parte de mãe, ela sempre… a minha avó né, minha família materna por parte de mãe, ela era de Rondônia, mais especificamente do Baixo Rio Madeira, perto da Boca do Jamari. A princípio eles chegaram de… do lago… aí, só um momento… do lago do… ai meu Deus! Eu esqueci o nome do lago agora! Por causa da gravidez, eu acho que foge o nome. Lago do Acará! (risos), meu filho me lembrou. Lago do Acará. E aí no Lago do Acará, minha família subiu o rio até a Boca do Jamari, e da boca do Jamari, ficaram lá. Até hoje a gente mora lá, né. Não na Boca do Jamari, específico, mas alguns metros descendo o rio, que hoje em dia a gente chama de Terra Caída. Então pelo fato da minha família ser dali, a gente nunca deixou essa história, essa memória morrer, desaparecer. Porque quando eu era criança, a minha mãe sempre me falava, minha avó, minha mãe, sempre me falavam de como ela era feliz morar lá. E quando nós tivemos a oportunidade de, ainda criança voltar para Rondônia, no meu caso a primeira vez, foi quando a gente começou a construir todas as memórias que ficavam, não vou dizer apagadas, mas ficavam adormecidas na memória dos meus avós, na memória da minha avó materna, na memória da minha mãe, na memória dos meus tios. E foi assim que a gente começou a reconstruir a nossa história. Porque estava cada um para um lado, por causa da… de buscar uma vida melhor, de buscar coisas melhores. E aí, quando criança eu saí do Estado do Amapá e vim para Rondônia, e aí a gente começou a reconstrução da nossa história. Pegando retalhos por retalhos, igual a Márcia fala.
P/1 - Muito bonito essa história, minha parente! Contaram como foi o dia do seu nascimento?
R - Ah, sim. A minha mãe fala que eu era uma criança muito esperada por todos. E o meu pai pegou e fez uma música para mim, e essa música falava um pouquinho sobre uma índia que descia… que vinha lá da história Inca. E eu vinha com uma cacimba cheia de flores. Então essa memória indígena sempre esteve presente na minha vida. Desde criança o meu pai, mesmo não sabendo muito da história da família dos meus avós, ele sempre teve essa percepção, da forma que nós vivíamos era a forma de ser indígena. E ele sempre falou que eu era a índia dele, a indiazinha dele. Ele falava dessa forma. Só que quando a gente é criança, a gente não consegue identificar uma coisa da outra, a gente só acha que tudo é brincadeira. E hoje eu vejo, puxando sempre nas minhas memórias, eu vejo que toda forma que a gente viveu no Estado Amapá, quando a gente veio para Rondônia novamente, é como se todo aquele modo de ser e aquele modo de viver, fosse de uma comunidade, de pessoas que sempre estiveram ligadas com a floresta. Então hoje eu vejo, assim, que o meu pai e minha mãe sempre me deixaram livres para eu poder construir o meu caminho. E eu procurei fixar memórias. Igual a Márcia sempre fala, porque a Márcia é a minha referência como liderança do nosso povo, do nosso coletivo. Então a gente começou a puxar essas memórias. Então desde criança eu tenho isso comigo, que a gente precisa sempre estar mantendo viva a nossa história.
P/1 - Deixa eu te perguntar, você lembra da música que o teu pai cantava para você?
R - Lembro! Ela falava assim: “Que era uma índia que vinha lá dos Incas e ela vinha trazendo uma cacimba cheia de flores”. E eu desde criança sempre gostei muito de flores. O meu pai fez essa música, eu ainda não tinha nem nascido. Então essa música, hoje em dia, eu vejo que ela retrata muito sobre o que eu sou mesmo. Sobre o que eu venho vivendo, sobre eu gostar de flores, sobre eu tá no movimento. Então eu fico assim, bem feliz dele ter feito essa música pra mim e retratar tudo que eu sou hoje. É como se fosse algo transcendente. Ele não sabia e mesmo assim, ele fez. Não sabia da minha história, de como seria a minha caminhada, o futuro.
P/1 - São os ancestrais aí, dando as suas… seus caminhos…
R - Hum, hum. Deixa eu te falar, meu filho está aqui, mas é que ele está prestando assistência para mim, aí criança gosta de aparecer. Aí ele vai ficar aqui do meu lado em alguns momentos, tá bom?
P/1 - Importante que ele te ajudou a lembrar o nome do lago. Isso quer dizer que ele já está aí também, sendo o guardião de memórias.
R - É, ele desde pequeno tem um amor muito grande! Desde bem pequeno ele tem um amor muito grande pelo Baixo Rio Madeira, pela nossa comunidade. Foi criado lá, assim, só vem para a cidade porque precisa estudar. A gente sabe que a realidade dessas comunidades ribeirinhas, não é muito fácil e aí acaba que vem para a cidade para poder se desenvolver mais, assim, no sentido da escola.
P/1 - Então, mas tu sabe cantar a música?
R - Nesse momento eu não estou conseguindo, assim, lembrar dela. Mas é uma música que quando começa a tocar, eu sempre gosto de cantar junto. Mas assim, acho que seja por causa da gravidez, a memória fica um pouco mais lenta para conseguir processar as coisas.
P/1 - Tudo bem, sem problemas! Outra vez, quando a gente fizer um encontro do coletivo, tu apresenta pra gente.
R - Ah, sim!
P/1 - Qual o nome da tua mãe? Como você a descreveria? Tem como você falar da origem dessa parte da sua família?
R - Então, a minha mãe se chama Shirley. Shirley Iana de Oliveira. E a minha avó, que foi quem me criou, criou tanto a mim, como os meus irmãos, se chama ngela Maria Viana de Oliveira. E foi graças à dona ngela, que a gente conseguiu, hoje, reconstruir todas as memórias que se foram, adormecidas ao longo do tempo. Então a minha referência hoje, além de mãe, como mãe e como referência de memória ancestral, que vem trazendo tudo que a gente não sabia e que ficou sabendo ao longo dos tempos, é da minha vó. Minha vó ngela. E toda história, assim, a história começa assim: minha vó sempre falava… a gente morava no Estado do Amapá, mais especificamente no Distrito do Breu, e há vinte anos atrás, no Estado do Amapá, as coisas eram muito difíceis também. E aí os meus avós, porque sempre fui criada pelos meus avós. Meus avós acharam melhor a gente ir para mais dentro da floresta, isso no Estado do Amapá, morar em um lugar chamado Rio Flexal. E lá no Rio Flexal, foi quando a minha memória começou a compreender mais a forma que nós vivíamos. E a gente começou a buscar. Eu, desde criança, sempre quis saber, sempre gostei muito de história, histórias de vida de família e eu comecei a perguntar para minha vó sobre como era Rondônia. Minha vó fazia quatorze anos que não vinha à Rondônia, a gente era criança. E aí minha vó começava a falar de um tio meu chamado Raimundo Donato, mais conhecido como Dodó. E esse meu tio Dodó morava no meio da floresta, isolado, e para chegar lá era muito longe. E esse meu tio só tinha uma lanterna e nesse período existia muita onça também, então ele conseguia passar pelo meio daquelas onças, passar pelo meio de tudo aquilo na floresta, sem uma arma, sem nada, assim, para se defender. E aí quando eu comecei a ver essas histórias, eu comecei a querer saber mais. Foi quando a minha mãe começou a me contar mais e mais histórias. Só que aquilo ficou tudo guardado, eu era criança, tinha menos de cinco anos, e aquilo ficou guardado na minha mente. Só que eu sempre achei diferente, também, a forma como nós vivíamos no Estado do Amapá. A gente morava totalmente isolados, o meu pai, o meu pai biológico, Antônio Messias, ele tinha condições de nos dar uma vida muito boa, mas ele falou para os nossos avós que queria que a gente fosse criado na floresta, igual ao meu… ele gostava… ele não queria que nós fôssemos criados na cidade, ele sempre quis que nós fôssemos criados na floresta. Então ele nos deu, até enquanto ele esteve vivo, ele nos deu condições de manter todas as dez crianças na floresta. E isso é algo assim, que eu guardo muito na minha memória, porque foi algo bonito. E se eu pudesse, hoje, fazer a mesma coisa pelo meu filho, eu faria também. Eu não queria que ele fosse criado na cidade, eu queria que ele fosse criado também, no meio da natureza. E hoje ele só pode passar as férias, porque na comunidade onde minha família tem a casa, que a família está morando, não tem escola. Então hoje ele passa as férias lá. E aí nesse período da gente estar no Estado do Amapá, criança e tudo mais, foi quando a minha avó começou a contar essas histórias, essas histórias afetivas da família dela e foi quando cada vez mais, eu fui crescendo e querendo entender cada vez mais sobre essa família. Porque meu vô tem cem anos, cem anos ó (risos), tem noventa anos e ele não sabe muito sobre a história dele, ele só sabe que ele nasceu no Estado do Amapá, mas assim, saber a história dele, ele não consegue. Ele fala assim: “Eu nasci… a minha família, foram os primeiros habitantes do Estado do Amapá”. E como só tem ele vivo hoje em dia, a gente tenta buscar essas memórias dele. Mas a gente não consegue ainda, ter algo assim, mais concreto de tudo. Então a minha vó não. A minha vó, por ser um pouco mais nova ela conseguiu transpor… como eu posso falar… transcrever tudo aquilo que ela sabia da história da família dela pra gente, para mim em especial. Então essa história da minha família materna, é algo bem importante para mim, porque foi graças a ela que eu consegui buscar tudo aquilo que estava um dia adormecido. E hoje a gente vem lutando, buscando cada vez mais aprender, para que eu possa passar para a minha filha, que vai nascer, para o meu filho. Então para eles é muito importante. E para todas as outras crianças, gerações que vão chegar. Então a minha história de quando era pequena, tudo começou quando eu estava lá no lago, no Rio Flexal. Foi quando a minha vó, a primeira vez, falou desse meu tio Dodó, que morava isolado no meio da Amazônia. Mesmo a gente morando isolados na Amazônia, eu achei incrível a história do meu tio, foi o que me encantou naquele momento. E eu não tinha a percepção que a gente morava também da mesma forma, no Estado do Amapá.
P/1 - Muito lindo! É muito bom ouvir toda essa narrativa de memória. Todo esse percurso que as famílias indígenas vão fazendo e que a sua família também fez e continua fazendo. Você poderia falar o nome do seu pai? Como você o descreveria? E também se você puder falar da origem da parte da família do seu pai.
R - O meu pai nasceu na Ilha do Marajó. Ele era marajoara. E como a minha mãe saiu também criança de Rondônia, em determinado momento da vida deles, eles se cruzaram. Então o meu pai é da Ilha do Marajó e minha mãe é rondoniense, mas foi para o Estado do Amapá, criança junto com os meus avós, meus avós maternos. E assim, o meu pai, ele era uma pessoa inteligente. Ele era professor da Universidade Federal do Amapá, quando ele faleceu. E ele sempre falou assim, para os meus avós, que ele queria que as filhas dele fossem criadas no meio da floresta e que não queria que a gente começasse a estudar cedo. Também foi uma coisa que ele sempre falou, que queria que a gente fosse criança e que não queria que nós começássemos a estudar cedo, que era muita responsabilidade para uma criança, que a criança deveria brincar e ser feliz no meio da floresta. E ele nos dava… ele nos deu essa oportunidade de sermos criadas no meio da floresta, que foi quando a gente foi lá para o Estado do Amapá… para o Estado do Amapá não, para o Rio Flexal. E assim, ele se chamava Antônio Messias Gonçalves da Silva. A única pessoa que eu tenho, hoje em dia, contato dessa família, são os meus irmãos paternos. Assim, eu não tive muito contato com a família dele, eu era muito criança quando ele acabou falecendo. Então eu não tenho tantas memórias com ele. Mas assim, eu lembro dele fazer essa música para mim, da qual eu falei, de uma índia que vinha com a cacimba cheia de flores. E também desse desejo dele, de querer que nós fôssemos criados no meio da floresta, eu e os meus irmãos. E enquanto ele esteve vivo, ele deu essas condições para os meus avós de manter a gente lá na floresta.
P/1 - Olha só, um encontro aí, marajoara e um encontro Mura. Dois povos que estão aí lutando pela sua existência, existindo e resistindo. Como dizem os Muras do Itaparanã: “É forte!” (risos). Então, você quer falar um pouco mais sobre os seus avós paternos e maternos?
R - Aham. Eu tenho mais memórias dos meus avós maternos, como eu disse. Os meus avós paternos quase eu não tive, porque desde criança, nós nunca moramos na cidade. Nós sempre moramos muito longe e quando a gente vinha na cidade era uma vez por mês só para fazer compras, comprar leite para as crianças, comprar leite. Então esses encontros, eu quase não tive com a minha família paterna, só com os meus avós maternos. E eles são a minha base, minha referência até hoje. Como ser humano, Iana, como indígena. Porque tudo o que eu sei hoje, eu devo a eles. Talvez se eu tivesse sido criada pelos meus avós paternos, talvez hoje essa história não seria tão viva na minha vida e na minha família. Porque teriam outras histórias, outros contatos, com outras pessoas. Então eu devo muito, tudo o que eu sou hoje a essa reconstrução, que graças aos meus avós maternos fizeram comigo. Um outro ponto que eu gosto muito de pensar é sobre o meu vô. O meu vô Valdemir, que é o pai da minha mãe. Ele foi o meu pai, quando o meu pai biológico acabou falecendo. Então o meu vô Valdemir sempre foi uma pessoa assim, no qual eu guardo assim… tenho um carinho tão grande por ele. Às vezes ele fica doente e a gente fica assim… ele já tem noventa anos, ele fala que já está vivendo nos bônus dele. Só que a gente quer que ele permaneça ainda mais aqui na terra, contando as histórias, cursos, saudável. E a gente vê que, muito pelo fato dele ter hoje noventa anos, foi sempre a forma de vida que ele viveu. Não comendo coisas da cidade, sempre se alimentando de peixe, de farinha, de coisas que a floresta nos dá. Então ele nunca se alimentou com refrigerante, essas coisas. Nunca teve na vida dele, no cardápio dele. E eu vejo assim, que todo esse modo de viver que a gente escolheu; viver na floresta, estar junto com as comunidades… então isso fez com que hoje, ele esteja até hoje aqui com a gente, se mantendo firme. E também quando a gente era criança, ele sempre benzia a gente. Mesmo ele não sabendo a história da vida dele, ele sempre teve um negócio de benzer a gente, quando a gente era criança. Às vezes a gente brigava entre nós, os irmãos, e ele de manhã cedo acordava a gente com aquele galhinho de árvore de alguma coisa e saia benzendo todo mundo em casa para parar de brigar. Então, ele fazia... vinha rezando, benzendo, rezando na gente para gente parar de brigar. Então assim, eu tenho muitas memórias com os meus avós. Acho que todas as minhas memórias, sempre, eles estão muito presentes. E eu fico bem feliz, porque foi graças a todas essas memórias que hoje eu posso estar contando a história do nosso povo. Até chegar aqui em Rondônia e poder estar contando a história do nosso povo, da nossa comunidade.
P/1 - Isso mesmo! Essa relação com os mais velhos é muito importante para a gente poder dar continuidade da nossa memória viva. Você falou do contato com os seus irmãos por parte de pai, né? Vocês têm mais irmãos, irmãs? Quantos são? Quantas são? E como é a relação de vocês?
R - Eu tenho bastante irmãos. E cada vez eu me surpreendo porque aparecem mais. A gente fala assim, que meu pai queria povoar a Amazônia. Em cada canto da Amazônia tem um irmão perdido por aí. E no Pará eu tenho três irmãos no Estado do Pará, no Estado do Amapá eu tenho um e aqui no Estado de Rondônia somos quatro. Eu me dou super bem com todos os meus irmãos. Só que como eles são, a maioria, a grande maioria são irmãos por parte de pai, a… como eu posso falar… eles estão em outros caminhos. Já os meus irmãos por parte de mãe, já são os irmãos que estão mais engajados aqui no Estado de Rondônia, onde já estão buscando transcrever todas as memórias, e assim vem dando super certo. __________, como, e o porquê a gente vivia daquela maneira no Estado do Amapá e por que a minha família vivia dessa maneira no Estado de Rondônia, isso desde muito cedo. Então toda essa transcrição da nossa família, da nossa história, começou com o meu tio Dodó que morava na floresta. Então os nossos caminhos, hoje, dos meus irmãos paternos, são bem diferentes dos meus irmãos maternos. A gente sempre está buscando, revivendo, reafirmando essa memória que estava adormecida.
P/1 - Muito bom! Você gostava de ouvir histórias? Quem contava essas histórias para você? Se você gosta de ouvir histórias…
R - Essas histórias, quem me contava sempre foi minha avó materna. Ela sempre… assim, ela parece que, ela tem o dom para tirar peixe, o dom para fazer peixe, o dom para pescar, o dom para plantar. E o meu avô sempre foi uma pessoa muito calma. E assim, as mulheres Mura são mulheres, muito assim, bravas. Elas gostam muito de… não sei nem explicar, mas elas não… quando elas querem alguma coisa elas vão lá e fazem. Aí eu falo assim: ‘‘Mãe, a senhora já não tem mais idade para ficar fazendo essas coisas’’. Que eu chamo meus avós, minha avó e meu avô de pai e mãe. Eu falo assim: ‘‘Mãe, você não tem mais idade para estar fazendo essas coisas’’. Mesmo assim, ela vai lá e faz. Então, essas memórias, todas essas histórias, quem me contou, foi ela. Assim, ela vem me contando, assim, às vezes, também foge da memória dela, por causa da idade. Mas assim que ela lembra de alguma coisa, ela já vem e me conta. E foi dessa forma que eu tive vontade de escrever um pouquinho mais sobre tudo o que ela vinha me contando. Para deixar uma memória viva, além da memória da nossa memória, mas deixar escrito tudo aquilo que ela vinha contando. Então, foi desde o momento que ela me contou sobre esse tio Dodó, que morava na floresta. E a gente morava na floresta, mas eu não tinha percepção que aquela era a forma que também ela viveu quando era criança. E aí foi quando tudo começou a florar, assim na minha mente. Foi quando eu falei assim: ‘‘Um dia eu vou querer escrever sobre isso, um dia eu vou querer falar sobre isso’’. Então todas as histórias, que eu sei, foram passadas pela minha avó. Minha avó Mura, do Baixo Rio Madeira. Só que, acho que talvez, por causa da vergonha, ela saiu muito cedo do Baixo Rio Madeira. Aí ela se casou com o meu avô. E ela e ele, eles vieram morar no estado do Amapá. Então ela preferiu deixar aquelas coisas, assim, apagadas. Ela só se abria, só para a família dela, quando ela estava com os netos. E eu comecei a perceber isso, que era algo assim, que ela não contava para todos. Mas quando estavam as crianças, as crianças, os filhos, ela contava. E eu via assim, que por uma parte, ela queria deixar aquilo apagado. Só que aí chegou o momento que eu falei: ‘‘Não mãe, a gente tem que falar sobre isso, é a nossa história, a gente tem que contar’’. Foi quando assim, ela começou a realmente se abrir. E hoje em dia, ela sente a maior felicidade de contar sobre a história. É como se tivesse, aquela vergonha que ela sentia, ela tivesse passado assim da vida dela, e hoje em dia ela sente a maior... vergonha, não, a maior felicidade, de estar contando isso para as pessoas.
R – É!
P/1 - Ai, não vejo a hora de dar certo a nossa ida lá na comunidade pra gente comer um peixe assado junto.
P/1 – Então, é, você falou bastante da história do seu tio, que a sua avó contou para você. Essa história parece ter marcado bastante. Mas assim, além dessas, ou enfim, quais dessas histórias todas, que sua avó contou, quais delas te marcou mais? Por que? E se você pode contar essas histórias.
R – Uhum. A do meu tio, a princípio, foi a que me marcou mais, porque eu era criança. E é igual eu falei, a princípio, eu não conseguia ver a semelhança que existia entre a história do meu tio e a forma que a gente vivia isolado também. Aí, quando ela me falou a história desse meu tio, eu, desde criança, desde muito pequena, eu falava assim: ‘‘Um dia quero conhecer esse meu tio Dodó. Um dia quero conhecer esse meu tio Dodó’’. E coloquei isso na cabeça, que quando eu viesse em Rondônia, minha vó sempre falava: ‘‘Um dia a gente vai voltar lá para Rondônia’’. E eu sempre achei que Rondônia era minha terra. Assim, é a minha terra hoje. Mas assim, era algo assim, que ela vivia falando: ‘‘Um dia a gente vai voltar para Rondônia’’. E, quando a gente chegou em Rondônia, eu vi que realmente era tudo daquela forma que ela falava. E ela me dizia, ela sempre me falou assim, que era algo muito difícil, você morar ali, onde eles moravam, por mais que eles tinham o peixe, eles tinham a comida ali. Mesmo assim as pessoas passavam muita necessidade, tanto com médico, tanto com outras coisas. Então eles precisavam de uma saúde melhor. E por isso que levou a minha mãe, naquele momento, se casar… minha avó, naquele momento, se casar cedo. É, e aí a minha avó também trazia outras narrativas, outras coisas que ela falava das histórias também, que haviam acontecido naquela época, no Baixo Madeira. Que era, que eu até trago na minha dissertação, que fala sobre: ‘‘O homem que virava Boto’’. Era muito cheio... era cheio de encantos. E hoje ainda continua sendo cheio de encantos para mim. Eram coisas assim, aquelas narrativas. Aí meu tio, uma vez, falou para mim. Meu tio, irmão do tio Dodó. Falou uma vez, para mim, o tio Mundóca - no interior tem muito apelido. O apelido da minha avó era Pretinha, aí tem o meu tio Mundóca, o tio Dodó, e por aí vai -. E o meu tio Mundóca falava assim para mim, que uma vez ele estava pescando, e aí ele ficou brincando com o Boto. Isso, eu já chegando em Rondônia, já comecei a escutar essas narrativas pelos meus tios. E aí ele brincando com o Boto, em certo momento, ele falou assim: ‘‘Vem Boto, vem brincar comigo, não sei o quê’’. Aí o Boto pegou, levantou a canoa dele, aí ele falou que depois daquele dia, ele nunca mais quis brincar com o Boto. Então, o Rio Madeira é cheio de encantos, cheio de mistérios. E aí foi assim que começou a vir essas narrativas, essas histórias para mim. É, eu estava conversando também com uma pessoa da comunidade, onde hoje nós vivemos. Ele falou assim: ‘‘Mas tu acredita nisso?’’. Eu falei: ‘‘Eu acredito’’. ‘‘Ah, mas é porque, a gente conta, o pessoal diz que a gente é doido’’. Eu falo: ‘‘Ah, então me conte aí a história que você quer contar’’. ‘‘Ah, não tem o teu tio Dodó?’’. Aí de novo a história com o tio Dodó. ‘Teu tio Dodó falou assim, que uma vez ele estava andando no escuro, no caminho da casa dele, e apareceu um menino bem branquinho, bem branquinho, igual leite. Aí ele queria passar para a casa dele e o menino não saía do caminho. E esse menino, pegou e, era um menino muito branquinho, aí ele pegou, apagou a lanterna e acendeu a lanterna de novo. Quando ele acendeu a lanterna, o menino tinha sumido do caminho. E aí ele seguiu indo para a casa dele. Em outro momento, o menino apareceu de novo. Parece que o menino era branco, de cabelo branco, branco, de olhos muito claros. E aí ele focou no pé do menino. E no pé do menino, tinha os pés para trás. Aí ele pediu… chega eu me arrepio contando essa história. Aí ele falou assim, que aquele menino era o Curupira. E aí ele pediu licença para deixar ele passar. Então, isso foi uma história que meu tio Dodó contou para esse morador que estava, que pegou e me contou. Hoje em dia meu tio Dodó já precedeu, já está em outro plano, e eu não tive a oportunidade de pegar essas histórias com ele, essas narrativas com ele. Porque, hoje em dia, tudo o que eu escuto já eram coisas que ele falava para outras pessoas. E assim, eu fiquei tão feliz de escutar essa história, porque eram as mesmas histórias que depois a minha avó começou a me contar. Ela começou a se abrir comigo, ela falava, ela fala assim, sempre quando a gente vai no Rio, a gente passa alho na gente para o Boto não querer vir se enxerir para o nosso lado. Então são coisas que hoje assim, me deixam super feliz de saber essas histórias, essas narrativas. E saber que a minha família preserva isso até hoje. Mesmo assim, as pessoas falam… muita gente fala: ‘‘Ah, você acredita nisso?’’. Eu falo: ‘‘Acredito, pode me contar que eu acredito em tudo’’. E realmente eu acredito, são coisas que tão ligadas à natureza, a floresta. E é difícil da gente não acreditar, a gente, muitas das vezes, vendo aquilo e realmente acontecendo. Às vezes a gente tá pescando, e a minha mãe, quando os botos estão muito perto, joga um dente de alho no rio e os botos se afastam. Não é coisa da nossa cabeça, a gente vê que realmente essas coisas acontecem.
P/1 - Essas narrativas fazem parte da nossa constituição, da nossa forma de ser. E você falou da sua dissertação, você quer falar um pouco mais sobre ela, qual é o título, o tema, a dissertação, fala, se quiser falar mais um pouquinho dela, fica à vontade.
R - É, tudo começou quando eu, dentro da universidade, já sabia quem eu era, de onde que eu vinha, para onde que eu ia, o que eu queria fazer. E aí chegou o momento da minha vida que eu falei assim: ‘‘Eu quero escrever, quero aproveitar a oportunidade, que eu tô dentro de uma Universidade Federal e quero aproveitar essa oportunidade de escrever sobre tudo aquilo que eu sempre escutei durante a minha infância. Durante a minha infância, minha adolescência, que eu escutei dos meus tios, da minha avó, do meu avô, todas aquelas pessoas que estavam perto de mim naquele momento’’. E aí foi quando eu fiz o processo seletivo na Universidade Federal de Rondônia e consegui entrar no mestrado. E aí a princípio a gente fica um pouco perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, como ir. E eu tive a oportunidade de poder escrever sobre a minha família. E também a Márcia me auxiliou muito, ela me, né, porque você tem a base, mas você não sabe o que fazer. E em vários momentos, a Márcia sempre esteve muito presente na minha dissertação, e como se faz presente também. E foi muito importante, eu vejo assim, que eu, por eu ser a primeira da minha família inteira a ter um curso de pós-graduação, falando sobre a nossa história, é algo muito importante. E eu fico bem feliz, assim, de estar podendo realizar os sonhos dos meus avós. Eles sempre acreditaram em mim, mais do que qualquer pessoa, nem eu acreditava tanto em mim. E eles falavam: ‘‘Não, minha filha, você vai, você vai conseguir. Você já conseguiu’’. Sempre palavras muito positivas. E eu não acreditava que eu conseguiria, e eles me deram a maior força do mundo. Aí foi quando eu comecei a botar no papel tudo aquilo que eu escutava dos meus avós, dos meus tios. E hoje tá aí, guardado, tá eternizado, tanto para a minha geração, quanto para as próximas. Servir como base para outros trabalhos, também. E a minha dissertação se chama: ‘‘Narrativas do povo Mura no Baixo Rio Madeira’’. Porque hoje, isso é bem importante para todos nós, tanto para a minha geração, que é a geração que está hoje estudando, como para as futuras, que vai ser meu filho e minha filha, os meus netos e todas aquelas crianças que precisam desse aporte, de saber que no Rio Madeira existia uma comunidade, existiam pessoas, existiam várias pessoas que se autodeclararam, ou que se… estão se reconhecendo como povo Mura, e como outros povos também. Porque no Rio Madeira não tem só os povos Mura, tem outros povos também.
P/1 - Sim. Que existiam e existem, e a nossa luta para que continue existindo e resistindo. É, quais as funções culturais e institucionais da tua família? É, assim, na tua família, tem essa divisão, uma divisão de funções? Alguém assume os papéis culturais e institucionais? Tem como você falar um pouco sobre isso?
R - O único papel, assim, que a gente sempre teve na nossa família, foi de repassar a memória, memória que eu tive dos meus avós, que hoje eu transcrevo, memórias que eu acho que futuramente meu filho pode transcrever, porque eu acho que ele tem essa vivência também. E assim, nós, hoje, somos um coletivo, hoje a gente participa de um coletivo. Então, tudo é formado através desse coletivo. É sobre o coletivo Mura. Então, esses papéis institucionais, a gente deixa com o coletivo, que ele procura nos auxiliar de alguma forma, ao invés de direta e indireta, essa parte institucional e cultural também.
P/1 - É, então, nesse papel de transmissão da memória, passada de geração para geração, é um papel só dos mais velhos ou também é um papel de algumas pessoas específicas da sua família?
R - Eu vejo hoje, assim, que eu já aprendi um tanto de coisa e eu posso hoje em dia estar repassando para as crianças que vem chegando, para os meus sobrinhos… pros meus… para minha filha que está na barriga. Então, assim, muitas coisas que eu aprendi com meus avós, que eu vejo assim, que a minha mãe está voltando a aprender, né, a minha mãe. Eu vejo, assim, que hoje em dia está passando. Porque a gente sempre fala em manter a memória viva, em manter a memória, não deixar essas histórias morrerem junto com as pessoas. Igual meu tio Dodó. Eu queria ter, assim, a condição naquele momento, queria ter o conhecimento que hoje eu tenho, para poder transcrever tudo que ele falava. Você, por falta de conhecimento, acabou deixando aquela vida cheia de histórias, aquela memória cheia de coisas que poderiam fazer muito bem para o nosso resgate, acabou morrendo junto com o meu tio. Então, hoje em dia tudo que eu escuto, eu escuto de outras pessoas que ele contou. Mas eu poderia ter escutado. Só que naquele momento, eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. E eu vejo, assim, que isso acontece com muitos outros povos. Deixam os anciões morrerem, e acabam perdendo um pouquinho da história, um pouquinho de tudo aquilo que poderia estar escrito, gravado.
P/1 - Muito bem então. Você acha, assim, que você, por exemplo, ocupa um lugar em que você está sendo a pessoas que recebe esse conhecimento de forma tradicional, e também tem um papel institucional, enquanto alguém que entrou dentro do espaço acadêmico, e está levando para esse espaço uma memória da sua família, e também colaborando para demarcar com essas memórias, esse território Mura, no Baixo Rio Madeira.
R - Eu vejo assim, que hoje eu venho tendo esse papel, né. Mas é um papel que eu quero que futuramente o meu filho faça, a minha filha faça, meus sobrinhos façam, os meus irmãos também façam. Porque é tudo muito difícil, a gente tem que ter muita coragem, muita força de vontade, para estar lutando, para estar à frente de todas essas coisas que acontecem. Então, eu vejo que hoje, assim, eu tive a oportunidade de estudar, de ser a primeira neta a se formar, de ser a primeira filha da minha mãe a se formar. Então, por eu ter tido, ter chegado primeiro. Não por uma condição, por força de vontade mesmo. De querer escrever, de querer deixar gravado, de querer fazer história, assim, da minha família mesmo. E, assim, eu vejo assim, que esse papel tem que ser meu até um certo ponto. Mas eu quero passar para que outras gerações... a minha irmã, por exemplo, ela faz Engenharia Ambiental na UNI, na UNI de Paraná, aqui no estado de Rondônia. E eu vejo, assim, o quanto ela quer preservar e o quanto ela quer fazer projeto para auxiliar as comunidades. As comunidades tradicionais, as comunidades indígenas. Então, eu vejo que ela está buscando hoje, de alguma forma, poder auxiliar a gente no futuro. E a minha irmã também, estudando enfermagem. Então depois que eu entrei na universidade, os meus irmãos também conseguiram entrar. Hoje eles ainda estão se graduando. Mas eu vejo assim, que eles estão fazendo tudo isso também para poder auxiliar, para poder de alguma forma estar auxiliando a gente, nossa comunidade. É uma forma também de demarcar lugar, que é super importante.
P/1 – Sim. Iana, voltando um pouco, novamente pra sua infância. O que mais você gostava de fazer quando era criança?
R – Ah, a gente tinha uma anta. Uma anta, quando a gente era criança, e o nome dele era Iago. E a gente gostava muito de tomar banho de rio com essa anta, era nosso bichinho de estimação. Isso lá no estado do Amapá, no rio Flexal. Então, eu tenho uma memória também muito viva dele. Dele, da gente indo para o meio do rio, ele buscando a gente do meio do rio, e colocando a gente na beirada. Era tipo nosso salva-vidas. E aí a gente... então essa memória também é muito viva na minha vida. Desse animal de estimação que a gente tinha. Nada comparado aos animais de estimação que as pessoas têm na cidade. Mas eu me lembro muito bem do Iago. O Iago foi muito importante para minha família, para minha construção como criança. As pessoas diziam: ‘‘Você não tem medo, não, de andar com essa anta?’’. Porque não era um animal tão pequeno, um bichinho tão pequeno. Então o Iago foi muito importante. E as pessoas, eu lembro assim, que as pessoas comiam carne de anta. E minha família nunca aceitou comer carne de anta, essas coisas, carne de macaco. Justamente pelo fato de a gente ter um animal de estimação como o Iago. Então, tiveram coisas, assim, que ficou gravado na nossa memória, e de não comer Anta, nunca, por causa do Iago. Mesmo sendo um alimento tradicional de muitos povos, até da gente mesmo, da nossa comunidade. Mas, anta, não. Anta lembra sempre o Iago. E também a gente sempre gostou muito de pescar. Sempre pescamos muito. Minha avó sempre ensinou a gente pescar, à tica peixe, essas coisas. Então, essas memórias da minha infância são super importantes hoje para minha construção. E hoje o meu filho gosta muito de pescar também. Então a gente fala que ele puxou também para minha avó, nesse negócio de pescar, de querer estar na beira do rio, de estar plantando, de estar colhendo, de tomar banho de chuva. Coisas, assim, que a gente na cidade, quase a gente não vê as crianças fazendo. E no interior as crianças são livres para serem felizes do jeito que quiserem.
P/1 - Tinha alguma brincadeira específica, além dessa relação com o Iago, que já é muito especial. Mas tinha alguma brincadeira, alguma outra brincadeira, assim, especifica que você gostava muito de brincar? E quais eram essas brincadeiras?
R - Assim, existiam duas coisas que a gente gostava muito, que a gente não perdia a oportunidade. Que era tomar banho de chuva, que até hoje a gente vê o banho de chuva como algo restaurador. Igual as pessoas falam assim: ‘‘Ah, criança vai tomar banho de chuva, vai ficar mais gripado’’. Pra gente, não. A criança toma banho de chuva, ela vai se sarar daquela gripe. Então, o banho de chuva sempre foi algo muito importante pra gente. Tanto faz estar gripado, com tosse, tanto faz. Sempre as crianças vão tomar banho de chuva. E eu me lembro da gente tomar muito banho de chuva, e de pescar também. Então, eram as coisas assim, que a gente mais gostava, tanto eu como meus irmãos, e meu filho hoje. São coisas, assim, que a gente faz tendo oportunidade, a gente faz. Pescar e tomar banho de chuva. Acho que essas são as melhores brincadeiras que existem, para mim.
P/1 - Legal. Você lembra da casa onde você passou sua infância? Como era essa casa? Você poderia falar um pouco dessa casa e do lugar onde ficava essa casa?
R - A minha casa, da minha primeira infância, que foi dos meus três até oito anos. Ela era uma casa na beira do rio Flexal, no estado do Amapá. E ela não tinha paredes, ela era só coberta. E a gente morava em cima de uma pedra. Então, isso assim, são coisas, assim, tão importantes, que eu fico o tempo todo puxando na minha memória, para que eu nunca esqueça isso. E um dia desses eu até perguntei para minha avó, falei assim: ‘‘Mãe, por quê nossa casa não tinha parede?’’. Aí ela não soube me explicar porque a casa não tinha parede. Mas, assim, ela era coberta. Mas, assim, o que me deixa muito feliz… a gente não via problema nenhum nessa casa não ter parede. Eu me perguntei depois de grande, por quê essa minha casa não tinha parede. Tinha apenas as, como que eu posso falar, tinha apenas a amarração da casa, e era coberta por palha, e era em cima de uma pedra, na beira do rio. Que já é justamente para ficar mais próximo de onde a gente tirava o alimento, que era o peixe. E aí nossa outra casa, que já é aqui em Rondônia, claro. Que a nossa casa, no caso, é na comunidade. É uma casa… para mim é a casa mais linda que tem na comunidade. É uma casa, assim, também que é feita de palha, de madeira. Não existem quartos nessa casa. Ela é uma casa que é uma sala só. Uma sala, então todo mundo dorme nessa sala. Quem não quiser dormir na sala pode dormir na varanda. Então, todo mundo unido naquela casa. E não existe parede, assim, para falar: ‘‘Aqui é quarto de fulano, aqui é quarto de ciclano’’. Não. Todo mundo dorme naquele quadrado ali e todo mundo é muito feliz naquela casa. Então, são duas casas, assim, que são casas muito importantes na minha memória.
P/1 - E aí, você pode falar um pouco, assim, dessa transição de deslocamentos, de moradias, entre o espaço da floresta e das águas, e a cidade?
R - A gente vive na cidade por uma questão de sobrevivência também, eu posso falar. É uma sobrevivência de querer estudar, uma sobrevivência de querer colocar os nossos filhos para estudar. Então, acaba que na comunidade, nas comunidades… a gente saiu do estado Amapá, além da minha avó querer muito ver os pais delas, a mãe dela. E querer voltar para Baixo Rio Madeira. Também foi por uma questão de querer colocar a gente para estudar. Meus avós sempre falaram assim: ‘‘Quer mudar a situação da nossa vida? É só estudando. Porque meus filhos não vão roubar, meus filhos não vão matar. Então é estudando. Essa é a melhor forma para vocês mudarem de vida’’. Então, eles saíram do estado Amapá por duas causas. A primeira, para buscar uma vida melhor, assim, uma vida de estudo. E a segunda, para minha avó ver a família dela que estava em Rondônia. Então, hoje em dia, a gente tem a casa na cidade, por uma questão de… aqui em Rondônia, por uma questão de estudar. Meu avô também já tem noventa anos, e como na comunidade não tem um hospital, não tem um médico, ali só tem enfermeiro. E é muito longe o deslocamento, às vezes, de barco é cinco horas. De barco. E a gente quer muito que ele fique muitos anos ainda aqui com a gente. E a gente vê que esses exames, exames caros, vários exames, remédios, a gente só consegue na cidade. E aí a gente sempre espera ele ficar bem fortinho para poder subir depois o barranco. Então, a gente deu esse ano. Esse foi o primeiro ano que a gente ficou quase um ano sem ir lá, no Baixo Madeira. Porque meu avô ficou doente e eu acabei ficando grávida, uma gravidez de alto risco. Então aí a gente resolveu não, assim, se arriscar. Subir o barranco que está muito alto, que está desmoronando o tempo todo. E aí meu avô, também pelo fato dele ter ficado doente, então a gente achou melhor esse ano dar uma parada. Assim, não uma parada, assim, minha avó já foi lá, já foi pescar, já trouxe banana, já trouxe peixe. Mas, nesse período, a gente achou melhor o meu avô ficar na cidade. Até ele ficar um pouquinho mais forte, para poder voltar a subir o barranco, a escada, que as escadas do Rio Madeira, ali, não são fáceis, não. Tem que ter fôlego para subir o barranco e a escada. E ele consegue subir, eu acho bom isso.
P/1 - É isso aí. Dos lugares na cidade que vocês já moraram e moram ainda, quais foram os bairros que vocês já moraram? E qual o bairro que vocês moram hoje?
R - A gente, quando a gente veio do estado Amapá. A gente veio morar no município de Candeias [do Jamari]. E aí, desde então, a gente nunca saiu do Candeias. Já tem vinte anos que a gente tem uma casa lá. E, assim, eu fico bem feliz de saber que lá no Candeias também moram outros Muras. Eu achei incrível essa conexão que teve. Então a gente nunca saiu do nosso local, que é desde quando a gente chegou. Assim, a gente veio, e aí a gente foi pro Baixo Rio Madeira, depois voltou, e a gente tem a casa como ponto de referência para vir ao médico, para estudar. Então a gente sempre teve Candeias com referência, que é o município a vinte quilômetros de distância de Porto Velho. Então sempre moramos em Candeias.
P/1 - É, tem a minha família que mora lá também, no Mura. Deixa eu te perguntar agora. Tu falou sobre a comunidade. Você pode falar um pouco sobre essa comunidade? Por quê vocês estão morando lá agora? Um pouco do contexto deste local.
R - A nossa família morava do outro lado do rio. A comunidade fica numa margem, e as nossas casas ficavam na outra margem. E a gente sempre morou lá. Só que com a enchente de 2014, a gente acabou perdendo as coisas que tinha. Não só a gente, como muitas pessoas que moram às margens do Rio Madeira. E aí, inclusive, esse meu tio acabou falecendo, depois… que esse meu tio Dodó, que eu sempre falo. Ele acabou falecendo depois que veio a enchente, que ele ficou muito triste. Assim, eu vejo assim, que também foi muita tristeza de ter perdido. Porque, imagina, você morar isolado, afastado, e de uma hora para outra você perde a sua casa. E aí foi na enchente de 2014 que a nossa vida mudou. E aí todo mundo passou para a parte alta. Considerada parte alta, que é na outra margem do rio. Então, a gente pegou, foi para lá. Tenho um tio que até hoje nunca construiu uma casa lá. Porque ele não sente ainda que lá é o lugar dele, o pertencimento dele. Ele não sente que lá é o lugar dele. Mas ele sente que do outro lado do rio, onde alagou, que lá é o lugar dele. Então existe ainda muito desses conflitos. O outro lado da margem é usado mais para plantação de banana, de macaxeira. E a outra margem já mais para onde estão as casas. E aí essa comunidade se formou por causa disso. Veio outras comunidades também. Como lá é uma parte muito alta, chamada de Cavalcante, aí as pessoas fizeram suas casas lá. Mas eu vejo assim, muito foi pela questão da necessidade da enchente de 2014, que até então todo mundo tinha suas casas centenárias ali na margem do Rio Madeira. A minha família, por exemplo, já morava ali, naquela margem ali, há mais de oitenta anos, noventa anos. Os meus bisavós, quando chegaram do lago do Acará, se instalaram ali e desde ali ficaram. Isso há muitos anos atrás. São comunidades centenárias que foram atingidas com a enchente.
P/1 - É. Você pode falar um pouco do que gerou tudo isso em 2014?
R - A gente crê, e a gente tem um pouco mais de certeza, que foram as usinas hidrelétricas que foram instaladas ali na cabeceira de Santo Antônio, da cachoeira de Santo Antônio, que acabou fazendo com que essas comunidades fossem atingidas com a enchente de 2014. Uma enchente nunca vista anteriormente. Porque enchia o rio, mas não enchia daquela mesma forma, para sair levando casas, levando histórias, levando memórias, nunca vi acontecer daquela forma. E eu vejo assim, que isso não levou apenas as casas que estavam ali. As casas muitas das vezes até com mais de cinquenta anos. Aquelas casas lindas, cheias de memórias. E a gente vê que foram também pessoas, porque muitas pessoas morreram de tristeza, pela enchente, e muitas memórias se foram também.
P/1 - Sim. O maior patrimônio que nós perdemos, uma grande parte foi a parte de memória, mas seguimos na resistência. Vamos lá, seguindo aqui no roteiro. Nessa transição de deslocamento de espaços entre as florestas, águas, e cidades, vocês ouviam músicas, assistiam TV? Como era?
R - Nós não assistíamos muita TV, porque tanto no estado Amapá, como no estado de Rondônia, quando vem de transição de rio entre rio, né. Na comunidade onde a gente vive hoje não tem energia elétrica, a energia elétrica lá é através de gerador de energia. E a comunidade, quando a gente morava no estado do Amapá, lá também não existia energia elétrica. Então o contato que nós viemos ter com televisão, eu já tinha uns oito ou nove anos, quando eu ia assistir na casa de uma vizinha, que era só à noite. E aí a minha mãe, às vezes, deixava a gente assistir TV. E depois, agora adulto, aí a gente já tem TV em casa. Mas, assim, não existia nesse período de transição, de Amapá para Rondônia, não existia. E músicas mesmo, a gente também não… não existia também pra gente essas coisas. Então, por isso que muitas das vezes, a gente chega em uma universidade, num outro contexto, que é a cidade, a gente acaba se sentindo, como eu posso falar… a gente acaba se sentindo perdido. Assim como outras pessoas também quando vem, né. Agora, não. Agora, depois de adulto, a gente já tem contato com o celular, com o computador, com a TV. Mas, assim, durante a minha infância eu não tive muito contato com TV ́s, com o mundo externo.
P/1 - E tem alguma música que você ouvia quando era criança? Você pode cantar?
R - Tem, sim. Só que agora, igual eu estou te falando, muitas coisas estão fugindo da memória. Acho que é por causa da gravidez, falta oxigenação no cérebro. Mas a minha mãe sempre cantava música, sempre contou muita história. Muita história. Mais histórias do que músicas. Histórias que ela escutava, que são essas narrativas, né. Então essas narrativas que eram nossas histórias de criança.
P/1 - Sim. Tem alguma comida da infância que te marcou?
R - Sempre foi o açaí. O açaí sempre foi algo muito presente na nossa vida, e o peixe. Açaí e peixe são as duas comidas que para mim são as minhas preferidas, até hoje. Peixe frito, peixe assado, peixe cozido. E aquele peixe que a gente prepara na beira do rio, que é só na água e sal, para mim, aquele peixe, é o peixe que tem o sabor mais gostoso do mundo.
P/1 - Isso faz muita parte, faz parte da nossa cultura. Pescar no lago e comer peixe ali, na beira do lago.
R - Muita das vezes, a gente não está na beira do rio, a gente quer comer peixe com limão, porque ele tem o pitiú, alguma coisa assim, né. Mas o peixe que ele é pescado e já cozido ou assado é pego na hora. Está cozido ou assado, ele não tem aquele cheiro, aquele pitiú.
P/1 - É, deixa eu te perguntar aqui. Você já, na sua própria narrativa… você já trouxe presente essa preparação que você… na cultura da sua família, que faz parte do povo Mura. Uma preparação para assumir essa função de guardiã também da memória e estar passando essa memória. Mas você entende que você tem essa função? Tem outras pré funções que você foi preparada pela sua família para assumir? E se ‘‘sim’’, era realmente o que você queria, ou você tinha outro desejo?
R - Eu vejo assim, que eu fico bem feliz de poder estar escrevendo sobre a história da minha família, de poder estar sendo a transmissora de tudo isso. Então, eu vejo assim, que eu fui preparada realmente para isso. Os meus avós sempre falaram que a gente tinha que estudar, se a gente quisesse ser alguma coisa era na base do estudo. Então, eu vejo que de tanto eles falarem isso, acabou que eu internalizei isso para mim: Eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que abrir portas para que outras pessoas também possam fazer isso da minha família. Então, hoje, eu fico bem feliz de ver que os meus irmãos mais novos que eu estão estudando também. E eu sempre falo pro meu filho: ‘‘Meu filho, você tem que estudar também’’. Então a gente vê, assim, que o estudo é muito importante na nossa vida. Não é que o estudo é para se engrandecer. Para falar: ‘‘Ah…’’. Ninguém nunca me viu falando assim: ‘‘Eu sou mestre em Letras’’. Eu tenho vergonha, às vezes, de falar isso. Mesmo sendo algo que eu batalhei muito para conseguir. Mas, assim, eu não uso esse meu estudo como grandeza, para querer humilhar outras pessoas, não. Uso esse estudo como forma de querer guardar… de querer, algum momento que for necessário, para poder apresentar aquilo que eu sei.
P/1 - Muito bem. A gente vai fazer um bloco de questões agora, de perguntas que… são perguntas que você pode responder conforme for o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência. Considerando esse deslocamento entre espaços de florestas, rios e cidades. Aí eu te pergunto: os lugares que você estudou, as diferenças dessas escolas, dependendo do espaço e do lugar que você estudou. Qual a lembrança que você tem dessas escolas? E aí, pedir pra você contar uma história que te marcou nas escolas em que você passou. E como você fazia para ir até as escolas? Quais foram as pessoas mais marcantes da sua vida escolar? Você teve algum professor, alguma amizade marcante? E se você tinha, ou tem alguma matéria de preferência. Se precisar relembrar alguma pergunta é só dizer, tá?!
R - Tá. A minha infância foi, primeiramente, escola de muito feriado. Onde a gente ia estudar aquele monte de criança, de várias séries diferentes, numa mesma sala. Então minha primeira infância foi dessa forma, até o quarto Ano. Tanto lá no estado Amapá, a gente era muito criança, mas como também aqui no estado de Rondônia, foi dessa forma. E quando eu cheguei a ir pra quinta Série do ensino médio, eu andava dez quilômetros todo dia, porque o ônibus não chegava na linha onde eu morava. Porque a gente, antes de fazer essa transição e de também vir pra cidade, a gente morou num sítio da minha bisavó. E aí esse ônibus não chegava na… para chegar no Candez, eu tinha que andar dez quilômetros todo dia para pegar o ônibus na outra linha, que não entrava na nossa linha, porque era muito barro, muita coisa. E muitas das vezes a lama batia na nossa cintura. E aí o que me marcou não foi tanto esse projeto, o que me marcou foi a pessoa que deixava… quando a gente saía de casa e quando a gente chegava nesse local que era pra pegar o ônibus, o dono da casa deixava a gente lavar nossas pernas lá, pra gente não ir com a perna toda suja de lama. Então isso foi algo assim, que me marcou muito, foi essa gentileza dele. Dele deixar a gente se limpar lá na varanda dele, lá, pra poder ir pra escola. Então isso daí foi algo que ficou muito marcado na minha vida, essa gentileza dessa pessoa. Eu não me recordo o nome, porque eu era muito criança. Aí depois a gente estava no ensino fundamental e o médio, eu fiz na mesma escola, lá no Candez. E depois eu entrei na universidade, que aí também já foi uma luta, né. Porque os meus avós, por eles, a gente morava o tempo todo num barraco de madeira. Só que não tinha como, porque a gente precisava estudar. Então era muito sofrido. A gente sabe que a vida das crianças ribeirinhas que querem estudar não é fácil, é muita luta, é muita coisa. E aí meus avós, parece que eles sabiam, eles apostaram tanto em mim, assim, que eu ia dar certo, que eu vinha de dar certo nos estudos. Que tudo que eles podiam fazer para poder me manter na escola, eles faziam, não financeiramente, mas com apoio moral. ‘‘Você vai conseguir, minha filha. Eu estou aqui para te apoiar’’. Aí durante esse período eu acabei engravidando do meu filho mais velho, que tem nove anos hoje. E aí em nenhum momento eles falaram assim: ‘‘Ah, você vai embora de casa’’. Não. Eles pegaram meu filho, que é bisneto deles, pegaram meu filho e começaram a criar para que eu pudesse continuar estudando. Então eles sempre apostaram muito nessa minha vontade de querer estudar. E hoje eu sou bem grata a eles também por causa disso. Porque essa não é a realidade de muitas meninas. Eu vejo, assim, que muitas meninas que ficam grávidas, o pai geralmente quer mandar embora, quer que vá se casar logo, quer que a menina vá com seu marido. E não, eles: ‘‘Pode estudar que eu cuido do seu filho’’. E assim fui seguindo, até que eu entrei na faculdade. E aí na faculdade, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu não conseguia cumprir os horários. E não era uma questão de eu não conseguir cumprir os horários, era uma questão de depender de ônibus, porque saía de um município para outro. Às vezes, você passava mais tempo dentro do ônibus do que dentro da faculdade. Então eu lembro que essa fase, foi uma fase muito ruim, e os professores não conseguiam compreender isso. E aí depois foi formado um coletivo dentro da universidade com os stands indígenas, aí foi quando… assim, muita coisa começou a mudar, eu não sei, parece que deu mais força de vontade, de querer estar na universidade e de não querer sair de lá. Porque também foi através do coletivo indígena que a professora Gisely Sucupira, acabou formando, criando lá, aquela união entre todos os alunos indígenas, que a gente acabou, sei lá, se unindo mais, cada vez mais. E aquilo deu força para continuar e não desistir no meio do caminho. E aí eu terminei a minha graduação, e durante o mestrado eu tive um grande amigo, que foi o Pandrã, ele acabou me conhecendo no meio daquele curso. E o Pandrã foi muito importante para mim, muito importante mesmo, porque era eu e ele dentro da sala, e a gente era muito amigo, eu não sei nem explicar da onde foi que apareceu aquela amizade. Então foi muito importante também a presença dele. E eu vejo, assim, o quanto tudo mudou, desde o momento que ele chegou, e desde o momento que ele partiu. Foi algo, assim, muito importante na minha vida. E foi um momento difícil também. E hoje em dia a irmã dele ganhou bebê recentemente, o Pandrãzinho. E eu falei para ela: ‘‘Logo, logo, o Pandrãzinho e a Aurora vão se encontrar’’. Porque parece que é algo, assim, eu não sei nem explicar como é que é, mas é algo muito bonito, com tudo que está acontecendo. E professores, assim, eu tive uma professora muito boa, que foi a professora Heloísa Helena, que acreditou em mim. Tiveram professores que desacreditaram em mim de várias formas, mas tiveram professores que sempre acreditaram em mim. E, inclusive, durante a minha dissertação, foi o professor João Carlos que acreditou muito em mim, no meu potencial, me auxiliou bastante com o conhecimento dele. E durante a graduação foi a professora Heloisa Helena. E amizades, eu formei bastantes amizades, mas eu vejo que a mais importante de todas foi a do Pandrã, que me fortaleceu dentro do mestrado. E eu tive professores que falavam assim: ‘‘Essa daí não vai conseguir ir pra lugar nenhum’’. E aí hoje eu fico feliz de ter conseguido, não ter escutado o que eles falavam e ter conseguido vencer tudo aquilo. Que eles desacreditam muito, você sendo mulher, você se… falando que você é indígena, eles acham assim: ‘‘Ah, essa daí não vai pra lugar nenhum, não’’. Graças a Deus, graças a Nãmatuiquim… você pode falar… ‘Nãmatuiquim, que pegou e falou assim: “Não, você vai conseguir, você não vai desistir agora, não”.
P/1 - Ai, eu fiquei até emocionada aqui com a sua fala do Pandrã. E eu acho que até merece também você falar um pouco mais, situar quem é ele, o que levou ele a fazer a passagem dele de forma… acredito, antes do tempo, não sei. Mas, enfim, se tu quiser falar um pouquinho mais dele, fica à vontade.
R - O Pandrã foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ele chegou, ele é do povo Oromo e Kanoê. A mãe dele é Kanoê e o pai dele é Oromo. E ele chegou perdido igual eu, assim, igual eu quando cheguei na universidade. Só que ele sempre teve muita vontade de escrever sobre a família dele, sobre os avós dele, sobre a história da mãe dele, sobre a história do pai dele. E era exatamente isso que eu queria fazer. Então nossos pensamentos acabaram se cruzando. E eu falava assim para ele: ‘‘Então a gente aqui é dupla, viu. Ninguém forma dupla com a gente, não’’. E a gente seguiu isso até o momento de ele partir. E ele acabou sendo contaminado com Covid-19, pela segunda vez, e acabou não resistindo. Mas, assim, eu sinto a presença dele sempre. Às vezes eu olho assim uma pessoa parecida com ele e vejo que ele sempre está presente em nossas vidas. E ele era uma pessoa muito boa, tinha muita vontade de estudar. E acabou que a Covid-19, tirou isso dele, acabou levando ele muito cedo. E hoje em dia eu tento manter contato com a mãe dele, com a Rosa Kanoê… com a Maria Eva Kanoê, quer dizer. E eu tento manter contato com a irmã dele. E eu sempre fico tentando manter contato com essas pessoas, porque traz a memória afetiva dele.
P/1 - Pandrã foi um grande guerreiro e deixou muita coisa aí pra gente ter como referência. É, vamos seguindo em frente. E é por todos eles, por todas elas que se foram, que a gente continua lutando. E agora eu queria conversar um pouco contigo sobre a sua mocidade. Queria saber, dentro do seu contexto cultural mesmo, dentro da forma como você foi criada pela sua família, como foi essa formação que você recebeu, após sair da fase de criança e antes de se tornar adulta? Se tinha alguns procedimentos específicos da sua família para marcar essas passagens? E a partir de quando, de qual momento, de qual idade, dentro da sua família, uma criança, um adolescente, um jovem, passa um ou uma, jovem, passa a ser considerada como uma pessoa adulta? Quando isso começa?
R - A gente sempre… a minha mãe sempre ensinou a gente a ser muito responsável. Então a minha mãe falou que eu sempre fui adulta, desde criança. Porque eu sempre tive muita responsabilidade com tudo, tanto com a minha família mesmo, e tanto com as pessoas que estão à minha volta. E aí essa passagem de criança para adulto, foi uma passagem, assim, quando a gente completa realmente a maioridade. Porque aí as responsabilidades não são as mesmas de criança. Então, a gente segue essa cronologia mesmo, de quando você completar dezoito anos, você se torna uma pessoa responsável por si. Porque até então, a minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, até hoje nunca deixa. Mas, assim, a gente vê que sempre, desde muito pequena, ela deu muitas responsabilidades pra gente para que quando a gente crescesse, a gente pudesse ter essa responsabilidade também. Então eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada, de nada assim, sempre fez as coisas com muito amor e ela ensinou a gente a fazer tudo da mesma forma também. Sempre colocando o amor em primeiro lugar, o afeto, o carinho. Então, esse negócio dela nos ensinar a pescar, ela nunca, depois que a gente cresceu, ela nunca mandou: ‘‘Vai pescar’’. Não. Então as responsabilidades sempre a gente teve. Vai passando, a gente vai criando responsabilidade. E essa responsabilidade principalmente com os estudos. Começou a fazer uma coisa, termina, nunca deixa pela metade. Começou a fazer tal coisa, uma coisa de casa, tem que terminar, não deixar pela metade. Então sempre foi, quando a gente iniciava alguma coisa, tinha que terminar. E assim a gente leva para vida mesmo. Até hoje, sempre tendo responsabilidade com as coisas. E as responsabilidades, a gente só aprende errando. Então nem sempre a gente acertava de primeira. Mas ela sempre teve muita paciência com a gente, em relação a ensinar. Então eu sempre fui criada num lar com muito amor, muito amor mesmo.
P/1 - Iana, mesmo que a gente siga essa cronologia, que é uma cronologia que vem da nossa relação com a sociedade não-indígena. Muitas vezes fica algumas coisas que vão marcando essa mudança de fase das nossas vidas, principalmente nós, que fomos criadas pelas avós. Eu também fui criada pela minha avó. Assim, nesse processo de formação tua, enquanto mulher, teve algum momento dessa formação que teve algum procedimento específico da sua avó com você?
R - Assim, eu nunca vi diferença do tratamento de quando eu era criança para adulto. Então eu acho que isso é uma coisa dela. Dela sempre ensinar a gente com muito amor. Então da mesma forma que ela me tratava quando criança, ela me trata hoje depois de adulto. Então, eu vejo assim, que a forma que ela… não sei se foi a forma que ela foi criada ou se ela não foi criada dessa forma. Porque, às vezes, a pessoa quando não tem muito amor quando é criança, ela quer dar amor pros filhos. Então, às vezes, eu me pergunto sobre isso. Ela diz que a avó dela, a minha bisavó… minha tataravó, quer dizer, ela era uma pessoa muito boa com ela, uma pessoa muito amorosa. Já a mãe dela não era tão amorosa, que abandonou ela quando ela era criança, deixou ela com a tataravó. Então eu vejo que durante esse período de abandono e tudo mais, ela acabou sempre sendo uma pessoa muito afetuosa. Então, esse afeto, eu vejo que é uma coisa dela. Esse afeto é algo que ela traz com ela. E é da mesma forma que hoje eu tento criar os meus filhos. Meu filho. Sempre com muito afeto. Assim, eu vejo que o afeto é uma coisa que marca muito a minha vida, de mãe, de pai, de avós. Eu não tive tanto contato com a minha mãe e o meu pai, né. Porque sempre os meus avós… nos pegaram para criar.
P/1 - Quais as lembranças que você tem desse momento da sua vida, da mocidade?
R - Pois é. A minha avó sempre foi uma pessoa muito rígida. Então, quando a gente tinha oportunidade de ir pro interior, que a gente fala ‘‘Ir pra Baixo da Madeira’’. Então a gente não podia estar, sei lá, muito tempo fora de casa. Primeiro, por causa que no interior a gente sabe que… a gente fala assim: “Tem muita gente enxerida, tem muita gente enxerida”. Então a gente sempre… quando a gente estava lá pra Baixo da Madeira, a gente tinha que estar sempre, tanto em qualquer lugar, sempre muito atento às coisas. Minha mãe fala assim, pra gente nunca receber bebida de pessoas que a gente não conhece, porque a gente sabe que em todo lugar existe gente ruim, gente que faz mal para as pessoas. E me lembro que ela sempre foi uma pessoa muito certa com essas coisas, de ‘‘O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado’’. E ela nunca passou muito a mão na nossa cabeça, não. E aí eu lembro que dessa forma, eu hoje compreendo, que ela era dessa forma, foi justamente pelo fato de não querer que nada acontecesse com a gente. Porque, não sei se quando ela era adolescente aconteceu alguma coisa com ela, assim, no sentido de maldade mesmo. E ela sempre pregou isso pra gente, que a gente sempre tivesse coerência na nossa vida, sempre soubesse definir o que é certo e o que é errado. E eu lembro que isso marcou muito a minha adolescência.
P/1 - É, tem alguma lembrança, assim, especial, que você tem desse momento da sua vida?
R - Assim, igual eu estou falando, a minha adolescência sempre foi uma adolescência muito tranquila. Eu sempre tive muita responsabilidade com os meus irmãos, por serem menores que eu. E, assim, as memórias que a gente tem, de todo mundo pegar o barco e descer o rio. Então essa é uma memória muito viva na minha vida. Até então não existia estrada. Aquela estrada que vai pra Boca do Jamari. Então, sempre que a gente podia, a gente descia o rio. E sempre andar de canoa, foi, assim, algo muito importante pra gente. A gente gosta muito de andar de canoa, andar no rio. E sempre respeitando o rio, claro. A gente sabe que essas coisas de ir pro rio e fazer algazarra não é algo muito bom, não. Então, eu vejo, assim, que muitas dessas coisas minha avó ensinou pra gente. Que a gente sempre tem que ter coerência com as coisas. Mais voltado pra esse sentido, né.
P/1 – Ó, a próxima pergunta você já falou um pouco do que a gente iria perguntar, mas de toda maneira eu vou fazer a pergunta e daí você responde caso você ache que tem mais alguma coisa pra falar sobre o assunto, tá? Que é assim: quando e como você começou a sair sozinha, ou com amigos e amigas? O que vocês faziam? O que você gostava de fazer para se divertir?
R – Eu comecei a sair sozinha mesmo, eu já tinha uns dezoito anos. E a gente, meus avós nunca deixaram muito a gente andar sozinho, não. Então, sempre quando a gente saía tinha horário pra voltar. Então a gente não tinha tanta liberdade, assim, igual hoje em dia. A gente sempre cumpriu muito os horários. Minha mãe falava assim... minha avó falava assim: ‘‘Meia-noite eu quero vocês em casa’’. Então meia-noite a gente estava em casa. E eu sempre tive poucas amizades, nunca tive muitas amizades. E essas amizades entendiam essa forma que minha avó criava a gente.
P/1 – Então, depois de terminar a escola, você tinha alguma ideia do que queria seguir de profissão?
R – Eu, a princípio, tinha muita vontade de estudar Agronomia. Só que por problemas financeiros mesmo, né, e Agronomia só tinha em universidade particular, acaba que eu não tinha condições naquela época de estudar Agronomia. E aí foi quando apareceu o vestibular na UNIR para fazer Letras. Foi quando a minha vida, totalmente ela mudou, da Agronomia para Letras. E foi quando eu entrei no curso de Letras, que eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Meu pai era professor. Então automaticamente eu senti que talvez aquilo seria o que eu queria também. E eu venho trazendo comigo até hoje.
P/1 – É, você já falou sobre a universidade, já falou sobre os desafios, se quiser falar mais alguma coisa sobre isso, fique à vontade. E, também, se quiser falar um pouco mais sobre o retorno que houve para comunidade, no sentido da comunidade que você vive, que você tem relação. Mas também a comunidade mais ampla, da luta, enquanto Coletivo Mura.
R - É, assim, eu fico bem feliz, de hoje em dia... igual eu falei, de ser a primeira na minha família a ter conseguido entrar numa universidade pública. De ter sido a primeira a fazer um curso de pós-graduação. Então isso para minha família é algo muito especial, não é algo especial apenas para mim, é algo especial também para eles. E poder dar esse retorno, para eles, para as pessoas que são da comunidade, porque lá não é uma comunidade só da minha família, ou do povo Mura, dos Mura. Lá tem gente de tudo que é lugar. Tem gente de outras comunidades também. Então lá é como se fosse uma grande família. E aí a gente troca conhecimentos ali também, com outras pessoas. E, assim... eu vejo assim, que isso foi bem importante, para demarcar mesmo o local, para demarcar na universidade. Essa é a primeira dissertação falando sobre a história dos Mura, do Rio Madeira, aqui em Rondônia. Essa foi uma forma de deixar viva essa memória. Eu vejo assim, que tem um retorno, sim, muito grande. Não apenas para mim que escrevi, mas também para outras gerações. Porque a gente não faz nada pensando só no agora, a gente tem que fazer pensando no futuro. Para aquelas pessoas que vão ler, para aquelas pessoas que vão, futuramente, utilizar ela para uma outra coisa. Então, eu vejo assim, que valeu super a pena não ter desistido. Mesmo com tantas adversidades durante a minha vida escolar. Mas, assim, tudo serve só como bagagem nessa grande mala que é a vida.
P/1 - É, você poderia falar um pouco mais, já que a gente está mencionando desde o começo o Coletivo Mura. Você poderia situar melhor o que é o Coletivo Mura, quem faz parte desse coletivo, qual é o propósito dele, quais são as frentes, e quais as comunidades que estão atuando? Você pode falar um pouco sobre isso? Fica à vontade.
R - O Coletivo Mura é muito importante para nós... eu posso falar, assim, para nos firmar com o pé no chão. Porque antes a gente falava assim... eu antes de conhecer o Coletivo Mura, claro, né, eu me sentia sozinha. Eu falava assim: ‘‘De que forma que eu vou sobreviver nesse mundo aqui, nesse mundo acadêmico, sem ter um seguro, um porto seguro?’’. E aí foi quando eu entrei em contato com a Márcia, ela me deu super apoio, e a gente começou a trocar ideias e viu que as nossas ideias eram iguais, sempre foram coerentes umas com as outras. E o coletivo é muito importante não apenas para mim, mas também para outros povos, que utilizam o coletivo de forma para auxiliar nessa caminhada fora do coletivo. E eu vejo assim, que durante a pandemia, o coletivo foi muito importante, porque auxiliou muitas pessoas, muitas comunidades. Tanto com remédio, eu fui atendida várias vezes com remédios, com consulta médica, que ajudaram nós, que acabaram pegando covid também. E hoje em dia, até hoje, o coletivo está aí para auxiliar a todos que precisam. Não apenas como auxílio financeiro, mas também com aporte de... como eu posso falar... com aporte de, às vezes, uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente entra em contato com o coletivo, que eles vão e nos auxiliam. Então é muito importante, eu vejo assim, que outras comunidades também deveriam adotar o coletivo como forma de organização institucional. Porque a gente vê o quanto o coletivo nos auxilia nessa vida, nesse momento que a gente está em transição. Que, às vezes, a gente se pega se perguntando assim: ‘‘Ah, e agora, o que eu faço?’’. E o coletivo está lá para nos auxiliar. Então o coletivo sempre foi muito importante, desde o primeiro momento que eu entrei em contato.
P/1 – Tu pode mencionar, por exemplo, os nomes das comunidades, e quais dessas comunidades que têm representação do coletivo nessas frentes de recuperação de memória Mura?
R – Eu vejo, assim, que Autazes... você está perguntando, assim, dos municípios?
P/1 - Tô falando mais aqui mesmo dessa região que o Coletivo Mura atua, nessa fase de recuperação de memória Mura.
R – Aham. Terra Caída, que é onde a minha família nasceu, onde a minha família está, Terra Caída e Cavalcante. Cavalcante porque hoje a gente mora do outro lado da margem. Mas Terra Caída sempre vai ser o nosso território. Então, Terra Caída, Cavalcante... eu não sei se em São Carlos, mas creio que sim. São Carlos, Nazaré e Calama. São onde eu vejo que o coletivo está bem presente no Baixo Rio Madeira.
P/1 - É, a gente atua nesse Baixo Rio Madeira aí. Mas São Carlos a gente não tem muita base lá ainda, é mais aqui pro lado de Maravilha, né. Mas, assim, é o Baixo Rio Madeira como todo, e também algumas partes do Alto Madeira. Mas é isso aí. Vamos lá então, continuando aqui no roteiro. Sobre trabalhar: quando começou a trabalhar? Como foi o seu primeiro trabalho? Que outros trabalhos você fez? Você lembra do seu primeiro dia de trabalho? Como você se sentiu nesse primeiro dia de trabalho? O que você fazia com o dinheiro que ganhava? Você lembra o que fez com o primeiro salário?
R - Eu sempre fui bolsista da universidade, então eu sempre… sempre tudo que eu ganho, sempre foi, assim, para matar minhas vontades. Então me lembro do meu salário, de dar pra minha mãe para ela comprar alguma coisa que estava faltando, porque eu vinha estudar e ela precisava comprar alguma coisa pro meu filho. E graças a Deus, na época da universidade eu sempre tive o auxílio. Os auxílios que me auxiliaram bastante. Porque eu entrei na universidade eu tinha vinte anos. E aí desde os meus vinte até os meus 28 anos, sempre foi dentro da universidade, e sempre horários que não tem como trabalhar. Então as bolsas sempre foram muito importantes nesse período de estudos. E eu me lembro assim, que sempre foi para me manter dentro da universidade.
P/1 - Vamos caminhando aqui para os… está quase terminando, Iana. Se quiser dar uma parada, descansar um pouquinho, a gente vai vendo, você vai me falando, tá?! Bom, sobre a questão dos outros territórios, você já falou dos deslocamentos, dos motivos já, o porquê dessas mudanças. Mas você poderia falar um pouquinho mais sobre como foi a viagem, nessas mudanças, nesses deslocamentos? Se quiser falar também mais um pouco de como foi mudar para outro lugar. Qual foi a primeira impressão, quando vocês saíram, nesse primeiro momento, nesse primeiro deslocamento? Qual foi a primeira impressão ao chegar num novo lugar, e o que mais chamou sua atenção? Sobre as dificuldades você já falou bastante, mas se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
R - Nossa, quando a gente veio do estado do Amapá para Rondônia, foi de barco, né. Então a gente seguiu o rio Amazonas e pegou o rio Madeira. Foram dez dias de viagem. E, assim, eu quando cheguei, da onde eu saí, que era lá do rio Flexal, para vir pro rio Madeira, eu me recordo assim, muito bem assim, que eu vi que era a mesma coisa. Só que como eu falei, a princípio eu não conseguia diferenciar, quando a minha mãe falava que meu tio morava isolado, sendo que a gente morava isolado também, de uma forma ou outra. E eu achava: ‘‘Meu Deus, como ele mora isolado, não sei o quê?’’. Sendo que a gente vivia da mesma forma. E nossa casa não tinha nem parede. Então eu não senti tanta diferença assim, de mudar de local. Eu fiquei foi feliz, porque era a mesma coisa, a mesma forma de viver, a mesma forma de se alimentar. Só quando a gente veio pra cidade, porque eu vejo, assim, que é mais difícil de se adaptar a cidade do que se adaptar ao interior. Tanto que a vida é diferente, lá as horas são diferentes. Você tem hora pra comer, você tem hora pra... quer dizer, na realidade, você acorda, você vai fazer seu café, você vai almoçar, você vai pescar, depois você vai plantar o que você vai colher. E, assim, é a vida às margens do rio. E na cidade, não. Se você não se apressar, você vai perder o ônibus, se você não se acordar cedo, não consegue levar a criança na escola. Então é uma vida difícil de se adaptar. Eu me lembro, que eu tive muita dificuldade durante a graduação com essa adaptação de horário, que não era nem tanto culpa minha, era mais culpa mesmo de depender de transporte público. Então, eu me lembro que a adaptação de um local para o outro, do estado Amapá para o estado de Rondônia, foi algo, assim, muito bom. Agora, adaptação da Baixa Madeira para a cidade, aí já era algo mais difícil, porque é outra rotina.
P/1 – Vamos falar um pouco agora sobre casamento e o cotidiano. Você tem algum relacionamento, você se casou dentro da cultura do seu povo ou dentro da cultura não-indígena? Como foi, se você puder contar pra gente? E aí contar também como conheceu seu namorado ou marido. Se vocês tiveram filhos, quais os nomes dos filhos? Quem escolheu? O que significa os nomes dos filhos? Como é a maternidade? Se você quiser definir a maternidade e a paternidade dentro do contexto cultural, de como você foi criada na cultura Mura, transmitida pela sua família. Como foi para você ser mãe? O que a maternidade representou na sua vida? Enfim, comenta um pouco de hoje, como está sua família, como são os momentos de lazer na comunidade. Fica à vontade.
R - Eu fiquei grávida com dezenove anos, tive o meu primeiro filho, o nome dele é Artur. Artur Messias. E, assim, foi o que me deu mais força. De eu me sentir... na época eu me sentia super nova, com dezenove anos. E eu lembro que eu senti muita vontade de não querer desistir por ele. E dez anos depois eu fico grávida novamente, agora da Aurora. E ela, assim… ela é uma criança muito esperada, porque é como se eu já tivesse passado toda aquela fase ruim de estudar, de ter que se preocupar com a graduação, de ter que se preocupar com a pós-graduação. E ela está vindo numa fase mais tranquila da minha vida. Hoje em dia eu sou casada com o pai dos meus filhos, que é o pai do Artur e o pai da Aurora. A gente vive numa relação muito boa e a gente gosta muito da natureza, de estar com nossos filhos presentes na natureza, de estar com nossos filhos pra comunidade. Eu não vejo a hora da Aurora nascer para ela poder ir pra Cavalcante, passar os dois “mesinhos” dela e ela poder ir pra lá com o avô dela, com o bisavô dela. Que a gente combinou que quando a Aurora nascesse, a minha filha que está na barriga agora, estou só esperando o momento de ela chegar, que a gente vai todo mundo para lá como forma de comemorar o nascimento dela, descendo o rio Madeira, que é algo muito importante pra gente. E a gente... e aí, eu me lembro, assim, que foi difícil a primeira gestação, porque eu me sentia nova, não tinha terminado ainda o ensino médio, estava terminando, estava no terceiro ano. E, assim, eu sentia mais vontade de poder terminar pelo meu filho. Eu sempre falo pro meu filho que da mesma forma que a minha avó fazia comigo, dizendo que a única forma de mudar o mundo, de mudar a nossa situação, era através do estudo, eu falo, eu repito isso pro meu filho, para ele também, futuramente, poder estar repassando tudo aquilo que a gente ensinou para ele, que os avós ensinaram para ele, porque ele tem contatos com os meus avós. Então a mesma educação que eu tive, ele tem. Assim, de gostar de coisas que muitas crianças hoje em dia não gostam, de estar com os avós, ele já é uma criança que ama estar com os avós, e ama cuidar dos avós. Porque ele recebe todo esse amor e esse afeto. E, assim, eu sou bem feliz hoje com a forma que eu venho vivendo, de poder ir na minha comunidade. Só que igual eu falei, esse ano a gente não foi ainda, fez um ano agora em novembro, que eu não vou lá. Mas foi por uma questão da gravidez ser de alto risco, e pelo meu avô que está se recuperando de uma internação muito longa. E aí a gente combinou que quando a Aurora nascer todo mundo vai descer o Baixo Madeira para comemorar o nascimento dela.
P/1 - Aí, que lindo. Vamos esperar. A Aurora pode chegar a qualquer momento inclusive.
R - A qualquer momento.
P/1 - Ela está aí só escutando. Acho que ela está falando assim: ‘‘Vou esperar minha mãe terminar de fazer essa entrevista aí porque é muito importante’’. Deixa eu te perguntar: o nome dos teus filhos, do teu filho e da tua filha, como foi a escolha? Quem escolheu? Qual é o sentido deles?
R - O Artur foi… porque como o meu pai se chamava Antônio, eu queria que o meu filho se chamasse também com a letra ‘‘A’’, Artur. E também estava na moda colocar o nome do filho de Artur. E aí eu acabei indo na moda. Mas ele é uma criança muito, assim, ligada com a natureza. Ele é uma criança que se você falar: ‘‘Artur, vai ali na beira do rio pegar um peixe’’. Ele vai e pega. Então, eu vejo que ele tem muito dos nossos ancestrais, das pessoas mais velhas da nossa família, que é sempre estar ali, estar aprendendo a pescar. Ele nunca pediu algo caro. ‘‘Eu quero um videogame de presente, eu quero uma canoa de presente, mãe’’. Então isso é algo muito bonito nele. Então, o Artur foi escolhido mais porque estava na moda, na época. Mas hoje em dia, com a concepção que eu tenho, eu falei que se meu filho fosse homem, ele ia se chamar Aruã, que é um nome indígena, que seria mais representando o estado do Pará, que é onde meu pai nasceu, que tinha os povos lá que se chamam Aruã também. Então seria mais voltado para esse lado. E Aurora, eu escolhi, como é uma menina, eu escolhi Aurora, porque ela vem trazendo muita luz pra minha vida, depois de tantas coisas que eu passei, recentemente. Eu vejo que Aurora vem trazendo um bom amanhecer, uma nova fase na minha vida, na qual eu quero estar curtindo, principalmente porque também foi um nome que meu avô gostou muito. Então tudo que os meus avós gostam, eu gosto de fazer para eles, porque aproveitar enquanto eles estão aqui na terra.
P/1 - Que seja muito bem vinda essa Aurora. A gente já falou um pouco sobre essa questão do período da Covid. Vamos fazer mais duas perguntas. Aí você fica à vontade se quiser responder, tá, e como quer responder, tá bom? Se quiser. Como vocês fizeram para se proteger do Coronavírus? Alguém chegou a falecer na sua família ou na sua comunidade? Como o Coronavírus impactou sua vida, pensando nos aspectos culturais, profissionais, e também nos pessoais, na rotina da vida?
R - Os meus avós, né… não tive o Coronavírus, não peguei esse vírus. Mas os meus avós acabaram pegando, porque eles tinham consultas médicas e aí acabaram sendo contaminados. Não por falta de cuidados, foi porque o vírus era um vírus muito forte. Por mais que você usasse máscara, por mais que você se protegesse, mesmo eles utilizando todos esses métodos, de como eu posso falar… esses métodos sanitários que eles criaram, eles acabam se contaminando da mesma forma, mesmo usando máscara, usando gel. E eu lembro que foi um período muito difícil, porque estava todo mundo naquela época partindo, falecendo. E aí eu fiquei com muito medo de perder meu vô. Isso faz exatamente dois anos. Em novembro faz dois anos que eles foram contaminados pelo vírus. Aí meu avô foi contaminado com o vírus. Tanto meu vô, como a minha avó. Só que como eles tinham passado um período no Baixo Madeira, um período bem grande de seis meses, eles estavam com a imunidade muito forte, estavam comendo só comidas tradicionais, peixe pescado na hora, açaí, farinha, coisas que a floresta nos dá. Então, eu vejo que foi muito importante para a recuperação deles, principalmente o açaí. E eles passaram… eu vejo que por alguns momentos, meu vô, a saúde do meu vô ficou um pouco debilitada, mas nada que não pudesse ser contornado. E graças a Deus eles estão vivos aí, esperando a netinha deles nascer… a bisneta. E eu vejo o quanto esse vírus foi destruidor em muitas famílias. Mas a minha família, a gente se protegeu muito para que não viesse perder ninguém. A gente fez muita coisa, assim, tudo que ensinaram pra gente, que dava pra fazer, a gente fez. Desde o remédio da farmácia até um remédio tradicional.
P/1 - Sim. Vamos então para o próximo bloco de perguntas. Esse é o último bloco. São perguntas conclusivas. O que você faz hoje? Quais são as coisas mais importantes pra você hoje? Quais os sonhos? E o que você gostaria de deixar como legado?
R - Hoje eu venho me dedicando a ser mãe. A passar esse período da minha gestação, que vem sendo um período bem difícil, mas ao mesmo tempo bem feliz. Porque está chegando uma nova vida para minha família, uma nova guerreirinha, uma menina Mura. E, assim, eu vejo que o que eu posso fazer para auxiliar o próximo, para estar ali, de uma forma ou de outra, ensinando e aprendendo, eu venho fazendo. E eu vejo que eu sou bem realizada com a minha vida, com a minha família, de ter meus avós. Meu maior presente é ter meus avós por perto, porque é através deles que eu continuo aprendendo as coisas. E eu pretendo, assim que a Aurora nascer, eu estou estudando para poder dar uma vida melhor para ela. Venho buscando passar em concurso público, porque a gente sabe que querendo ou não, é a estabilidade que a gente tem, e eu venho feliz com a forma que eu venho conquistando, porque eu sei que não é uma conquista apenas, é uma conquista de um povo, de uma comunidade, da minha família, dos meus filhos, das pessoas que estão à minha volta, das pessoas que gostam de mim. E eu vejo que as pessoas ficam felizes quando me veem vencendo na vida. E vencer é estar sobrevivendo a esse mundo aqui, a gente vem vencendo todo dia.
P/1 - Isso. Tem uma pergunta que eu acrescentei para casos como os nossos, que a gente transita dentro desses diferentes espaços. Mesmo que a gente tenha essa relação e esteja nos nossos locais às margens do rio e nas florestas, a gente também acaba tendo que estar aqui na cidade. Embora, contra a vontade. Por questões de necessidade mesmo. Então, assim, queria te perguntar: para você, que é uma indígena que está dentro do contexto urbano, como é ser indígena dentro do contexto urbano?
R - Não é algo muito fácil, porque existe muito conflito. Inclusive, o estereótipo de que índio é preguiçoso. A pessoa indígena ela é preguiçosa. E não é assim, a pessoa indígena é criada de uma outra forma. Igual eu disse, que quando eu estava na minha graduação, os horários para mim eram algo muito difíceis. E eu vejo que muitos tinham o estereótipo de eu me atrasar porque eu queria,mas não era porque eu queria, era pelo fato de eu depender de transporte público e morar a quase trinta quilômetros de distância da faculdade, da universidade. Então, eu vejo que existe muito estereótipo ainda, que ainda precisam ser tirados da sociedade. E eu vejo também que não é muito fácil. Se eu pudesse, claro, escolher entre morar na cidade e morar no interior, eu escolheria mil vezes morar no interior. Só que a gente acaba vindo pra cidade porque a gente precisa de um médico, a gente precisa de um hospital, a gente precisa de escola, a gente precisa de uma estabilidade que nas comunidades a gente não consegue, e aí acaba tendo que vir pra cidade. Então eu vejo que todo dia é uma batalha diferente. Na escola do meu filho é uma batalha, na minha vida pessoal é uma batalha. E, assim, a gente vai vencendo, vai levando a vida para que as futuras gerações… igual um dia desses você falou para mim: “Para que as futuras gerações não passem pelas mesmas coisas que a gente passou”. Então é importante a gente sempre estar na cidade. Além de demarcar o nosso lugar, mas como também uma forma de resistência, também.
P/1 - Deixa eu te perguntar: gostaria de acrescentar algo mais? Contar mais alguma história que não pode contar durante a entrevista?
R - Eu só quero mesmo agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui. Do Museu ter aberto essa oportunidade pra gente poder estar hoje trabalhando, falando um pouco sobre como é nossa história. A gente vê que as nossas histórias têm várias linhas, igual você mesmo fala. E, assim, várias linhas, e a gente tem que ir tecendo essas linhas, puxando essas linhas das nossas memórias para gente seguir em frente. E é claro que a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, a ser mais forte, a ser… a lutar mesmo. Porque, às vezes, a gente luta e a gente não vê tanto resultado, e lá na frente persiste de novo. E eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. Da Aurora ter esperado até hoje, para querer… eu falei assim: ‘‘Eu preciso primeiro dar essa entrevista, depois a Aurora nasce’’. E ela ficou aqui guardadinha na barriga até mesmo esse momento. Agora ela pode vir no momento que ela quiser, porque era importante realmente, não só para mim, para Aurora, pros meus filhos, pra nossa comunidade, pro nosso povo e pro nosso coletivo, essa entrevista. Como forma de demarcar mesmo nossa presença em todos os lugares, do Museu até a ONU, se Deus permitir.
P/1 - [...] na frente conduzindo. A gente vai seguindo. Como foi pra você, Iana, contar a sua história de vida?
R - Eu sempre gosto de contar a minha história, porque ela traz um pouquinho dos meus avós. Então os meus avós sempre vão ser a minha referência, mesmo eles, no momento em que eles não estiverem mais aqui, mais presentes com a gente. E eu vejo assim, que onde eu posso levar o nome deles, que foram pessoas muito importantes na minha vida, são, né, pessoas importantes na minha vida. Que eu puder levar a história da minha comunidade, Terra Caída, que foi um lugar tão esquecido, tanto pelo poder público, como pelas memórias que foram perdidas. De poder estar hoje falando, então isso é hoje algo que me deixa muito feliz. E estar levando para outros lugares também, não apenas aqui em Rondônia, está contando sobre a história aqui em Rondônia, mas levando para que outras pessoas tenham o conhecimento que lá no meio da Amazônia, no Baixo Rio Madeira, existe uma comunidade que se chama Terra Caída e que existiam várias pessoas que se perderam no decorrer, mas hoje em dia estão reconstruindo suas histórias.
[Fim da Entrevista]
Recolher

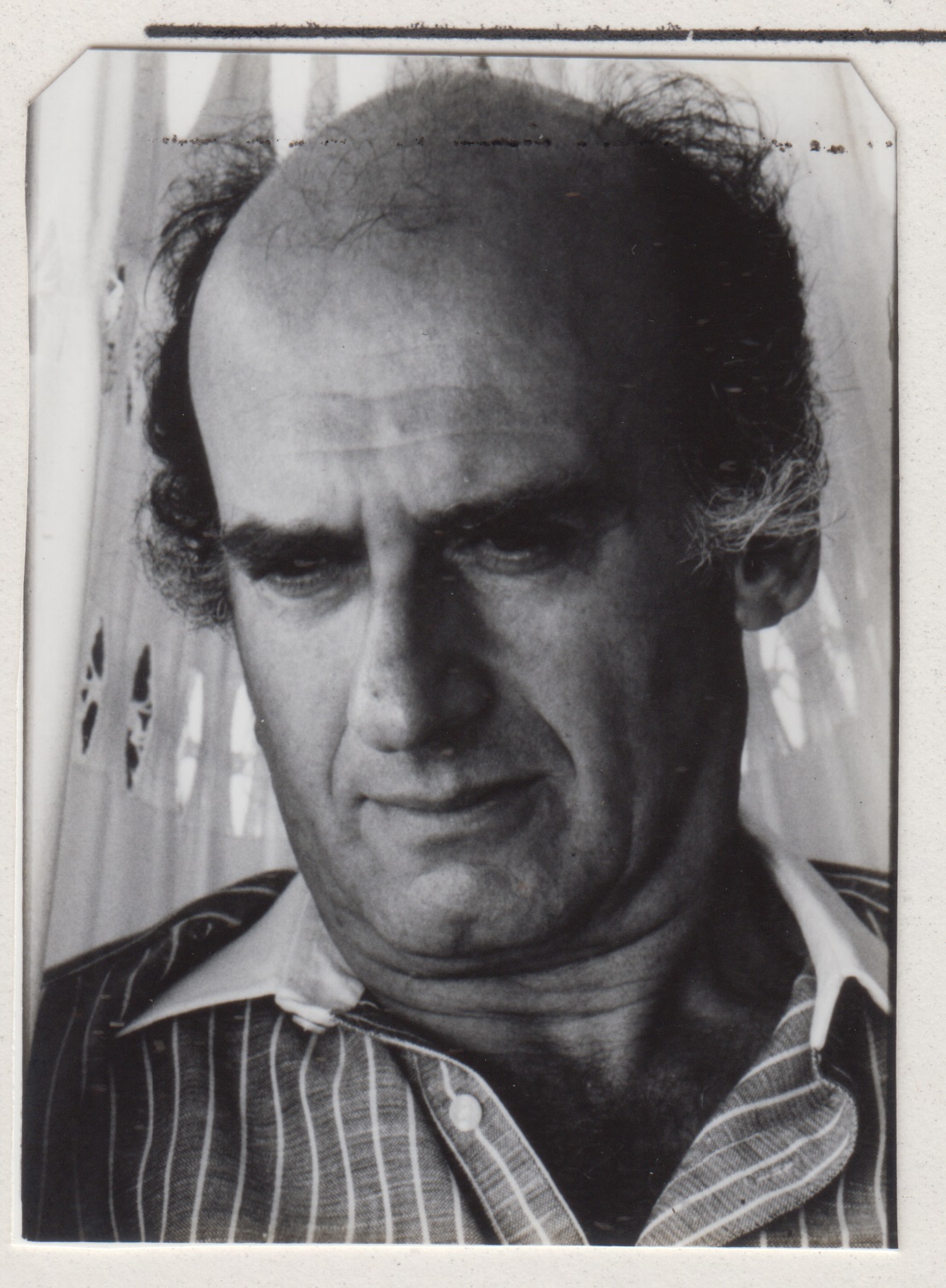


.jpg)