Projeto Correios 350 anos – Aproximando Pessoas
Depoimento de Rosana Bíscaro Baesso Brunetti
Entrevistado por: Isla Nakano
São Paulo, 27 de junho de 2013.
Realização: Museu da Pessoa
Entrevista número HVC_26
Transcrito por: Pedro Carlessi
P/1 - Bom Rosana, primeiro eu gostaria de agradecer por você dar um pouquinho do seu tempo pra gente. Para a gente registrar, vamos começar com você falando seu nome, data e local de nascimento.
R - Meu nome é Rosana Bíscaro Baesso Brunetti, tenho 47 anos, nasci em São Paulo, capital, no dia 14 de julho de 1965.
P/1 - E Rosana, qual o nome dos seus pais?
R - Meu pai é Gerson Baesso e da minha mãe é Elide Bíscaro Baesso
P/1 - E dos avós, você sabe?
R – Dos maternos é Rosa Fioravante e Antônio Bíscaro, do lado paterno Ana Crozatto e Geraldo Baesso
P/1 – Você sabe qual e a história das suas famílias?
R – Eu sei que minha avó por parte de mãe, a Rosa, veio da Itália, não me lembro agora, mas acho que ela deve ter encontrado meu avô aqui, que também tem origem italiana. Por parte do meu pai, meus bisavós vieram da Itália, mas eles já são nascidos aqui do Brasil. Meus avós acabaram se instalando em Minas e depois no interior de São Paulo na região de Presidente Bernardes perto de Prudente. Meu pai é mineiro também, da cidade de Miraí, do cantor Ataulfo Alves, veio de lá muito pequeno para a Presidente Bernardes. Minha avó por parte de mãe eu não sei dizer se quando eles chegaram ao Brasil já ficaram em Presidente Bernardes. O fato é que meu pais se conheceram em Presidente Bernardes, começaram a namorar, meu pai veio pra São Paulo, minha mãe ficou, meu pai começou a trabalhar como alfaiate, embora essa não fosse a profissão que ele gostaria de ter, eles ficaram se correspondendo e resolveram se casar.
P/1 – E eles trocaram cartas de amor?
R – Acho que sim! Eles dizem que trocavam cartas, não sei se eram de amor, acho que deviam ser...
P/1 – A sua mãe chegou a e mostrar alguma delas?
R – Não... Acho que ela não guardou porque nunca me mostrou...
P/1 – E Rosana, você falou agora da história dos seus pais, você chegou a ter contato com seus avós?
R – Com meus avós sim, com meus bisavós não. Apesar de que uma bisavó morreu quando eu era pequena. Mas como ela morava em Minas, em Miraí, eu nunca fui conhecê-la. Mas meus outros avós a gente conviveu por muito tempo. Uma das minhas avós morou com a gente inclusive, então deu pra conviver bastante.
P/1 – E qual é a atividade profissional os seus pais, você falou que seu pai era alfaiate e a sua mãe?
R – Meu pai era alfaiate e minha mãe além das prendas domésticas ficou ajudando ele como auxiliar lá na costura, os dois ficaram trabalhando juntos.
P/1 – E você acompanhava seu pai, o trabalho dele quando era pequena?
R – Foi meu pai que me mostrou a cidade de São Paulo... Ele me levava lá na consolação, muito bonito, de noite, tudo iluminado... Adorava quando ele me pagava Bauru, adorava esse lanche (risos). Ele me levava em Santana, porque no começo ele não era autônomo, trabalhava costurando para outros alfaiates. Ele costurava tantas peças e depois ia entregar... Às vezes esses alfaiates iam à nossa casa buscar, mas na maioria das vezes ele ia levar. Ele ia comprar tecido no centro também, wntão ele que me mostrou a cidade, me ensinou a andar de ônibus, depois metrô em 72. Eu lembro que ele chegou em casa e eu disse “E aí conta como que é o metrô? Ele faz aquele barulho do trem?” Ele explicou que não, que ele andava mais rápido, porque desde que a gente era criança, íamos para Presidente Bernardes e meu pai gostava de fazer essa viagem de trem. Era da Luz, de Sorocabana, demorávamos dezesseis horas para chegar à Presidente Bernardes sendo que de ônibus leva oito horas, sete horas, mas era uma viagem bem gostosa. E tinha aquele barulho do trem eu ficava pra lá e pra cá à noite, criança, não queria saber de dormir. Então achei que o metro era parecido. Depois a gente até enjoou de tanto andar de metrô. Ele que me mostrava, levava no cinema, minha mãe era mais caseira, não acompanhava a gente, e eu acompanhava ele onde ele fosse.
P/1 – Rosana como era sua casa de infância?
R – Meus pais quando se casaram e vieram para São Paulo, em 64, ficaram já nesse bairro, Vila Constança, porque a professora que trouxe ele morava em Santana e ele ficou trabalhando na Dr. Zukin ali na Ezequiel Freire e depois mudou com a minha mãe para a Vila Constança. Era uma casinha bem tradicional daquelas que a gente desenha. Tinha quintal com um pinheiro na frente, o muro era de madeira, tinham poucos vizinhos naquela época, e minha infância foi bem sozinha. Eu nasci um ano depois que eles casaram e como eles trabalhavam muito tinham medo de me deixar sair na rua etc., foi uma infância não com muitas amizades, mais ali com eles, vendo eles trabalharem muito, mas depois o bairro começou a crescer, e eu sempre morei ali, na Vila Constança, zona norte de São Paulo, eu gosto bastante, é um bairro tranquilo, tem tudo ali por perto e está crescendo. Quando eles chegarem tinha o trenzinho, o famoso trem das 11 do Jaçanã, era tudo ali perto, mas eu não cheguei a ver essa fase do bondinho, é um bairro tranquilo, eu gosto de morar lá. Depois ele construiu atrás, ele comprou um terreno atrás de onde tinha essa casinha e construiu essa outra casa maior, eu tinha medo, porque era um sobrado, eu tinha medo da casa porque era muito grande (risos). Eles moram lá até hoje e eu me casei depois e moro perto, nessa rua que é perto de onde eles moram, uma travessa.
P/1 – E Rosana, de que você gostava de brincar quando era pequena?
R – Eu me lembro que a gente brincava muito de mãe da rua, amarelinha, de pega-pega, eu tinha um triciclo e eu ficava brincando de ônibus, todo mundo subia no triciclo, uma vez o triciclo tombou porque tinha muitas crianças em cima e a gente pegou um desnível da calçada e eu fiquei por último, todo mundo caiu por cima de mim e eu me ralei toda, machuquei o nariz, tudo que tinha direito. Então brincava dessas coisas, esconde-esconde, eu não me lembro como chama essa brincadeira que a gente fazia, era tecido, que ficava rodando a gente o tempo todo “quantos metros?”. Mas a rua já estava diferente... Quando eu era adolescente eu ganhei uma bicicleta, ficava o tempo todo andando de bicicleta também, são brincadeiras que hoje a gente quase não vê mais por aí.
P/1 – E Rosana, com quem você brincava?
R – Eram crianças ali do bairro, da escola, estudei no SESI [Serviço Social da Indústria], que moravam por perto, era isso. Não me lembro de ficar na casa de ninguém. era mais na rua mesmo, essas brincadeiras de rua, não era essa coisa de ficar em casa trancado na casa do outro.
P/1 – E tem algum amigo ou amiga que marcou esse período?
R – Ah, acho que não. Acho que mais quando eu era adolescente, mas quando criança acho que não.
P/1 – E como eram as casas dos avós?
R – Eu adorava a casa da avó paterna, porque ela morava no sítio e em todas as férias de julho a gente ia para o sítio. Era legal desde aqui em São Paulo, porque a gente pegava o trem, eu ia fazendo uma festa pra lá e pra cá, conhecendo gente, conversando, passava a noite toda em claro. Chegava lá era o campo, que eu adoro. Tinham coisas diferentes que as vezes eu não gostava muito, mas tinham minhas primas, meus primos, eu gostava muito de ir pra lá. Minha avó materna morava em São José dos Campos, era como se fosse o meu bairro. Eu gostava de ir pra lá, é claro, para vê-los, tudo, mas era diferente. O sítio... Eu aprendi muito com essa experiência no interior. Eu voltei agora para Presidente Bernardes, depois de 26 anos que eu não ia, estava com aquela imagem do sítio, meu avô acabou vendendo porque ele adoeceu e veio para São Paulo, tinha aquela imagem dele me levando de charrete para a cidade, adorava ir pra roça com a minha tia, às vezes participava de uma colheita de arroz, batia amendoim, era coisa pouca. Mas está tudo diferente 26 anos depois, e eu queria que estivesse igual (risos). Mas é isso, foi bom rever o lugar e lembrar dos momentos bons com os avós.
P/1 – E sua família comemorava festa, tinha aniversários?
R – Meu aniversário é em julho e era sempre comemorado lá no sítio. Faziam um bolo e tal. A gente comemora até hoje os aniversários dos meus pais. Acho que dos meus avós mesmo eu não me lembro de festas, porque a gente estava longe quando eles faziam aniversário. Naquela época eram mais cartas, a gente escrevia mais cartas mesmo para os primos, para eles, para quem sabia ler poder ler para eles porque meu avô e minha avó eram analfabetos. Minha avó aprendeu a ler e escrever quando ela veio para São Paulo e meu avô faleceu e entrou, naquela época acho que era mobral, e daí ela com mais de 60 anos aprendeu a escrever. E eu me lembro que eu fiz uma amizade com umas meninas de Santa Rita do Passa Quatro, quatro garotas, por cartas, a gente nunca se viu, mas a gente sempre se falava por Cartas, era super legal. Uma colega também na adolescência, que morava na minha rua, mudou para Rondonópolis, a gente adorava escrever cartas uma pra outra. E depois com o tempo foi se perdendo esse vínculo. Mas as comemorações de aniversário eram mais da minha família mesmo, não avós, mas pai, mãe, algum tio ou tia que morava ali por perto, depois veio a minha irmã. Natal era algo em família também, ano novo, essas festas mais tradicionais mesmo. Quando a minha filha nasceu eu gostava de enfeitar a casa para fazer festa junina, ela era pequena e gostava.
P/1 – E Rosana, você falou das cartas, e eu queria te perguntar. Você escrevia cartas pros primos, você recebia cartas, o que você recebia e contava?
R – Sim, era como hoje são os e-mails. O duro era começar, como ia começar, falando o que, ai meu deus! Depois que começava, pegava no embalo e ia, escrevia uma ou duas folhas. Era esse o meio que a gente tinha para se comunicar, depois veio o telefone, mas meus avós não tinham telefone no sítio, então eram cartas mesmo, para saber se estava tudo bem, perguntar da saúde. E era uma festa quando chegava carta: “Mãe, a carta da vó chegou!”. Era bem legal. Teve uma época que colecionei selos, adorava, tinham vários selos que eu ia tirando das cartas. Até outro dia eu acabei jogando fora esses selinhos, fiquei com uma dó, mas ia ficar fazendo o que com eles. Ia Então esse era o meio de comunicação, mandava fotos as vezes de algum evento. Minha mãe tinha o costume de tirar foto minha uma vez por ano, no dia do aniversário, ia ao fotógrafo, tirava a foto e mandava para os avós para ver como estava; a neta, crescendo (risos).
P/1 – E Rosana, você falou que era uma festa quando recebia a carta. Você conheceu algum carteiro da região?
R – Ah, tinha. Como aqui hoje e a gente é bem amigo do carteiro daqui. Como o carteiro de casa também cuida. Eu não me lembro de exatamente do rosto dele, mas antigamente não tinha caixinha, deixava no portão, ou chamava, jogava. Aqui mesmo o carteiro é bem amigo da gente, então se ele vê que não é uma pessoa que ele tem o trato no dia a dia, ele acaba não deixando, ou entra pra ver se alguém de mais responsabilidade pode receber a carta, assinar. Então se é uma pessoa que ele não conhece ele acaba não deixando ali no portão. Ele entra, faz algumas brincadeiras, é bem alegre, é bem legal essa figura do carteiro. Hoje em dia eu vejo muito pouco o carteiro aqui de casa porque ele passa num horário que a gente não tá. Não me lembro se a gente tinha amizade, de ficar conversando horas com o carteiro mas me lembro que tinha um cuidado com as cartas, que não era uma coisa largada.
P/1 – E essa coleção de selos, você se lembra de como você começou a colecionar?
R – Por causa dos desenhinhos diferentes, não eram muitos, mas deviam ter mais ou menos uns 50 ou 100 selinhos de vários tamanhos.
P/1 – Tinha algum que era mais especial?
R – Não me lembro de nenhum. Eles ficaram guardados tanto tempo, agora eu já devo mesmo ter jogado fora. Os que as meninas me mandavam, de Santa Rita, sempre vinham com um desenho diferente. Acho que guardava mais pelas lembranças delas talvez.
P/1 – E Rosana, dessas trocas de cartas de família, tem alguma que você tenha recebido que tenha te marcado?
R – Nossa, nem me lembro mais! Na época, fica a emoção de ver a notícia, principalmente dessas amigas de Santa Rita, contando as novidades, as vezes elas me mandavam coisas. Mas não vou lembrar agora se teve alguma que me marcou, acho que não.
P/1 – E quais são suas primeiras lembranças escolares?
R – Eu estudava no SESI, que era uma escola que funcionava no pátio da igreja. A igreja cedeu este espaço e o SESI abriu a escola lá, para o jardim e de primeira à quarta série. Então eu fiz as amizades, colegas que moravam ali por perto, estudei com um menino que futuramente se tornou meu marido, mas na época eu nem “tchum” pra ele, nem estava aí pra nada. Gostava da professora, a professora Arlete, era bem atenciosa. Me lembro de uma vez ir pra escola e perder uma sandália minha que eu adorava, ela caiu no bueiro e eu não pude pegar de volta! Olha só que absurdo! Era uma sandália franciscana, sabe, que eu gostava muito. Não sei porque cargas d’agua eu escorreguei e meu pé prendeu no bueiro e eu perdi minha sandália. E eu me lembro disso até hoje porque estava indo para escola e tive que voltar pra casa. Depois eu encontrei no outro colégio e me dispersei de vários coleguinhas daquela época, encontrei agora, ano passado, um rapaz qme reconheceu daquela época ainda, até retomar quem era, mas foi legal. E isso até a quarta série, depois daí pra frente eu fui estudar numa escola estadual, perto dessa igreja. Depois de um tempo o SESI acabou se encerrando ali, e eu fiquei estudando nessa escola estadual até terminar o colégio. Alguns desses colegas do primário também foram para essa escola, então a amizade pendurou um pouco por esses anos. Tinham pessoas também do grupo de jovens da igreja, então a gente se encontrava também na escola. Foi bem movimentado, não a mesma movimentação de agora, mas tinha alguma movimentação. Eu sempre tive desde a adolescência até a vida adulta, esse lado mais ‘social’, então fazia parte do movimento da igreja, a gente já tinha nossas ações sociais e políticas, e isso depois acabou definindo a escolha da minha profissão, que foi o serviço social.
P/1 – Rosana, o que você queria ser quando crescesse?
R – Então, eu pensava em ser guia turística.
P/1 – Por quê?
R – Acho que por conta das viagens que eu fazia, queria ser guia turística. Mas depois as coisas foram se encaminhando, já tinha terminado o colégio, acho que já estava um ano sem estudar, e uma amiga falou “ Ah Rô, abriu a inscrição para o serviço social, vamos fazer?” Pensei “ Serviço Social?” ela falou “É!”. Então começamos a estudar juntas para passar no vestibular e eu passei. Ela prestou em duas faculdades e eu em uma. Daí eu passei nessa da Barra Funda e ela no Pari, depois de um tempo ela pediu transferência e continuamos juntas na mesma faculdade. Eu entrei no serviço social meio de empurrão, porque eu não pensava nessa possibilidade, embora eu já fizesse essa função em parte da minha vida, mas nunca tinha imaginado ser uma assistente social. Tem uma fase da vida da gente que é meio confusa, a gente não sabe muito bem o que vai ser etc., e não sei de onde que eu tirei que queria ser guia, acho que por conta das viagens mesmo, achava uma profissão interessante. Depois fui fazer um estágio nessa época da faculdade, em 89, fui fazer estágio na prefeitura de São Paulo, que a Luiza Erundina que era Prefeita de São Paulo e na Sé ela desenvolveu esse trabalho mais focado para a população de rua. E eu me interessei porque questionava muito “por que tem essas pessoas na rua, esses andarilhos?” eu não entendia muito o tal homem do saco. Eles estavam focando justamente nessa população nessa época. E me aceitaram lá como estagiária, acho que não tinham muitas pessoas para concorrer a vaga, e eu entrei, e foi assim que conheci aqui a educação, pelo estágio na prefeitura.
P/1 – E sua educação foi religiosa? Você disse que ia à igreja e esse seu envolvimento social se deu pela igreja? Conta um pouco isso para a gente.
R – Então, eu fiz primeira comunhão, crisma e por conta de amigos da escola que frequentavam a comunidade de jovens eu fui meio que atraída. E eles falavam muito, eram muito alegres e eu fui fazer parte desse grupo de jovens da igreja. Além das festas, do oba-oba, a gente tinha essas saídas. Íamos ao orfanato, ao mesmo orfanato, a gente visitava a cada dois meses. Tinha trabalho na favela, que a gente acabou fazendo por conta de uma das campanhas da fraternidade que eu imagino que também tenha tido algum tema político. Íamos para favela, criamos um vínculo com as pessoas e meio que adotamos a favela, aquele grupinho de pessoas, perto da Fernão Dias, ficamos acompanhando aquelas famílias, vendo melhorias para aquele lugar junto com eles, fui aprendendo a fazer junto. Nós éramos bem ativos, todo domingo estávamos na missa, nas festas, nos bailes. Um ia pra casa do outro então “Ah, vamos fazer um baile aqui em casa”, íamos ao baile do fulano, do ciclano, então essas foram as minhas baladas (risos).
P/1 – E qual foi seu primeiro namorado?
R – Meu primeiro namorado foi esse menino que eu estudou comigo lá no SESI, depois a gente esse reencontrou na escola. Na verdade não, ele estudava numa escola municipal e eu estadual e a gente se encontrou no grupo de jovens, e fomos conversando, até que começamos a namorar, e casei com esse meu primeiro namorado. E ficamos juntos por um bom tempo, uns 20 anos mais ou menos entre namoro e casamento, e depois nós nos separamos, felizmente ou infelizmente, são momentos... Depois que eu casei, outras pessoas também casaram, e depois fomos nos distanciando um pouco do grupo de jovens, porque a gente não era mais jovem! Tínhamos que fazer parte de outro grupo (risos). E tinha muito essa coisa dos encontrinhos de jovens, essas coisas das mensagens, que não é na verdade uma carta, mas que vai pelo correio, um escreve para o outro mensagens de ânimo, de “pode contar comigo que eu estou do seu lado”, de amizade mesmo. Até pouco tempo eu tinha vários desses recadinhos guardados, cartões. Lembro que a gente mandava fazer cartões como marca livros e que mandávamos para os amigos da igreja pelo correio, ou, as vezes entregávamos pessoalmente, na época de natal principalmente, desejando boas festas, ou em aniversário, e nós mandávamos fazer na editora Paulinas, na Sé, escolhíamos o desenho, a frase, fizemos isso por vários anos, e trocávamos nos encontrinhos de jovens, como se fosse um correio elegante. Tinha de coração, e pra quem ficava lá dois dias, conversando, era uma choradeira aqueles encontrinhos, não sei se você conhece ou se ainda hoje fazem nas igrejas. Era interessante, e nisso tudo eu era bem atuante, coisa que ultimamente eu não tenho sido muito. Sou católica, mas não sou muito praticante. Pelo tempo, as vezes pelo próprio padre, com o qual não concordo muito com algumas ideias, fui me distanciando um pouco. Mas agradeço muito esse local que me deu embasamento para ser a profissional que eu sou hoje, reconheço muito isso.
P/1 – Rosana, como foi sua entrada na faculdade?
R – Na faculdade foi meio isso “então vamos, vamos”. E depois eu acabei gostando, fui vendo que o serviço social não é feito por fadas madrinhas, e as assistentes sociais não têm varinhas mágicas, e as pessoas depositam essa expectativa na gente. Foi um tempo de conhecer outras colegas, com outras cabeças e ideias diferentes. Sempre fui muito tímida, me soltei um pouco mais com a questão do debate, do pensar politicamente, foi um tempo bem gostoso. As meninas eram bem divertidas, as salas eram como toda faculdade, com muitos alunos, tinham pessoas bem idosas na minha sala, mas bem motivadas para estudar e tudo, e eu penso que eu aprendi mesmo, pelo menos na minha visão, a exercer a profissão de serviço social na rua. Isso foi uma opção, eu tinha a possibilidade de trabalhar em empresa, em hospital ou no poder público, mas diante da minha escolha de vida eu preferi a comunidade, porque também já tinha essa vivência antes, eu já tinha esse caminho, e apareceu. Quando eu fui fazer o estágio na prefeitura acabou aparecendo esse contato com a OAF [Organização de Auxílio Fraterno] e quando eu terminei meu estágio na faculdade a organização acabou me chamando para fazer parte dessa equipe. Foi bem interessante. A faculdade acabou me abrindo essa porta. Eu poderia ter ficado no município, talvez, se tivesse prestado algum concurso poderia ter ficado por ali, mas fiz minha escolha, de ficar na comunidade mais próxima às pessoas. Eu participei durante o estágio da primeira pesquisa que houve no município sobre a população de rua, e naquela época a população de rua era 3.600 pessoas. Era um número bem pequeno, e se tivesse tido alguma política bem direcionada poderia ter conseguido reduzir ou reverter. Enfim, hoje somos 16 mil com tendências a crescer
P/1 – E Rosana, o que chamou mais sua atenção quando começou a trabalhar com pessoas na situação de rua?
R – Eu sempre tive dentro de mim que eu tinha que respeitar esse novo ambiente. Quando eu entro num ambiente novo que eu não conheço a minha tendência é observar e ficar quieta. Já me chamava atenção o porquê de pessoas na rua, que andavam sem rumo, as vezes com um saco nas costas, que falavam sozinhas, era isso que me chamava atenção. Eu já ouvi muita história, e penso que por isso fui tão bem aceita na rua. Entendo a rua como se fosse uma tribo. Tem a tribo indígena, a tribo africana, a rua é como uma tribo na qual eu não posso ir chegando e fazendo como eu quero. Eu tenho que primeiro ouvir. Eu estava estudando serviço social e sabia o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria, porque era recente também. O tempo de estágio foi justamente encaixado no tempo que eu estava estudando. Porque quando terminou o governo do PT [Partido dos Trabalhadores] naquela época, também terminou a faculdade. Eu estava bem no início, talvez um ano depois, já fazendo estágio. Eu não sabia o que eu queria como profissional de assistente social. Na prefeitura eu via coisas que eu não queria, e na comunidade, na rua, eu podia ir aprendendo. Mas como eu não fui criada com pessoas alcoolistas, ou com pessoas que usavam drogas, isso me chamava muita atenção. Mas eu já tinha visto tanta crueldade, tanta coisa na favela, que isso era uma coisa meio normal. Eu entrei também no trabalho na rua muito mais como uma missão do que como uma profissão no começo. Mais como uma militância por essa causa do que como profissional. Eu fui entendendo como ser profissional depois. E aquilo que eu tinha aprendido até na favela, sobre esse respeito com o outro, com a sujeira, com o fedor, com a pessoa alcoolizada, isso já veio comigo. Eu não estava vendo aquela pessoa enquanto um alcoolista, eu estava vendo a pessoa. E depois eu fui entendendo que eu não estava vendo o rótulo o ‘alcoolista’, o ‘sujo’, o ‘farrapo’, o ‘vagabundo’, eu estava vendo o Sr. José que tinha uma história para me contar. Então o pessoal me adorava, porque eu sentava, imagina. Eu entrei aqui eu devia ter, casei com 25, 26 anos, uns 27 anos, e sentava do lado da pessoa, do senhorzinho bêbado e ficava ouvindo, não dizia nada, só ouvia, porque o que eu iria falar. Isso me abriu uma grande porta com o pessoal da rua, porque eu poderia ter sido rejeitada, naquela época eu nem imaginava, mas eu poderia.
P/1 – Quais foram as suas primeiras funções, o que você fazia exatamente?
R – Na época do estágio eu nunca vim aqui para o viaduto, porque naquela época, o viaduto não tinha essa estrutura de salas, era só o viaduto, não tinha banheiro, cozinha, nada disso. Quando eu cheguei aqui em 94, não era mais o estágio, só tinha um ponto de água. Não tinha salas, essas coisas. Mas na época do estágio que foi de 89 até 91, eu nunca vim pra cá, para o viaduto. Meu estágio era quatro dias na prefeitura, e no quinto dia, as irmãs pediram para as minhas supervisoras da prefeitura para eu fazer um dia de estágio aqui, e elas disseram que tudo bem. Porque tudo era muito novo, nunca ninguém tinha olhado para o povo na rua. E a Luiza Erundina, que era assistente social, colocou isso como prioridade no governo dela, ela tinha um contato com a OAF e retomou esse contato, eu por destino dos cosmos, naquela época era SURBS-SÉ, e tinham quatro setores, cada um com sua equipe multidisciplinar que fazia a supervisão de alguns serviços, e eu fui direcionada para um setor que fazia a supervisão desta ONG. Eu poderia ter ido para a equipe um, dois, ou três, que não fazia supervisão aqui, que fazia em creches etc., mas eu fui direcionada para a equipe quatro, que fazia supervisão aqui na OAF, do trabalho que elas faziam no centro comunitário. A gente vinha para as supervisões, porque as assistentes sociais também queriam saber como que era e as irmãs aceitaram essa ajuda financeira do poder público. Depois de algumas vezes que eu vim, elas pediram para que eu fizesse um dia de estágio na comunidade e minhas supervisoras deixaram. Eu vinha pra cá na sexta, e meu estágio era esperá-los lá no centro comunitário, ali na rua dos estudantes, para sairmos de lá com a carroça para ir à feira do brigadeiro para pegar os restos das frutas. Daí muitas vezes pegávamos do chão, as vezes pedíamos para o feirante, não era uma coisa muito fácil, e o pessoal estava junto. Trazíamos as frutas com a carroça para o centro comunitário. A Ivete, que é uma das irmãs já estava lá com a galera, com o centro comunitário cheio de gente, organizava e a gente ia preparar as frutas para fazer uma vitamina, porque aí já tinha lá alguém que tinha trazido pão não sei de onde, a Ivete já tinha trazido um patê, e estavam esperando algo para beber que era a vitamina. Então a comunidade dava o leite, a gente vinha com as frutas e a gente fazia as vitaminas. Esse era meu estágio. E eu não via isso como uma anormalidade, porque eu estava aprendendo a estar com eles, a estar na rua. Meu estágio terminou em 91, 92. Fiquei 93 trabalhando em outro lugar como assistente social, nessa igreja onde estudei, fiquei trabalhando lá atendendo famílias, etc. Em 94 minha filha nasceu, eu liguei pra avisar “olha, minha filha nasceu”, porque a gente não perdeu o contato. Daí já não mais por cartas, por telefone e elas me falaram de um novo projeto para o viaduto, uma coisa diferente, com uma proposta de parceria com empresários e me convidaram para conhecer o projeto para fazer parte da equipe. Minha filha nasceu em abril e em setembro eu vim conhecer o projeto e fiquei! Estou aqui desde 94, até agora. Entrei como educadora e depois de uns anos passei a ser coordenadora, e agora estou dividindo a coordenação com outro rapaz que é o Neto, porque foi pesando, associação não é fácil de coordenar. Uma coisa que eu me lembrei do nascimento da minha filha, eu tive a Vitória naquele hospital da paulista, no Hospital Santa Catarina e depois de um ano que ela nasceu eles me mandaram um cartão me parabenizando, me dizendo o quanto era bonito ser mãe. Eu achei tão legal aquilo! Me emocionei muito ao receber o cartão, falei: “Nossa, eles se lembrando da gente depois de um ano!”. Gostei muito de ter recebido esse cartão. E no ano seguinte fiquei esperando, mas eles não mandaram mais (risos). Só um parêntese assim por que foi muito interessante ter recebido do Hospital Santa Catarina essa lembrança. A OAF tem esse costume, todo final e ano tem uma artista plástica que bola um cartãozinho personalizado da OAF, e a Regina junto com o grupo escolhe uma frase, pode ser bíblica ou não, ela manda para os colaboradores, para nós funcionários, para a diretoria. Ela manda esse cartão de natal para as pessoas que mais estão próximas desse trabalho com a rua. Acho que a rua foi me ensinando exatamente como ser essa profissional, porque eu não me adaptaria a ficar atrás de uma mesa, não era isso que eu queria. Então aqui, como profissional penso que é isso, estou satisfeita. Não é uma atividade bonita, é bonita, mas a realidade não é bonita, bom seria que não tivessem pessoas nessa situação, mas eu abracei a causa por algo que eu mesma escolhi e ninguém me impôs a trabalhar com o pessoal da rua, e dá mais prazer de trabalhar, porque é o que eu gosto.
P/1 – Nesse seu retorno já formada, nessa outra fase sua aqui, gostaria de perguntar o que você desenvolveu de trabalho aqui? Fala um pouco da estrutura nova.
R – Em 94, quando eu vim pra cá, eu vim para o viaduto, eu conheci como era o viaduto. Na época de estágio eu não gostava de vir pra cá, eu sabia o que acontecia, mas não vinha pra cá. E eu só me dispus a estar aqui em 94 nesse novo projeto, porque a sopa ficou existindo nesse viaduto de 77 até 97, porque elas queriam avançar. Quando a equipe foi chegando aos poucos para fazer parte desse novo projeto que a OAF pensava junto com os empresários, nós éramos em cinco: quatro pessoas trabalhando como funcionárias e um coordenador, e esses empresários que também estavam aprendendo a metodologia da organização e que estavam aqui colaborando. Alguns vinham na sopa, para ver como era, então imagina, um empresário vindo numa quarta-feira, ajudar a fazer a sopa para o povo da rua! Era muito legal, porque realmente era a ponte fazendo o elo entre o mundo do luxo e o mundo do lixo, era super interessante! E aqui não tinha fogão, era a lenha, então se fazia a sopa na lenha! E não tinha assim, torneira! Eram tambores enchidos com mangueira, para ir fornecendo água para os pontos que eram necessários. Tinha vários voluntários, cada um ficava numa bancada. Um cuidava das carcaças do frango, outro cuidava do tomate, da verdura e do legume, todo mundo ajudando fazia-se a sopa para 700 pessoas comerem! Quando eu cheguei aqui, imagine, tenho 1,60m, mulher, sou tímida, nunca saí do meu casulinho, tinha que conviver com esse tanto de homem! Enfim, foi uma realidade que tive que ir me adaptando também, fui criando meu jeito de estar no meio daquele monte de homem junto. Tinham algumas mulheres, mas até hoje na rua mulheres estão em número bem menor e naquela época não tinha isso de bagageiro, eles entravam com a bolsa e na bolsa eles guardavam tudo da rua, faca, pinga, estilete. Eu fui aprendendo a lidar com isso, com brigas, fui observando como que a Regina que é uma das irmãs, uma das mentoras do projeto, como ela lidava com a briga e na hora que eu sentia mais segura eu ia e podia intervir da minha maneira. A gente fazia a sopa aqui, servíamos essa quantidade de pessoas, e depois o grupo que ajudou ia para o centro comunitário refletir sobre o dia, encerrar o dia e combinar a próxima quarta, conversar sobre as festas, o centro comunitário, o trabalho com a rua resgatando algumas festas populares, dando importância para o nascimento daquela pessoa que está na rua, vamos celebrar a rua, então quem queria comemorar seu aniversario, quem tem alguma conquista naquele mês para comemorar. Isso era muito importante na rua, as pessoas se sentem acolhidas, alguns não gostam porque se lembram da família, que não estão juntos da família, mas a gente continua com essa tradição até hoje na associação, e eu vejo que hoje eles gostam, participam, falam que fazem aniversário, gostam de ganhar o presente, a gente e sempre tenta dar um bolinho, um refrigerante nesse dia, então era a festa. E a própria sopa era a festa das pessoas, um ponto de encontro de amigos, de inimigos, de religiosos, do povo da rua, de homem, mulher, idoso, empresário, gente que já perdeu o emprego, era um ponto de encontro, uma grande festa. Nesse momento eu era uma educadora, estava aprendendo, era uma aprendiza, e a nossa missão, nosso objetivo no dia da sopa era criar vínculo. Poder ver, observar, como a gente poderia introduzir uma oficina, por exemplo, a partir daquilo que a gente observasse. Eu tinha uma amiga, que era a Beth, que no meio da lenha a gente encontrava colheres, eles moldavam a madeira da caixinha de maçã, faziam uma colher, eles moldavam uma colher para poder tomar a sopa. Então legal, vamos montar um grupo de fazer colher para a sopa! Ela se dispôs a ficar lá com a faca, com um círculo, e as pessoa saíam se juntando para fazer colheres. Tinham alguns que faziam só a própria colher e outros faziam colheres para os outros tomarem a sopa, e depois eram descartadas na lenha para poder queimar na próxima feira e tudo mais. Fomos captando o que a gente podia fazer para estar junto das pessoas. E eu ficava na portaria nessa época, na linha de frente ali, ficava com outro rapaz que estava na rua, e ficávamos ali com umas vasilhas de água para poder lavar, a gente chamava de cascudas, vasilhas ou garrafas de refrigerantes que as pessoas traziam para poder ser o recipiente de tomar a sopa. Ficávamos ali para fazer essa função, receber as pessoas, acolher, e cortar, ficávamos com a faca para cortar a vasilha. As vezes um trazia par ao outro, e depois ajudávamos a servir a sopa e encerrar o dia, íamos para a comunidade, no princípio era essa função. Era um dia aqui e um ou mais dias de treinamento do escritório. Lá líamos Paulo Freire, íamos visitar à rua, fomos várias vezes à noite, às vezes encontrávamos uma pessoa ou outra que vinha aqui, isso já dava certa credibilidade pra gente, e foi assim que a gente foi criando o vínculo com as pessoas na quarta. A gente começou, como era final do ano, as pessoas começaram a propor pra gente começar um dia, que não era o dia da sopa, para fazer enfeites para o viaduto, para enfeitar o viaduto no natal. Perguntamos qual dia que eles queriam e disseram que seria a sexta. Então íamos dois dias para o viaduto, na quarta e na sexta, e começamos a fazer bolas de jornal, fizemos uma grande árvore de natal aqui. Então quarta e sexta, depois eles queriam discutir sobre o álcool, tiveram duas pessoas que foram se formar e começamos aqui uma conversa, ficou quarta, quinta e sexta. Outro grupo veio pedir discussões sobre o trabalho, sobre o que eles poderiam fazer para sair da rua, daí ficou quarta, quinta, sexta e sábado, um pulo para a semana toda, para a gente estar aqui, segunda e terça. A associação começou a abrir a semana toda de segunda a sábado. Era isso, tinha o coordenador, o treinamento lá e a gente com o grupo aqui. A sopa terminou em 97, ela não estava decadente, ela estava no auge, a gente fazia nove caldeirões de cem litros de sopa, muita gente ajudando, a gente encerrou a sopa no auge dela, estava no topo. Depois demos uma paradinha porque era dezembro de 97, em janeiro demos uma paradinha de uma semana, duas, e depois começamos a retomar devagar, porque queríamos que as pessoas quebrassem mesmo, morreu, a sopa morreu, a sopa da Ivete acabou e está nascendo uma coisa nova. Demos uma paradinha e voltamos com um lanche depois, as pessoas vindo e a gente conversando e tentando ver o que eles queriam para acontecer aqui debaixo do viaduto, então foi isso. Eu não me lembro exatamente o ano em que comecei a coordenar a associação, mas o fato é que nosso coordenador foi coordenar um outro projeto da OAF que são as Repúblicas, e eu acabei assumindo de fato a coordenação.
P/1 – Rosana queria te perguntar sobre as cartas, como foi essa questão de começar a escrever cartas para as outras pessoas. Como começou?
R – Desde o centro comunitário, quando a gente não estava de vento em polpa aqui na associação, as pessoas nos procuravam para escrevermos cartas para seus familiares, para dizerem que estavam bem, porque nunca queriam dizer exatamente como estavam, querem passar uma boa imagem para as pessoas, para os familiares que estão longe. Esse momento das cartas sempre houve na comunidade. Lembro-me que no estágio devo ter escrito uma carta ou outra, mas não era muito minha tarefa escrever carta. Aqui na associação nós já tivemos algumas voluntárias que já tiveram esse foco, vir aqui só para escrever cartas. Uma voluntária da própria diretoria dos empresários vinha e era uma coisa que ela adorava fazer porque é uma coisa que as pessoas procuravam e, primeiro, vai contar a história de vida, depois lembrar coisas, daí “Ah! A Carta!”. Aí vamos escrever a carta. Daí essa coisa de ser literal na carta, porque a pessoa fala uma palavra e você quer melhorá-la, mas não, você tem que fazer a carta com as palavras que a pessoa está ditando. Por mais que você não concorde, que não tenha muita concordância, mas isso é o mais difícil de escrever a carta, porque a gente letrada, estudada, você quer fazer exatamente, florear. Esse era o difícil, escrever literalmente o que a pessoa esta lhe dizendo. E depois você ler a carta para a pessoa e ela se emocionar com a carta, porque ela vai ouvir o que ela disse, porque, as vezes, na hora de dizer a pessoa vai falando, vai jogando as palavras, mas quando ela ouve o que ela escreveu, o mundo desaba. As vezes a pessoa não queria mais mandar a carta, então rasga a carta, pedia pra devolver a carta, ou mandar a carta. Por exemplo mês de maio agora recente, a gente celebrou o dia das mães, eles quiseram fazer a decoração da associação para o dia das mães. Então a gente fez um momento de mensagens. As estagiárias de serviço social abriram uma mesa e colocaram vários materiais, cartolinas coloridas, papel, caneta, fotos de revista, para as pessoas mandarem mensagens, para depois colarem no painel. Esse rapaz procurou o serviço social para escrever uma carta para a mãe, e ele está sempre falando da família “não, porque minha família me jogou fora, minha família resolve na faca”, sempre falando alguma coisa negativa da família. Pediu para escrever uma carta para a mãe e a estagiária foi escrever a carta. Essa carta foi uma catarse, foi uma expressão desse rapaz e nós não conseguimos enviar a carta, porque o endereço que ele tem na memória não existe, nós não conseguimos localizar essa rua para mandar a carta, mas o fato dele ter colocado para fora aliviou uma série de ressentimentos desse rapaz, e ele acabou um pouco trabalhando isso ao despejar essas palavras nesse papel. A carta para o povo da rua tem muito esse sentido, essa função, não só levar notícias “estou bem, estou mal, estou morto, estou em maus lençóis aqui em São Paulo”, mas poder se ouvir, “puxa, eu estou mesmo assim, desse jeito que eu estou falando?”. É bem interessante, e esse momento da carta sempre foi bem respeitoso na associação. A gente não tem mais uma funcionária voluntária que vem e escreve cartas, mas era um hábito que semanalmente ela vinha, só a pessoa ficava na sala, é como um atendimento social, e às vezes eles iam, ficavam um tempo, as vezes uma hora, uma hora e meia, porque iam conversar, lembrar, perguntavam das mágoas da família, e choravam, e você poder fornecer um papel pra pessoa poder enxugar as lágrimas dela, ficar quieta em quanto ela está pensando no que vai dizer, ficar quieta em quanto ela chorava, curtir aquele momento, era um espaço bem interessante essa oficina das cartas, e depois a alegria de receber a carta do parente, ou então a tristeza da carta voltar porque não encontrou mais o destinatário. Então realmente queriam ficar sozinhos, mas na hora que queriam fazer contato e não encontraram mais eco, eles saíam... Então iam beber um pouquinho, chorar a mágoa. Mas também a alegria de receber a carta, eles estão lá ainda, estão bem, e poder ler a carta para a pessoa, ver ela se emocionando com esse contato de alguma maneira com seus familiares, é um momento ímpar, muito interessante.
P/1 – E Rosana tem alguma carta que você tenha escrito que a história tenha te marcado?
R – Acho que todas as histórias são únicas. Se a pessoa está escrevendo é porque aquilo é importante pra ela. Acho que não tem uma que mais atenção, mas todas as histórias que eu ouvi na rua são muito marcantes. Bom seria se a sociedade pudesse vê-los como pessoas porque é aquilo, não se olha, ou é um vagabundo mesmo, um drogado. Mas se uma pessoa dessas vier mesmo para escrever uma carta, você verá quanto de emoção, quanto de bonito que aquela pessoa tem dentro dela. Isso as vezes faz mais sentido para o voluntário, para a pessoa que escreve a carta, para o mediador, me lembro que as voluntárias, ou mesmo eu, a maioria das vezes aprendíamos muito com essa carta que as vezes demorava uma hora, uma hora e meia, menos ou mais para ser escrita, entre parada e escritas.
P/1 – E porque alguns mesmo sabendo escrever preferem que outras pessoas escrevam para eles?
R – Penso que as vezes é por alguma emoção que possa surgir, ou pelo fato da pessoa reler a carta, ele vai poder refletir se é aquilo mesmo, as vezes a letra, pensam que a letra é feia e a nossa é mais bonita, para impressionar um pouco a família, tem diversas explicações, essa é a minha visão, mas vai saber o que passa na cabeça. Mas essa é uma parte do que a pessoa pode estar pensando ao pedir para alguém escrever. Talvez seja um momento em que a pessoa quer falar dela e usa a carta para se aproximar. “Puxa, eu quero falar de mim, mas como eu vou falar pra dona Rosana que eu quero falar sobre mim, sobre a minha família e sobre a minha pessoa?” A carta se torna um subterfúgio, uma desculpa, uma ferramenta para aquele momento. O fato daquele rapaz em maio ter procurado o serviço social para falar para a mãe um monte de coisas nos permitiu conhecê-lo melhor, porque ele está aqui há um tempo já, pelo menos quatro meses, ajudando, mais próximo da gente, porque ele sempre veio aqui para se alimentar e tomar banho. Ponto. Fazia isso e ia embora, não falava nem bom dia nem boa tarde. De repente ele começa a nos procurar, porque queria um documento, entrar na frente de trabalho do Estado, então já tá ganhando uma grana, ele mesmo está cuidando disso, pede para ir ao médico, mas da família ainda não tinha falado nada, ele fica meio criticando, acusando a família, mas sempre falava “ah, depois eu falo, outra hora eu conto a minha história”, mesmo que ele quisesse atingir a mãe, mas ele se fez conhecer por nós por essa carta, não sei se fui clara. Como eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, tive que criar meus meios para me aproximar as pessoas, as vezes fazendo uma brincadeira, as vezes dando bom dia, e as vezes no décimo bom dia a pessoa se anima e vem conversar, tive que criar meus meios para estar, para falar com as pessoas, então a carta se torna um meio de aproximação, do conhecer a si mesmo.
P/1 – E Rosana, tem alguma história de alguma notícia muito boa ou muito triste que você tenha escrito ou lido para alguém?
R – Penso que sim, eu só queria lembrar a pessoa para eu saber de verdade o fato, mas acho que eu não recebia a carta para ela, mas eu sou testemunha da alegria da própria Romilda de receber fotos das filhas delas, e isso também causa alegria na gente, porque ela liga, é legal, mas de ver, saber como que tá, mais recentemente as filhas, porque já faz um tempo que ela não vai pra lá, é muito alegre pra todo mundo, dela ter esse contato, mesmo que seja por foto com essas pessoas. De morte eu não me lembro de ter escrito ou lido nada em relação a isso. A gente tem outras coisas que aconteceram mais recentemente, mas não foi especificamente pela carta, foi pelo telefone, que a pessoa fez contato com a família, a família achou a pessoa aqui, e acabou que a pessoa voltou pra lá. Isso foi agora, esse senhorzinho estava aqui há muitos anos em São Paulo, e a prima conseguiu localizá-lo e ele voltou para Governador Valadares. Eu não estou lembrando de nenhum caso agora mas eu penso que isso também já aconteceu no passado com cartas que a gente recebeu. Não me lembro agora da Cecília se foi algo nesse sentido, é que já fazem muitos anos, e ela também voltou para a família dela, em Minas, e penso que foi por cartas também que ela começou a fazer esse novo contato com a família e acabou voltando pra lá, se sentiu essa acolhida para voltar, ser recebida de volta, acho que é isso que eu me recordo.
P/1 – E Rosana queria que você falasse um pouquinho aqui do espaço, da estrutura.
R – Então, a associação é um núcleo de serviço de convivência. A gente atende 200 pessoas adultas, pessoas de rua, a gente atende famílias de rua, mas não criança e o adolescente de rua sozinhos não, porque são focos diferentes de experiências, faixas etárias, a gente já fez essa experiência e não deu certo, mas se a família está na rua nós atendemos. Aqui no centro de convivência temos a refeição, os lugares para banho e para lavar roupa, temos algumas oficinas, temos a biblioteca, que é a possibilidade deles fazerem leituras, temos um funcionário que conta histórias, tem aquela sala que chamamos de multiuso, que é usada para assembleias, para vídeos, esses encontros com contador de histórias, e basicamente as pessoas procuram esse centro de serviço para poder se alimentar todos os dias, se higienizar, nós temos o atendimento social, que possibilita às pessoas tirarem seus documentos, fazer uma ligação da família, procurar cartas que eles recebem, às vezes cartas bancárias, algum telegrama urgente, pode ser da família, do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], algumas coisas que estão vendo, algumas pessoas têm contas bancárias, quando recebem algum benefício abrem contas, e as vezes recebem cartas do INSS falando que foram contemplados, então essa é uma grande alegria. Então o centro se torna uma referência, um endereço, tanto de correspondência quanto telefônico, as vezes a pessoa faz um currículo para conseguir um trabalho, então ele faz o currículo, a gente dá um modelo, depois a gente passa no computador e ele pode levar as cópias para onde ele quiser, nós costumamos fazer passeios e saídas culturais com um grupo mais próximo da associação. É um serviço disponível aberto de segunda a segunda que as pessoas adultas de rua podem usar para sair um pouco, se tranquilizar, sair um pouco dessa violência encontrada pela a rua a todo momento, ou de briga entre eles, briga com a policia, arrastões etc.
P/1 – Qual foi seu momento de maior dificuldade?
R – Na associação? Olha, quando tem uma briga sempre é um momento difícil, o momento mais difícil é o da violência, para poder conter e tentar argumentar com as pessoas que não é por ai, tentar indicar para elas que através do dialogo é possível se refazer, as coisas são assim na carreira, então se xinga, já leva facada, já vai pra cima, as coisas são resolvidas assim nos lugares, não é só aqui, a nossa sociedade está assim, tentar fazer diferente aqui é a grande dificuldade, com pessoas que tem bastante cicatrizes, que a vida foi marcando o corpo, é bem difícil. Eu penso que um outro problema, uma coisa difícil que eu vejo, são pessoas que têm problemas psiquiátricos, que são jovens e que estão na rua, e que a família não sabe onde estão, ou não têm suporte para acolher essa pessoa. Tudo bem que na rua você não tem só gente com problema psiquiátrico, não é só por esse motivo que a pessoa chegou na rua, mas as vezes a pessoa é mais frágil ainda do que uma pessoa que tem a possibilidade de pensar, de raciocinar, que está legal, acho que a rua já é traumática e tem algumas pessoas na rua que são bem mais complicadas. Eu digo que aqui é a arte da convivência, não adianta eu querer me estressar de “vamos sair da rua” porque para chegar na rua levou um tempo, foi aos poucos, então pra sair vai ser a mesma coisa, e pode ser que ela nunca saia. Tem pessoas que sim e outras que não, Então essa é a beleza, porque mesmo tendo as dificuldades de estar na rua, nós temos um belíssimo jardim aqui no fundo que é cuidado por eles e que floresce e está lindo maravilhoso, e tem samba, tem quadrilha, festa de carnaval, tem festa sempre, e as pessoas estão na rua, mas não são 100% tristes, tem dança, tem forró, tem piada, tem o ouvir uma história e contar também, acho que eu também vejo mais esse outro lado, o lado belo do viaduto, e ai que a gente pinta a associação para ela ficar mesmo bonita, para sair a cor do concreto, para que eles tenham uma outra referência sem ser só o concreto do viaduto, tem essa alegria da vida no viaduto.
P/1 – Rosana, fora o seu trabalho, fala um pouquinho de você, do que você gosta de fazer nas horas de lazer.
R – Eu gosto de ouvir música, apesar de não sair muito, eu gosto de ir à shows, ao cinema, no cinema menos, mas eu gosto, teatro, restaurante, ir ao parque, adoro o campo, eu gosto muito desde a infância tenho essa ligação, gosto muito de ir em parques, mas do que ir em praia, então vez ou outra eu abraço uma árvore para me refazer (risos), e os passeios com eles, sempre fico buscando um legal, se eu vou conhecer um lugar também fico maquinando de como aquele grupo que mais nos acompanha pode fazer parte desse passeio. Tenho minha filha e eu gosto muito de estar com ela.
P/1 – Como que foi ser mãe para você?
R – Ah, eu queria muito, mas acabei me dividindo muito entre ser mãe e cuidar aqui da associação. Ela nem gosta de vir aqui porque é a concorrente dela (risos). Ela tem o mesmo tempo daqui, as duas têm 19 anos.
P/1 – Rosana, agora vou te fazer algumas perguntinhas finais, gostaria que você nos contasse o que você considera de mais importante na sua vida.
R – Bom, o fato de ser a pessoa que eu sou, eu considero que tudo que eu aprendi todas as dificuldades que eu passei, penso que foram tudo bom para eu poder ser essa profissional que sou hoje. Eu gosto do jeito que eu convivo com as pessoas da rua e me sinto reconhecida quando eles falam que eu trato bem, atendo bem, eu estou aprendendo ainda a conviver com as pessoas, mas isso é muito importante, ter aprendido a ser respeitosa com a diferença. Outra coisa é ter tido a Vitória, de poder ter sido mãe. Não quero ser mãe de novo, mas acho que uma filha tá ótimo, e penso que ela também vai me ensinando coisas, esse espaço de ela me ensinar, eu ensinar, é muito importante, e acho que em princípio é isso, meu trabalho e minha filha. E acho que é isso, e alguns valores que fui preservando e aprendendo, minha vida profissional e pessoal, depois de todas as histórias que a gente ouve aqui, essas dificuldades que as vezes eu passei, são nada, são grãozinhos de areia perto de tanta coisa que você vê, essas coisas são importantes, conviver com as pessoas, fazer o que eu gosto, já vale a pena ter escolhido esse caminho.
P/1 – E quais são seus sonhos?
R – Meus sonhos?! Ai, ai, ai! Nossa! Essa entrevista é danada! Não sei! Não pensei sobre isso. Eu tenho o sonho de sair daqui, de fazer outra coisa, eu até cheguei a estudar a medicina oriental, para ver se eu podia ver um pouco, mas eu sempre penso em fazer a medicina oriental com o pessoal da rua, então eles sempre estão envolvidos (risos). Eu estou trabalhando minha cabeça agora para ver se eu consigo mudar de profissão, mas é difícil, porque é minha história, está tudo na minha cabeça, está muito simbiótico, a associação tem a cara desses 19 anos, coisas que eu e os outros associados achamos importante, então aproveitar a água da chuva, a compoteira, jardim, as cores da associação, o jeito de fazer isso ou aquilo. As vezes eu penso que aqui é minha vida e sair daqui seria como tirar meu próprio tapete. Mas penso em sair e me dedicar à medicina oriental, à medicina chinesa e me colocar ao serviço daqui, as vezes ajudar no relaxamento dos funcionários daqui, não sei, sonho de ser cada vez melhor naquilo que eu faço.
P/1 – E o que você acha dessa ideia da gente resgatar esses 350 anos dos Correios através das histórias de vida desse projeto?
R – Eu achei bem legal, eu esperava outra coisa, tinha outra ideia do que poderia ser esse momento, achei interessante, acho que vai ser muito legal na hora que lançar, na mídia ou no museu, vai ser bem interessante, as pessoas fazendo essa relação da história com a carta, que está sempre permeando momentos da vida da gente, ficou bem bolado!
P/1 – Como que foi pra você voltar lá atrás, dar a sua entrevista pra gente?
R – Me pegou de surpresa (risos) e o quanto a gente vai resgatando de coisas na hora e vai esquecendo! É uma entrevista que faz com que você se volte pra si e faça toda uma reflexão, uma análise sua de uma hora e meia, foi diferente fiquei surpresa, mas é agradável.
P/1 – Rosana, muito obrigada, em nome do Projeto e do Museu da Pessoa
Recolher
















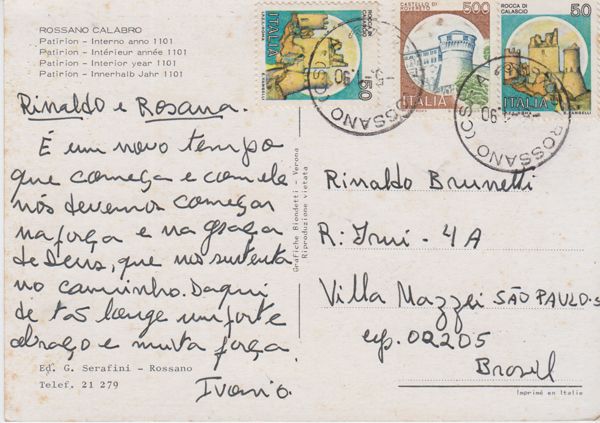



.jpeg)