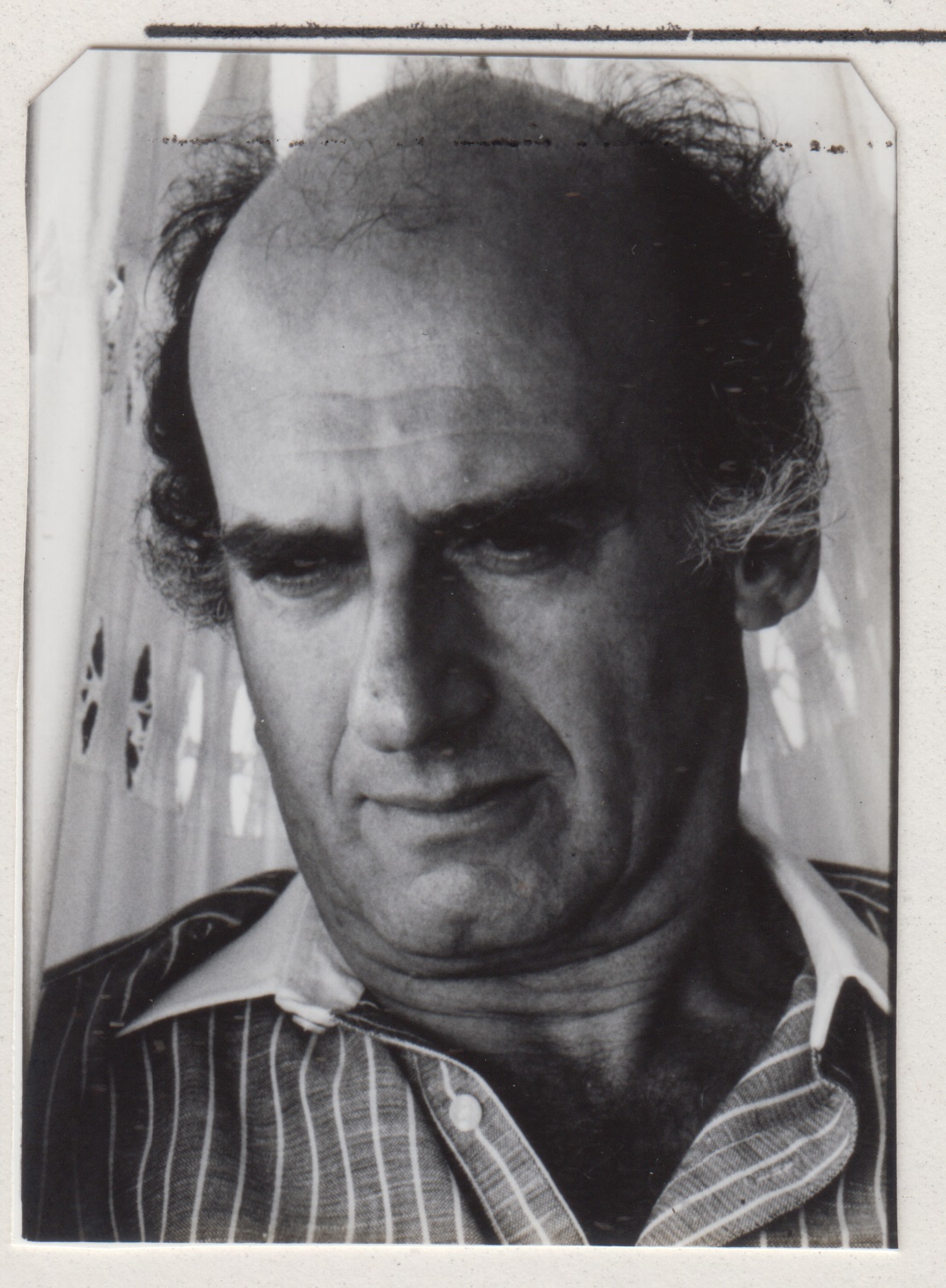P/1 – Bom dia, senhor Antonio. Obrigada por ter vindo. Por favor, diga o seu nome, o local e a data do seu nascimento.
R – É Antonio Alberto França Pinto. Eu nasci em São Paulo, capital, dia 19 de fevereiro de 1930.
P/1 – Diga pra mim o nome dos seus pais e dos seus avós, por favor.
R – O meu pai é Pedro França Pinto Filho e a minha mãe é Olga Pontes França Pinto. Meus avós: do lado do meu pai, Pedro França Pinto e Francisca Peres França Pinto; e do lado da minha mãe, Antonia Rosa Monteiro de Barros Pontes e Armando Pontes.
P/1 – Qual era a atividade profissional dos seus pais e dos seus avós?
R – O meu pai era engenheiro civil, formado na Escola Politécnica, em 1922; na mesma escola que eu tive a felicidade de me formar 30 anos depois, em 1952, também como engenheiro civil. O meu pai sempre exerceu a profissão de engenheiro civil, trabalhou na Prefeitura Municipal de São Paulo, foi Secretário de obras da Prefeitura, com o Prefeito Armando de Arruda Pereira; quando ele se aposentou, passou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, no patrimônio. Faleceu com 91 anos. Faz dez anos, mais ou menos.
P/1 – E os seus avós? Qual era a profissão do seu avô?
R – O meu avô, o pai do meu pai, que também se chamava Pedro – na minha família, você fala Pedro e aparece uns 40 (risos), é uma “Pedraiada” danada –, Pedro França Pinto, e foi Delegado de Polícia na Vila Mariana; daí o nome da rua que há na Vila Mariana, chamada Rua França Pinto. Ele foi Delegado de Polícia e parece que a grande façanha que ele fez foi acabar com a carreira criminosa de um grande bandido da época, que se chamava Dioguinho. Desde que eu sou menino eu escuto essa história desse Dioguinho, o famoso bandido do interior. E esse meu avô, foi quem ajudou na fundação da Companhia Antarctica Paulista, dos alemães Zerrener; hoje é uma fundação. A formação dele era como...
Continuar leituraP/1 – Bom dia, senhor Antonio. Obrigada por ter vindo. Por favor, diga o seu nome, o local e a data do seu nascimento.
R – É Antonio Alberto França Pinto. Eu nasci em São Paulo, capital, dia 19 de fevereiro de 1930.
P/1 – Diga pra mim o nome dos seus pais e dos seus avós, por favor.
R – O meu pai é Pedro França Pinto Filho e a minha mãe é Olga Pontes França Pinto. Meus avós: do lado do meu pai, Pedro França Pinto e Francisca Peres França Pinto; e do lado da minha mãe, Antonia Rosa Monteiro de Barros Pontes e Armando Pontes.
P/1 – Qual era a atividade profissional dos seus pais e dos seus avós?
R – O meu pai era engenheiro civil, formado na Escola Politécnica, em 1922; na mesma escola que eu tive a felicidade de me formar 30 anos depois, em 1952, também como engenheiro civil. O meu pai sempre exerceu a profissão de engenheiro civil, trabalhou na Prefeitura Municipal de São Paulo, foi Secretário de obras da Prefeitura, com o Prefeito Armando de Arruda Pereira; quando ele se aposentou, passou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, no patrimônio. Faleceu com 91 anos. Faz dez anos, mais ou menos.
P/1 – E os seus avós? Qual era a profissão do seu avô?
R – O meu avô, o pai do meu pai, que também se chamava Pedro – na minha família, você fala Pedro e aparece uns 40 (risos), é uma “Pedraiada” danada –, Pedro França Pinto, e foi Delegado de Polícia na Vila Mariana; daí o nome da rua que há na Vila Mariana, chamada Rua França Pinto. Ele foi Delegado de Polícia e parece que a grande façanha que ele fez foi acabar com a carreira criminosa de um grande bandido da época, que se chamava Dioguinho. Desde que eu sou menino eu escuto essa história desse Dioguinho, o famoso bandido do interior. E esse meu avô, foi quem ajudou na fundação da Companhia Antarctica Paulista, dos alemães Zerrener; hoje é uma fundação. A formação dele era como farmacêutico e era um homem muito bom, fundamentalmente, bom; ajudou muito na fundação da Companhia Antarctica Paulista e foi um dos primeiros diretores da Companhia Antarctica Paulista. Outro dia houve uma homenagem pra ele. Inauguraram uma sala na Companhia Antarctica, com o nome Pedro França Pinto.
P/1 – E como foi que ele ajudou?
R – Provavelmente, pelo domínio da língua, porque eram alemães e chegaram aqui, em um país estranho. Eu não sei como é que houve o primeiro contato com os alemães, mas eu sei que ele que participou da compra dos primeiros terrenos, da compra do Parque Antarctica – que até hoje se chama Parque Antarctica, lá na Água Branca –, e na Avenida do Estado, tudo isso eu sei que ele teve grande participação.
P/1 – Ele falava alemão?
R – Isso tudo eu não sei, porque não me foi contado, mas eu sei que houve essa participação na formação da companhia. É a história do embrião em se realizar tudo, e tudo chegar a um bom fim, a ser esse império que é a Companhia Antarctica. Ele sempre foi muito reconhecido por isso.
P/1 – E o seu pai foi Secretário de Obras?
R – Foi Secretário de Obras do Doutor Armando de Arruda Pereira.
P/1 – Que era um prefeito na época?
R – Foi um prefeito de grande valor aqui em São Paulo. O meu pai também era um engenheiro da escala um por um, era um engenheiro de execução; era um engenheiro que não era de gabinete, era engenheiro de campo, engenheiro de construir. Ele também teve grande participação na Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Ele foi chamado e lá morou para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele morou em Volta Redonda por muitos anos, desde o início: fundação, construção, serraria, alto-forno, laminação, construção da vila dos operários, tudo. Eu me lembro, porque eu era menino e passava as férias em Volta Redonda com o meu pai e meus irmãos. Ele foi chamado no Governo do tempo do Getúlio Vargas. E o meu pai era o engenheiro, era o homem número um dentro da obra, na construção da Companhia Siderúrgica Nacional.
P/1 – O senhor via o seu pai só nas férias?
R – É. E ele vinha visitar a família em São Paulo, porque a gente estudava. Ele passava a maior parte do tempo em Volta Redonda; também participou na construção da Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, do grupo Votorantim. A cidade chamava-se Rodovale, hoje se chama Votorantim, ali nos lados de Mairinque. Ele sempre teve participação sempre em grandes construções, por ser um engenheiro – como dizia antigamente – de pegar o peão na unha.
P/1 – E o senhor participou, ia pra esses lugares?
R – Ia.
P/1 – Tem alguma coisa engraçada, interessante que o senhor lembre-se dessas visitas que fazia com o seu pai?
R – Lembro, porque eu era menino. Aprendi a guiar trator (risos), porque eu enchouriçava a vida de todo mundo, queria saber de subir no trator; trator de esteira, esteira que vira de um lado só, virava pra cá, virava pra lá, marcha à ré. Divertia-me muito com tudo isso e também acompanhava o meu pai nas obras. O meu pai sempre foi um homem muito enérgico, e eu assisti cenas muito engraçadas dele, com essa energia dele, atitudes. Tinha um cartaz atrás da mesa dele: “Favor tirar o chapéu”. E um engenheiro, muito importante, o Doutor Plínio de Queiroz, um notável engenheiro brasileiro, parece que só pra provocar o meu pai, não tirava o chapéu. Aí o meu pai ia até em casa, pegava o chapéu e punha na cabeça pra ficar em igualdade de condições, ficar conversando com ele. Os dois que nem dois idiotas, de chapéu e conversando. O Doutor Plínio era o homem de confiança, acho que do Doutor Ermírio de Moraes. E o meu pai era o engenheiro de obras dele. Um belo dia, ele se aborreceu: em vez de ir buscar o chapéu em casa, tirou o chapéu da cabeça do Doutor Plínio e jogou pela janela. Disse: “Bom, agora estamos iguais”. Ele era um homem assim, dessa coragem de tirar o chapéu da cabeça do outro e jogar pela janela (risos), e não ser demitido. Porque ele estava certo, moralmente correto. Imagine o que era esse homem em termos de correção.
P/1 – Qual é a origem do nome da sua família?
R – França Pinto é de origem portuguesa.
P/1 – Quantos irmãos o senhor tem?
R – Eu tenho três irmãs e um irmão. O meu irmão mais velho era médico, morou 50 anos, mais ou menos, em Jaú, no interior de São Paulo; foi médico em Jaú, e um médico, ao que parece, de grande nome e muito procurado por toda a região, porque era um homem muito dedicado, mas já faleceu. Ele não queria que eu fumasse. Eu sempre fui fumante, e ele que morreu de câncer no pulmão, porque a vida é um mistério.
P/2 – E ele não fumava?
R – Ele não fumava e brigava comigo, que fui fumante. Enfim, o que é a vida?
P/2 – Onde que o senhor passou a infância?
R – A infância e a vida toda sempre paulista, São Paulo.
P/2 – Que bairro?
R – Lá do lado do Pacaembu, na Rua Tupi, onde eu nasci, morava lá. Nasci no Hospital Matarazzo – nem existe mais. Depois mudamos pra [Rua] Conselheiro Brotero, próximo ao Hospital Samaritano. Minha vida sempre foi muito simples. No tempo do ginásio, de colégio, conheci um homem muito querido, que veio a ser meu cunhado, casou com uma das minhas irmãs, o João Dias Soares, também formado na Escola Politécnica e meu colega desde o tempo dos padres Jesuítas, do Colégio São Luís. Eu passei muitas vezes férias na fazenda do João Dias Soares, dos pais dele, dos avós, em Avaré; e no Guarujá, onde o meu avô tinha uma grande casa – ele ganhou o terreno no Guarujá da Companhia Antarctica Paulista, um terreno muito grande, na praia de Pitangueiras, era uma casa muito boa.
P/1 – Descreva pra nós como que era o cotidiano da sua casa, porque o seu pai viajava, como o senhor disse. Como é que era o dia a dia na sua casa?
R – O meu pai viajava só quando tinha grandes obras a serem construídas, o serviço fundamental dele. Ele foi um engenheiro municipal da cidade de São Paulo. A vida do meu pai está ligada intimamente à cidade de São Paulo por ele ser um engenheiro da Prefeitura de São Paulo, e foi aposentado pela Prefeitura de São Paulo. Como ele era um engenheiro muito importante, era requisitado pra construir obras fora, como: Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Brasileira de Alumínio. Aí ele cessava as atividades na Prefeitura e ia pra esses lugares.
P/1 – Emprestado?
R – Emprestado.
P/1 – E como é que era, então, o dia a dia na sua casa?
R – As minhas irmãs estudavam no Colégio Sion, das freiras, e eu comecei num colégio público, no Caetano de Campos. Fiz o primário lá, tirei o diploma de grupo, fui pro Colégio São Luís e de lá fui estudar Engenharia na Politécnica. Em seguida fui trabalhar na Rio Negro Comércio e Indústria de Aço, que era do Grupo Mitsubishi; depois fiz até um estágio no Japão, sempre ligado ao ferro e aço, e até hoje estou ligado à Companhia de Castro Loureiro Engenharia Indústria e Comércio, que é de ferro e aço.
P/1 – Quanto tempo o senhor ficou no Japão?
R – Coisa de um mês, aproximadamente, na grande siderúrgica e nas grandes empresas de lá.
P/1 – Mas o que eu queria era que o senhor descrevesse o dia a dia. Um dia na escola, um dia na sua casa, como era isso?
R – A minha casa era de beira de estrada, que nem dizia a minha mãe, porque a minha mãe tinha um coração e um espírito muito bom, recebia todos muito bem, e gostava dos filhos sempre de baixo da asa dela. Ela gostava que a gente que levasse os amigos e que a gente nunca saísse de casa, então eu sempre levava meus amigos; as minhas irmãs levavam as amigas e o meu irmão, também. Era uma casa enorme, tinha um porão enorme com um pé direito altíssimo, um porão muito arejado; tinha mesa de ping pong, mesa de sinuca, era uma alegria, parecia até um clube.
P/1 – E onde era essa casa?
R – Na Rua Conselheiro Brotero, uma casa muito grande, hoje até construíram um prédio enorme lá, que se chama Edifício São Miguel; tem dois blocos, o bloco A, o bloco B, porque acho que tinha 90 ou 80 metros de fundo por uns 40 de frente pra rua; é uma coisa impressionante. O meu irmão mais velho levava os colegas dele pra estudar lá, Nestor Penteado, Nestor Sampaio; o meu irmão casou com a irmã do Nestor, a minha querida cunhada chamada Lucila. A Antonieta levava as amigas dela, como a Mariá Rodrigues Calda; a Tereza levava as amigas dela; eu levava os meus amigos, de maneira que a minha casa vivia sempre cheia de gente. Só que a obrigação de estudante é estudar – era a única frase que meu pai dizia. A gente não era obrigado a trabalhar, mesmo quando era mocinho, mas tinha que tirar boas notas e passar de ano. Foi assim, a gente tinha que dar conta do recado e se formar. Pra ele estudo era tudo, a primeira opção, não adiantava querer novidade. Ou era isso, ou não servia pra ele.
P/1 – Que tipo de novidade?
R – Novidade é estudar num colégio pago. Comigo era no Grupo Escolar Caetano de Campos. Eu tinha seis anos de idade eu fui fazer vestibular: um ponto, dois pontos, três pontos. “O que vem aqui?” “Quatro pontos”. Era teste, a gente não sabia nem ler, o que ia fazer? Risco pra lá, flechinha pra lá, flechinha pra cá. Eu me lembro, eu tinha seis anos, ia fazer vestibular pra entrar na Escola Caetano de Campos, na Praça da República. Lá estudei quatro anos. Tinha que estudar, senão apanhava mesmo, não tinha conversa fiada – sistema bem português. Tinha os meus amigos e eu jogava bola na rua. Dava nove, dez horas, eu deitado em casa e escutava a molecada brincando de esconde-esconde. “Acusado na casa da dona Olga”. Aí meu pai ia ver quem é que estava no quintal.
P/1 – Mas não era o senhor? O senhor estava deitado?
R – Eu estava lá, porque ele ia me pegar na rua pra tomar banho e deitar. No dia seguinte tinha que ir à escola. Mas eu tinha os meus amigos que estavam brincando até oito e meia, nove horas, aí era hora de dormir, e tinha que dormir. O dia a dia que eu posso lhe dizer é o que toda criança faz: levantar cedo, estudar, fazer lição de casa, ir pra escola.
P/2 – O senhor falou um pouco do vestibular. A escola era forte?
R – É. O vestibular foi uma coisa que marca muito a vida da gente.
P/2 – Com seis anos?
R – É. Eu comecei a fazer vestibular desde os seis anos pra entrar na Caetano de Campos, depois eu fiz o quarto ano de grupo e ganhei o diploma de grupo escolar, pra entrar no Colégio São Luís, porque o meu pai tinha melhorado de vida. Ele andou meio apertado na Revolução de 32. Ele havia quebrado a base do crânio num desastre que ele teve e ficou muito atrapalhado de vida financeiramente. Quando ele começou a melhorar, acabei o Caetano de Campos, e a minha mãe, que era muito religiosa, quis que eu fosse estudar no colégio dos padres jesuítas. Eu tive que fazer mais um vestibular, que era pra pular a admissão. No quarto ano de grupo eu já pulava pra primeira série ginasial, então, mais um vestibular pra entrar no ginásio sem ter que fazer a admissão.
P/2 – Mas além dos vestibulares, que outras lembranças o senhor tem da escola?
R – No Colégio São Luís eu me dei muito bem com os padres, achei que ia ter uma formação formidável. Não ponho o porrete na mão de Deus pra te dar pancada. Sempre me pintaram um Deus de muito amor e um Deus – uma palavra que não se usa hoje em dia – de misericórdia. Um Deus sempre disposto a perdoar, de maneira que eu só tenho grandes lembranças nesse tempo de padre, de jesuíta; por isso eu sou católico. Graças a Deus, só peguei padres inteligentes nessa minha formação. Ensinaram a gente a andar na luz e sair do escuro, é preferível assim. Sempre acreditando que existe outra vida, que eu tenho uma alma imortal e que tenho que dar satisfação dela ao meu criador; que a minha obrigação nessa vida é ser feliz, porque, no Juízo Final – porque vai ter um Juízo Final –, a única pergunta que o criador vai me fazer é: “O que você fez da sua vida? Você foi feliz?” É a minha obrigação, ser feliz.
P/1 – Como é que foram os namoros, a sua adolescência?
R – Eu casei com uma moça que é meio prima minha; a minha sogra é prima-irmã do meu pai. Muito interessante: o meu pai e a minha sogra são primos-irmãos, porque a mãe do meu pai chamava-se Francisca, e a mãe da minha sogra chamava-se Amélia. As duas eram irmãs, a Amélia é irmã da Francisca. E elas são filhas de um cara formidável chamado Lino Perez. O meu neto chama-se Lino Perez, aquele que eu estava contando pra você antes da entrevista. Então Lino Perez é meu bisavô e da minha mulher. Somos bisnetos do mesmo homem.
P/2 – E quem que é o Lino Perez?
R – O Lino Perez é uma figura fantástica! Teve uma porção de filhas. A minha sogra é filha do José Maria Whitaker, um homem eminente, ministro de finanças, foi Ministro da Fazenda de Getúlio Vargas, depois, bem velho, com quase 80 anos, foi ministro novamente, mas não me lembro de quem.
P/1 – Do Sarney?
R – Não. Inclusive, quando o presidente saiu, falaram assim: “Sai um grande ministro e fica um pequeno presidente”. Avacalharam muito com ele, na época de história de confisco sobre o café. Você imagine que absurdo que era: o sujeito produz o café, o governo vende o café e pega uma parte pra ele, aí o sujeito diz: “Pô, o que o senhor...?” “Não, não. Eu estou pegando porque eu vou construir escolas, hospitais.” “Pelo amor de Deus, mas fui eu quem produziu o café, fui eu quem plantou, como o senhor vai me confiscar isso?” “Ah, mas eu vou dar um bom destino”. E, justamente, o meu avô queria acabar com esse confisco, porque isso era um roubo, um furto, mas ele não conseguiu pôr o ponto de vista dele; que eu me lembre, era isso, estou falando coisas de que me contaram. Então, caiu um grande ministro e ficou um pequeno presidente. Era o Café Filho! É isso, Café Filho!
P/1 – E o namoro?
R – Eu casei com essa moça, que se chama Maria Flora.
P/2 – Quantos anos o senhor tinha?
R – Eu casei em 55, tinha 24 anos. No dia seguinte eu fiz 25 (risos). Eu casei no dia 18, e no dia 19 fiz 25 anos. Tive quatro filhas com a dona Maria Flora, chamadas: Suzana, Flora, Branca e Lúcia; depois, me separei dela, e a vida continua. Casei-me com outra moça chamada Antônia, minha xará, de Anápolis, Goiás, e tive três filhas: Patrícia, Daniela e Carolina. E pra não ter ranço entre as crianças, a Lúcia, que é a do meu primeiro casamento, a caçula, batizou a Patrícia, que é a mais velha do segundo casamento. Então eu tenho uma filha que é a minha comadre (risos), aí acaba com conversa fiada, e as sete se dão muito bem.
P/1 – Sete filhas?
R – Sete filhas. E eu sempre brinco que é por enquanto, porque eu fiquei viúvo (risos). A gente não sabe, de repente (risos)...
P/1 – E o senhor não tem uma namorada?
R – Tenho.
P/1 – Me conta a história dessa namorada.
R – Parece coisa de novela essa história, novela da Rede Globo, pelo menos. Eu fui casado, tive quatro filhas, me desquitei, e no interim de uns sete, oito anos, conheci uma moça chamada Lucimar. Nunca tive filhos com ela, mas convivi com ela. Não deu certo no final de alguns anos. Ela seguiu o destino dela, e eu segui o meu. Ela se casou, teve uma filha, uma moça muito boa gente, muito sangue bom, chamada Paula; e eu me casei com a Antônia e tive mais três filhas. Ela ficou viúva – o marido morreu jogando tênis, teve um enfarte fulminante. A minha mulher morreu quando que um ônibus deu uma trombada no carro dela – eu fiquei viúvo. Ela ligou pra me desejar os pêsames e disse: “Olha, eu também fiquei viúva.” “Oh, não me diga?” Os dois viúvos, dois bestas (risos), que já tinham vivido juntos sete, oito anos. “E o que nós vamos fazer?” “Uai! O que temos que fazer!” Marcamos um encontro no Guarujá e lá fomos nós, “encachorramos” tudo de novo e foi isso.
P/1 – Isso é história de novela.
R – História de novela, só que ela é velhinha que nem eu (risos), mas dá pra esquentar (risos).
P/1 – E todas as filhas se dão bem? E a Paula, também entra no pacote?
R – Entra. Eu tenho uma filha que mora em Paraty, uma filha muito especial, chamada Flora Maria. Ela é professora, diretora do ginásio, uma moça de um valor extraordinário, tem quatro filhos e agora está passando por um momento muito difícil porque perdeu o filho mais velho; foi assassinado num assalto para roubarem o carro dele. Mas ela é uma moça muito forte, conformada e está levando a vida, ela é muito especial. Ela foi pra Paraty e lá ficou, e está lá há 25 anos, ou mais até. A casa dela não tinha luz, água, telefone e nem geladeira. É pra entenderem os valores na vida. Ela entendeu logo cedo que não leva nem cifrão, não leva nada, valores são valores; a felicidade, que eu falei anteriormente, ela foi encontrar lá em Paraty. E essa minha filha é muito especial. Já que eu estou falando de uma filha muito especial, eu tenho outra que mora na selva Amazônica (risos), a caçula. Eu sou 50 anos mais velho que ela, eu não tenho muito juízo. Ela trabalha numa organização não governamental, eu acho que se chama Paz e Alegria. Ela é formada em Rádio e Televisão, Jornalismo, essas carreiras novas; e está lá pra ensinar coisas fundamentais tal como cidadania. O camarada que vive numa palafita na beira do rio não tem nada, não sabe nem quem é o presidente do Brasil, não sabe o que é ser brasileiro, não sabe nada da vida; e ela se dedica a isso e está lá na mais plena felicidade.
P/1 – Agora me diga como foi ser pai pro senhor. Mudou alguma das suas crenças, provou alguma coisa? Já que o senhor está falando das suas filhas, fale um pouco da sua experiência de ser pai.
R – Acho que é uma coisa fundamental, isso é que dá sentido à vida, isso que nos dá força, é isso que nos transforma verdadeiramente na pessoa que tem de matar um leão por dia, que tem que buscar soluções, um trabalho, saber da importância da vida. Porque o que importa é o continuar, é a renovação, é o renascer, isso é fundamental. E essa missão de crescer e multiplicar a gente tem que saber que tem que levar a bom termo. Eu acredito que depois que a gente tem os filhos é que a vida começa a fazer sentido, e a gente se sente completamente modificado. Antes a gente é micho, pequeno, depois dos filhos a gente passa a ter outra importância, pelo menos comigo foi assim.
P/1 – O que o senhor quer dizer com isso?
R – Porque você vê a possibilidade, a continuação. É a história. Você está olhando pra cara do guri: “E quando me descubro nos teus traços, quero que tudo em mim renasça e viva. Mas sei que vou partir, quando amanheces. É fatal que se cumpra a lei da vida”. Você vai morrer, mas ele está ali. Você entendeu o que é a tal da continuidade. É fatal que se cumpra a lei da vida. “Assim, pouco me importa, se eu sei que tu ficas, permaneces.”
P/1 – Isso quem falou? O senhor está falando ou o recitando?
R – Não. Isso é um poema do maior amigo que eu tenho, chamado Jorge Emílio Medauar, e o poema chama-se Meu Neto. Era um soneto, e quando ele só tinha um neto, ele dizia pra mim que era “um só neto” (risos), era um neto só, um só neto.
P/2 – O senhor gosta de poesia? Escreve também?
R – Gosto. Se me permite, não sei se cabe nessa entrevista.
P/2 – Pode falar.
R – Pois vai entender se eu gosto. O grande poeta mineiro, aquele do “No meio da estrada tinha uma pedra”, Carlos Drummond, tem uma quadra que eu vou dizer: “Se procurar bem, na certa encontrarás, não a explicação (duvidosa) da vida, mas a poesia (inexplicável) da vida”. Se você procurar, isso é a vida. Se você procurar bem, “Na certa encontrarás, não a explicação (duvidosa) da vida”. Você vai achar uma explicação duvidosa, “Mas a poesia (inexplicável) da vida.” A vida é uma poesia, tenha certeza disso.
P/1 – Eu queria entender um pouquinho como é que foi quando, mesmo casado e tendo as suas sete filhas, o senhor era um boêmio, saía na noite. Como é que foi essa junção?
R – É, mas isso não é conflitante, não (risos).
P/1 – Como é que era isso? O senhor saía? Como é que eram os bares? Como é que era a noite? Conta uma noite paulistana da época da sua.
R - Vários eventos. Eu tive duas casas de samba. Inclusive, velhos amigos que eu tive eram todos boêmios, ajudaram-me a beber as duas casas religiosamente (risos). Nós acabamos com as duas casas de samba, porque ninguém pagava ninguém, era uma pindura geral e eu fui pro brejo. Inclusive, quando eu estava na Rio Negro e Mitsubishi, eu tinha a casa de samba.
P/1 – O senhor tinha ao mesmo tempo, foi concomitante?
R – Ao mesmo tempo. Perguntaram-me “qual era o breakeven point”. Break, imagina se eu sabia isso? “Não sei, mas se tinha, nós bebemos.” É o tal do ponto de equilíbrio (risos) o breakeven. Acho que tinha no máximo um flash light. Se tiver que falar alguma palavra em inglês, vamos falar alguma que a gente conheça.
P/1 – Eu quero entender isso melhor, o senhor vai explicar isso pra mim.
R – Bom, se eu puder.
P/1 – Vamos ver se eu consigo entender, porque agora deu uma confusão geral. O senhor se formou em?
R – Em engenharia.
P/1 – E como foi essa sua escolha profissional de engenheiro?
R – Minha escolha, pra ser sincero, foi por influência do meu pai. O meu pai era engenheiro, me dava aulas de Matemática, de Física. E eu tinha obrigação de saber tudo, de Matemática, de Aritmética. Desde pequeno o meu pai me pajeou muito. O meu irmão, pra escapar dele, foi estudar Medicina, e eu falei: “Eu vou quebrar o galho do velho e fazer Engenharia”. Mas eu acho que, fundamentalmente, a minha formação é mais humanista, ela é mais pra Direito, pra Letras, sei lá, nunca Engenharia. Tanto assim que, na parte de Engenharia que eu falei, no fim, acabei sempre na parte comercial, contato com o cliente, de vendas, abrindo novos clientes, novos mercados, sempre foi por aí, nunca na parte altamente técnica. Pra conciliar, eu tinha uma saúde boa, nunca fui alcoólatra, porque não conseguia beber dois dias seguidos. Não é por mérito, foi porque não tinha condição de beber dois dias, porque morria: bebeu, morreu! Tinha que ter intervalo entre as bebedeiras por uma condição física, não mérito, porque se tivesse físico pra beber, eu acho que eu beberia dia e noite, porque o efeito é bom e eu sempre fui um homem tímido. Dá pra notar.
P/1 – Porque isso é uma virtude sua.
R – Não é? Pra me soltar um pouco, tomava uns goles, pra ficar meio florado (risos), desabrochar. Tive grandes amigos, um dos maiores chamava-se Antonio Basílio da Silva, o outro era o Aguinaldo Loyo Bechelli, o outro era o grande poeta Jorge Medauar. A gente se encontrava, e eram grandes noites de declamação de poemas e cantoria; e fui compadre de grandes sambistas, como Jorge Costa, João Rodrigues, uma porção de gente que cruzou a minha vida e que fez muito samba. Muito violão, muita cantoria, muita madrugada. Tinha o João Pereira Lima, primoroso instrumentista, que tocava bandolim; tinha os irmãos dele. Tem um conjunto que se chama Bando de Macambira, e o João falou: “Poxa! Precisa ver. É extraordinário esse camarada! Não tem o reconhecimento que eles, verdadeiramente, merecem”. O João Rodrigues, que é meu compadre, meu amigo, é um homem da noite, está com quase 60 anos, um compositor maior, instrumentista, cantor, uma voz privilegiada. O grande compositor Doutor Paulo Vanzolini sabe do valor de tudo isso que eu estou falando do João Rodrigues, foi grande amigo dele, cantor de todas as músicas do Vanzolini, do Bando de Macambira.
P/2 – E como é que foi? O senhor conheceu essas pessoas estudando na Poli [Escola Politécnica da USP]?
R – Não. É gostar de música, gostar das letras, me ligar muito às letras, o que dizia o samba, o que dizia o Noel Rosa, isso quando eu gostava muito de escutar, sempre ia escutar. Os grandes bares da noite tinham grandes cantores. Tinha um fantástico, pertinho da Santa Casa de Misericórdia, numa ruazinha chamada Rua Jesuíno Pascoal, chamado Arabesque, lá tinha José Domingos, um negão sangue bom, grande compositor, grande cantor. Ele e o João Rodrigues eram parceiros, se revezavam nas cantorias e nas declamações, porque declamavam poemas lindíssimos e cantavam; eu também ia lá e ele tocava violão enquanto eu dizia umas poesias, e a gente passava horas e horas lá. Falamos: “Vamos abrir uma casa de samba!”. Abri uma casa de samba junto com o meu compadre Jorge Costa. O Jorge Costa é outro injustiçado, é um dos maiores sambistas do Brasil, ninguém fala no Jorge Costa. Se quiserem fazer uma aposta, todos aqui cantam samba do Jorge Costa! Quer apostar comigo? E você nem sabe quem é o Jorge Costa: (cantando) “Triste madrugada foi aquela, que eu perdi meu violão...” Não sabe cantar? “Não fiz serenata pra ela...” Jorge Costa, tudo Jorge Costa; Moça Branca da Favela etc. De maneira que o Jorge Costa é meu compadre, e abrimos uma casa de samba chamada Casa de Bamba.
P/2 – Onde era?
R – A Casa de Bamba era num lugar onde tinha saído uma de música da pesada chamada Woodstock. Essa tal de Woodstock saiu e entrou a Casa de Bamba, ficava na Rua Álvaro de Carvalho; era ali, ali a gente cantou. Eu cheguei a ter uma vez na casa 16 sambistas, era uma pauleira danada.
P/2 – E nessa época o senhor era casado e estava tendo filhas?
R – Claro. Mas até levava as minhas filhas também, quando elas estavam mocinhas, 17 anos, 18 anos. Iam lá a Suzana, a Flora.
P/2 – E uma delas acabou seguindo a sua grande paixão.
R – Pois é, mas ela é jornalista. Ela é jornalista, da USP. Em casa é a primeira opção; a Flora também é da USP, porque dinheiro a gente não tinha, mas falava: “Vai estudar na USP.”.
P/2 – Ela é quem?
R – A Suzana. Estudava Jornalismo. E ela viu que o que ela gostava não era nada disso, o que ela gostava era de cantar. Então vai fazer o que gosta, vai ser feliz. Casou com um alemão, o Felix Wagner, que era tecladista do Arrigo Barnabé, e cantava, vocalista do Arrigo e depois do Itamar Assumpção; você vê que ela manda bala, ela é do ramo. E cantava alemão, Weill, Brecht e não sei o quê. É cantora, eu acho que das melhores, mas no Brasil o difícil é a mídia, se projetar, ter sucesso, porque pra ela isso não é importante. Pra ela o que importa é a satisfação dela.
P/2 – Seu Alberto, o senhor viveu toda a sua vida aqui em São Paulo, e São Paulo vai fazer 450 anos. O senhor aproveitou bastante essa cidade? Como é que é São Paulo pro senhor? Fale um pouco dessa cidade.
R – São Paulo! Quando eu era menino morava na Rua Tupi, esquina da Rua Doutor José Manuel. Lembro-me de acender o lampião de gás, passava o acendedor do lampião de gás, tinha uma vara que ele puxava uma valvulinha e tinha um pavilzinho pra acender, na esquina da minha casa, Rua Tupi com Rua Doutor José Manuel. São Paulo é a cidade, pra mim é tudo, é a minha paisagem materna. E eu ali naquele trecho da Rua Tupi, Rua Conselheiro Brotero, Rua Pacaembu, Avenida Pacaembu, Rua Goitacás, Rua Doutor Veiga Filho; é tão paisagem materna que eu não preciso nem da minha visão, posso perder a minha vista, eu sei chegar à padaria, eu sei chegar à farmácia, sei chegar à banca de jornal; o cheiro, os ruídos. São Paulo é uma coisa que está no meu coração. Tudo pra mim é essa cidade que, infelizmente, ficou muito violenta, mas, se Deus quiser, tudo vai chegar ao lugar, com o Lula, com o PT. Votei quatro vezes no homem (risos), e ninguém me entendia, diziam que eu era imbecil. No fim, mais 35 milhões foram imbecis que nem eu. Não é verdade? E eu já tinha votado no homem, ele só perdia.
P/1 – Onde era a sua segunda casa de samba?
R – A segunda casa de samba era de onde saiu aquele Juca Chaves. Ele tinha uma casa que se chamava Menestrel, aí nós entramos lá, na Rua Cardeal Arcoverde, lá em cima, quase esquina, bem no alto. Agora não me lembro do nome da rua. Foi com o João Rodrigues, que eu te disse que era do Arabesque. O João Rodrigues teve lá uma casa, mas segundo ele, aquela casa ali tinha o que ele chama de “malaúria” – “malaúria” é caveira de burro –, então, não deu certo. Pouca clientela. Achavam fora de mão, não ia ninguém. Foi definhando e não teve sucesso, aí a gente bebeu o estoque e fechamos (risos).
P/1 – E agora, pra concluir, se o senhor pudesse falar, quais foram as lições que o senhor tirou da sua vida? Conclua. Como o senhor gostaria de colocar? Uma mensagem, alguma coisa?
R – O [Jorge Luis] Borges já disse tudo. Se tivesse uma nova vida pela frente, o que a gente iria fazer? Ele diz: “Na próxima eu trataria de cometer mais erros.” Isso é tão importante, não é? O sujeito não pode é ser omisso. O sujeito não pode é ficar em cima do muro. Eu acho que Guimarães Rosa também diz: “Viver é muito perigoso.” Mas é viver, precisa entender o verbo. “Viver é muito perigoso.” Vamos viver, minha gente! Não é? E se me permite, pra encerrar, tem um poeta novo, gaúcho, que chama Carpinejar. Escreveu com pouca idade, acho que tem 30 ou 31 anos, escreveu um livro como se ele estivesse na terceira idade, com 73 anos ou 74 anos, que é a minha idade. É muito bacana, ele dizia: “Pode ser que eu não chegue lá, então deixa eu escrever o que eu acho que eu iria sentir quando fosse um velho”.
Recolher