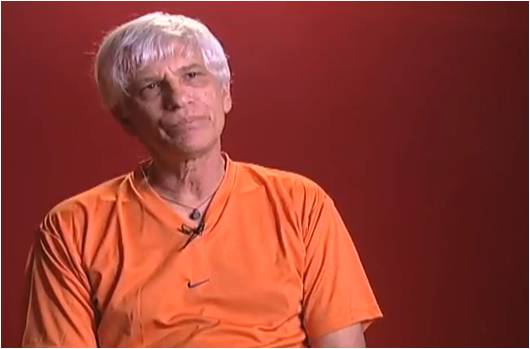P/1 – Então Maria Helena, retomando, eu queria que você dissesse para a gente o seu nome completo, local e data de nascimento.
R - Nome: Maria Helena Rocha Iglesias de Gendre Vidal, eu nasci na cidade de Lourenço Marques que era a capital da Província de Moçambique, na época, província ultramarina de Portugal, na África Oriental Portuguesa. 21 de abril de 1944.
P/1 – O nome dos seus pais, por favor.
R – O pai, nascido em Portugal, Emílio Guimarães Iglesias e a mãe também, em Portugal, Maria Flora da Conceição Rocha Iglesias.
P/1 – E sua mãe era nascida onde?
R – No sul de Portugal, no Algarve.
P/1 – Você sabe em que contexto eles foram para Moçambique?
R – Eles casaram, meu pai já estava a trabalhar em Moçambique, era jornalista, inclusive eles casaram por procuração. A minha mãe teve que ir depois, vários fatores, eu nunca soube direito, impediram que ela fosse junto. Ele tinha que estar presente no trabalho dele, então ela se casou por procuração e depois foi para Moçambique pelo Canal Suez, naquela época ainda não tinha problema de travessia. Depois ficou complicado fazer a travessia. Uma coisa exótica, ela passou pelo Egito, porque aquilo ali atravessa o Egito e ficou com uma recordação e um arquivo fotográfico até muito interessante. Não era toda a gente que passava no canal de Suez, num navio alemão. E depois eles ficaram a morar na capital, em Lourenço Marques e meu pai trabalhava para os Correios, Telégrafos e Telefones, embora fosse jornalista. Na Primeira Guerra Mundial, ele tinha andado em submarinos, então ele entendia muito de Morse, telegrafia sem fio. Depois ele começou a instalar estações de rádio pelo país e diz a minha mãe, pelas fotos, que eu fiquei lá uns dois anos, desde o nascimento em Lourenço Marques e depois fomos indo até o norte. Mais tarde o meu pai adoeceu e nós tivemos que voltar pra capital, então eu sou bem urbana....
Continuar leituraP/1 – Então Maria Helena, retomando, eu queria que você dissesse para a gente o seu nome completo, local e data de nascimento.
R - Nome: Maria Helena Rocha Iglesias de Gendre Vidal, eu nasci na cidade de Lourenço Marques que era a capital da Província de Moçambique, na época, província ultramarina de Portugal, na África Oriental Portuguesa. 21 de abril de 1944.
P/1 – O nome dos seus pais, por favor.
R – O pai, nascido em Portugal, Emílio Guimarães Iglesias e a mãe também, em Portugal, Maria Flora da Conceição Rocha Iglesias.
P/1 – E sua mãe era nascida onde?
R – No sul de Portugal, no Algarve.
P/1 – Você sabe em que contexto eles foram para Moçambique?
R – Eles casaram, meu pai já estava a trabalhar em Moçambique, era jornalista, inclusive eles casaram por procuração. A minha mãe teve que ir depois, vários fatores, eu nunca soube direito, impediram que ela fosse junto. Ele tinha que estar presente no trabalho dele, então ela se casou por procuração e depois foi para Moçambique pelo Canal Suez, naquela época ainda não tinha problema de travessia. Depois ficou complicado fazer a travessia. Uma coisa exótica, ela passou pelo Egito, porque aquilo ali atravessa o Egito e ficou com uma recordação e um arquivo fotográfico até muito interessante. Não era toda a gente que passava no canal de Suez, num navio alemão. E depois eles ficaram a morar na capital, em Lourenço Marques e meu pai trabalhava para os Correios, Telégrafos e Telefones, embora fosse jornalista. Na Primeira Guerra Mundial, ele tinha andado em submarinos, então ele entendia muito de Morse, telegrafia sem fio. Depois ele começou a instalar estações de rádio pelo país e diz a minha mãe, pelas fotos, que eu fiquei lá uns dois anos, desde o nascimento em Lourenço Marques e depois fomos indo até o norte. Mais tarde o meu pai adoeceu e nós tivemos que voltar pra capital, então eu sou bem urbana. Acabei ficando lá, estudando, até terminar os estudos, até onde havia estudos em Moçambique. O António de Oliveira Salazar, que era o primeiro ministro português, ele impediu que se abrisse universidades. Depois, abriram-se mais tarde, mas aí eu já tinha casado, estava a quinhentos quilômetros de distância da capital e lamentavelmente tive que me tornar autodidata, não tive como estudar. Só tinha feito até o Colegial. Só que da minha casa, os amigos do meu pai eram jornalistas também, escritores, gente ligada à cultura escrita, alguns de rádio também – não havia televisão na época. Eu sempre pertenci a um grupo de gente culta e acabou por ser a minha universidade. Eu consegui ir absorvendo sempre informações e determinada cultura até da experiência das viagens que esses amigos do meu pai faziam e que ele também já tinham feito. História, Geografia, todos falavam vários idiomas para se poderem fazer entender fora de Moçambique, acabou por ser muito grato, mas eu tinha aquela ânsia de querer estudar mais. Quando eu estava um pouco mais velha, com quinze, dezesseis anos, quando acabei o Colegial, ficou mais ou menos acertado que eu iria estudar para Sorbonne, eu tinha me apaixonado pelo André Malraux, que era Ministro da Cultura do De Gaulle, mais tarde foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. A sua obra, a Condição Humana, que ele tinha escrito foi apaixonante e tal. E aí eu fiquei a chorar essas lágrimas amargas, porque como eu já nasci fora de tempo, meus pais já estavam a ficar mais velhotes, por problemas de engravidar da minha mãe, não aceitaram se afastar de mim, que eu era filha única, e eu sonhei com Paris e não fui lá até hoje. Tenho ido para vários lugares, tem qualquer coisa, mas eu tenho que quebrar esse tabu, a ver se eu vou visitar Paris, brevemente.
P/1 – Sua mãe tinha uma atividade profissional também?
R – Ela ficava em casa, ela tinha estudado, estudou numa escola técnica que é o que existia lá, pra se ocupar, aprendeu datilografia, porque ela escrevia. Meu pai era jornalista, embora depois trabalhasse no departamento de telégrafo. Minha mãe escrevia e tinha sempre um jornal ou uma revista que publicava os escritos dela. Então foi sempre assim, no meio de gente que gostava de ler e de escrever, que eu vivi desde criança.
P/1 – Você se lembra como era sua casa de infância, você tem recordações?
R – Eu andei por várias casas por causa do tipo de trabalho do meu pai. Era chamado de transferências, andando de um lugar para o outro pra montar as estações de rádio. Chamava Rádio Marconi, na época. Depois ele acabou por vir, ele teve um esgotamento cerebral por acúmulo de trabalho e teve que ser internado numa clínica, inclusive isso ficou muito marcado na minha vida, porque pra tratarem da amnésia, ele ficou amnésico, só que como ele tinha uma bagagem cultural grande, ele normalmente vivenciava algum rei da Inglaterra. Então mesmo nesse processo amnésico, ele sempre criava um ambiente de nível cultural, porque era o que ele gostava. Eu lembro que minha mãe teve que me levar junto, não sei bem por quê, e me impressionou muito, porque tinha lá alguns com distúrbios e eram agressivos. Ele não, ele ficava tranquilo. Mas era o único lugar que aceitavam pessoas no caso dele que tinha perdido a memória por esgotamento cerebral. E teve que ser tratado com eletrochoque. É uma coisa que parece, não é cadeira elétrica, mas dão choques na cabeça. Coisa bem antiquada e bem feudal. Depois injetavam insulina num processo que eu não sei exatamente como funciona e depois ele ficava tranquilo. Até que passados dois anos ele pode vir para casa, recuperou a memória, mas sempre ficou com um trauma, ficava nervoso, mas não que afetasse a memória, tanto que depois, que eu tinha deveres de escola de História e Geografia, coisas que é preciso decorar, ele sabia datas, detalhes, guerras, conquistas, desde as Cruzadas. Eu me lembro, embora ele fosse muito velho pra mim. Ele tinha idade para ser meu avô. Quando eu nasci minha mãe tinha quarenta e um anos e ele ia fazer cinquenta e seis, era quinze anos mais velho que ela, então... Tinha um detalhe interessante, que ele embranqueceu muito cedo, porque ele tinha sido casado em Portugal, tinha tido duas filhas. E, na época, morriam muitas pessoas de tuberculose, porque não tinha um tratamento eficaz para combater a tuberculose. E, em duas semanas, ele perdeu a mulher e as filhas e, em uma manhã, os amigos foram visitá-lo para o abraçarem, darem apoio, e quando olharam para ele, estava com o cabelo todo branco, então foi assim, meio chocante. Ele teve o cabelo todo branco, mesmo jovem. Eu era muito pequena e eu lembro-me que os amigos dele, porque quando eu nasci ele já tinha cinquenta e seis e tinha cabelo branco há muito tempo, eu achava que os homens todos tinham que ter cabelo branco porque todos tinham cabelos brancos, os que iam lá em casa. E eu fiquei semi-interna num colégio de freiras que era o melhor da cidade para que minha mãe pudesse ir lá na clínica visitar meu pai. Fora essas vezes, por alguma razão, eu não fiquei no colégio. As freiras eram, na verdade, muito boas, como educadoras, na parte de instrução também eram boas, mas tinha a parte de educação que elas eram melhores porque ocupavam parte do dia para a gente rezar. Então ficou aquela formação religiosa. Eu ajudava na capela, a cortar as hóstias, a limpar os dourados do padre, todo tipo de trajes religiosos que os padres usavam. Então eu tive toda uma formação, até teve uma época que eu quis ir para freira, toda aquela influência de lidar com as freiras. Teve um caso interessante, eu entrei com três anos de idade, abriram uma exceção, porque não havia pré na época, nem jardim como tem agora. Mas como tinha esse caso, meu pai estava doente, a minha mãe não podia estar em casa e eu era filha única, também não existiam muitas babás na época, eu ficava no colégio semi-interno, quando eu ia para casa era só para dormir, fazia os deveres lá também. Às vezes, o meu pai gostava de ensinar alguma coisa. Quando eu tinha nove anos, eu estava a aprender a nadar, e estava a ganhar umas medalhas e uma das vezes apareceu no jornal, o Estadão da vida, uma Folha de São Paulo, que era o jornal notícias de Lourenço Marques e apareceu uma foto minha, eu estava com uma medalha, toda feliz. Porque havia poucas crianças ainda que estavam a aprender a natação. Achavam aquilo uma coisa do outro mundo, era meio atrasado. E a minha mãe foi chamada, tinha um maiô, todo em lastex, eu com nove anos. A superiora do colégio chamou minha mãe e disse que aquela foto era muito escandalosa e se eu continuasse a despir-me daquele jeito, elas me expulsavam do colégio. A minha mãe ficou muito chocada, tirou-me, aí só tive uma chance, fui para uma escola pública. Porque não tinha escolas particulares. Era só o Colégio chamado Antonio Barroso, que era o nome de um Cardeal que eles quiseram homenagear. Então fui para a Escola Correa da Silva. E eu estranhei muito porque a professora quando queria castigar os alunos, a diretora da escola era meio desequilibrada, e foi quando eu comecei a apanhar nas mãos com palmatória. Eu fiquei num estado de choque, sabe, sem ter feito nada. Ela punha todos em fila, coisa mesmo feudal, na época. E depois, mais tarde, eu entrei para o Ensino Secundário, que seria aqui o Ginásio, quinta série e tal. Mas não fui estudar para Portugal porque não tinha universidade, então terminavam o Colegial e o pessoal tinha que ir embora, ou ia estudar na África do Sul ou na Inglaterra, algum país da Europa, mas muitas vezes em Portugal, que teve sempre um ensino de alto nível, embora fosse um país pobre e com muitos analfabetos. O nível de ensino nas universidades sempre foi muito bom, pra quem conseguia entrar.
P/1 – Nessa escola pública você ficou até completar o Ginásio ou o Colegial?
R – Na escola pública eu só fiz a instrução primária, porque era só para Primário. Depois eu passei para a Escola Comercial.
P/1 – Comercial?
R – Havia o Liceu que fazia da quinta série até o terceiro colegial, mas a minha mãe vendo que eu era filha única e não queria que eu me afastasse deles, pôs-me na Escola Técnica para que fosse especializada assim, ser contadora, alguma coisa prática. Mas eu paralelamente a isso, sem ela saber, eu ia estudar, porque eu tinha colegas do Liceu Salazar que... os próprios gregos usavam o nome Liceu que era quando começava o estudo secundário. Porque eram vizinhas, as escolas, só tinha uma rede, uma grade com uma rede separando as duas escolas. Eu sempre olhava para o Liceu e chorava muito, porque eu não tinha nenhuma tendência para fazer uma coisa comercial, achei aquilo irritante e acabava por estudar de uma maneira meio ilegal lá em casa pra acompanhar como era o Liceu, e, mais tarde, eu prestei os exames e deu para passar, como se fosse cursinho. Aí eu empaquei, porque depois eu tinha que me deslocar geograficamente pra poder continuar a estudar, foi sempre a minha pena. E as pessoas aqui no Brasil, já estou a pular...
P/1 – Não, tudo bem.
R – Aqui no Brasil, sempre perguntam, porque acham que eu tenho bastante cultura, e eu depois fico a sorrir e às vezes com vontade de chorar. “Olha, quem, frequenta faculdade aqui, não consegue ter a sua cultura”. “Que faculdade você frequentou?” “Olhe, os meus professores eram os jornalistas amigos do meu pai”. Muitas vezes eles não sabiam que eu estava a ouvir as conversas. Então tinha assim uma série de palavras, eu comecei a fazer isso, com oito ou nove anos. Antes eu não entendia direito, só via que todos tinham cabelo branco, essa parte visual, que é o que a criança pega. Depois, andei no meio das freiras, então é interessante essa universidade que eu frequentei, até parece uma bênção, porque a vida sempre dá um equilíbrio, quando parece que tira uma coisa, surge outra coisa para compensar. Aqui, eu ainda pensei em estudar, mas como eu me apaixonei pelo meu trabalho lá na Associação de Cavalo Árabe, comecei só a fazer Literatura para minha alegria e realização. Fiz ainda vestibular mas depois não quis continuar porque na universidade, cada tipo de faculdade, dá dez matérias, por exemplo e duas é que interessam para você. As outras é a tal cultura geral que no fim a pessoa não absorve nem nada. Então achei que... já estava com os filhos, aí que não ia dar tempo, eu preferia fazer coisas que me dessem prazer, já que eu tinha vivido contrariada tantos anos por não conseguir cultura, com um detalhe, o Salazar, em Portugal, como era ditadura, extrema direita mesmo, proibia a entrada de livros em Moçambique pras pessoas nunca terem grande cultura, para poderem ser dominadas. Agora, o meu pai era perseguido, mais uma série de amigos, esses que iam lá em casa. Até costumavam dizer que aquilo ali era uma máfia, um clã separado porque diziam mal do governo, porque eles achavam que as pessoas não evoluíam, então não tinha condição de aceitarem, mas os jornalistas acabam por se informarem, embora não tivessem a facilidade de hoje. Ele nunca conseguiu ser nem vereador da Câmara porque achavam ele meio revolucionário, assim como o grupo que tinha o mesmo tipo de linguagem.
P/1 – Você estava falando da Universidade que foi os amigos jornalistas...
R – Depois teve esse plano de eu estudar na Sorbornne, aí eles descobriram que eu queria ter aulas com André Malraux, que dava aulas na Sorbornne, embora fosse Ministro da Cultura, porque ele gostava muito de fazer isso. Na época, eu não sabia porque eu gostava tanto dos textos dele, era socialista (risos) e eu vivendo num país daqueles. E meu pai era maçon, e mais tarde o Salazar mandou destruir tudo da maçonaria porque ficava fora do controle dele. Então, se eu tivesse trazido um anel, alguma coisa, na hora, eles são muito unidos, eu teria passado melhor do que eu passei. Esse tempo todo que eu estou no Brasil, logo que nós chegamos, foi muito chocante. O que eu queria dizer é o seguinte: eles proibiam entrada de livros em Moçambique, então o pessoal fazia como se estivessem transportando drogas. As malas tinham fundo falso pra poder pôr livros. Então eu estive por muitos anos sem poder ler nada. E minha mãe e meu pai diziam: “Não, tu és muito nova”, como eu tinha nascido fora de tempo, eu estava grande e para eles eu estava pequena, como se eu fosse neta deles. Então minha fome de leitura existe até hoje. E interessante é que depois eu me aproximei das pessoas que estão ligadas à Literatura. Poetas, escritores, jornalistas, eles sempre acham que eu fiz faculdade lá. Por causa dessa minha fome, estou sempre com eles estrangulados para ler lá em casa. E o que eu tenho mais lá em casa são livros.
P/1 – Mas o seu pai não era funcionário do governo?
R – Era, dos Correios, telefones e telégrafos, eram, pertenciam ao governo.
P/1 – Mas mesmo assim ele tinha uma postura crítica em relação à política do Salazar?
R – Ele não engolia a ditadura extrema direita que no fim ela tem pontos em comum com a extrema esquerda. Porque extremista, radical, para dominar o inconsciente coletivo, todo aquele processo, para que as pessoas não tenham pensamentos próprios.
P/2 – Agora, só continuando no assunto dos seus pais, mas mudando um pouquinho. Sua mãe era uma boa cozinheira?
R – Não. Ela fazia assim algumas coisas, mas ela não gostava de cozinhar. Minha mãe, quando era garota, ela tinha vários irmãos, punham ela de plantão a cozinhar. Então ela ficou com uma raiva, então ela morava no Algarve, que é como o Rio Grande do Sul aqui, era a última província de Portugal. Atualmente você indo lá, você deslumbra, o turismo lá, porque são lindas as praias. Ela fugiu para Lisboa, foi estudar e começou a trabalhar. Então aquele processo como tem agora, nas devidas proporções pra época, foi um escândalo, porque as mulheres não podiam ter grito de independência. Então, eu também não fico muito na cozinha, eu faço só o essencial, especialmente agora que eu não tenho ninguém em casa.
P/2 – Quando os amigos do seu pai iam visitar?
R – Ela fazia uns aperitivos, nos dias frios à noite, embora a gente vivesse em África, tinha uma época que era frio, ela sempre fazia um belo caldo verde que eles adoravam. Geralmente era uma sopa consistente, sempre com broa, que é como se fosse um pão italiano ainda mais consistente, típico de Portugal, e os padeiros aprenderam a fazer em Moçambique. Detalhe: nenhum padeiro era português, eram todos da Ilha de Chipre. Maior mistério. Como eu era garota, eu nunca me interessei em saber. Então eram todos cipriotas.
R – Existia essa recepção que ela fazia aos visitantes. Eu sei que ela servia coisas, mais tarde ela só fazia o essencial, porque ela devorava livros também. Acho que eu herdei um pouco.
P/2 – Como é essa coisa dos padeiros serem cipriotas?
R – É, não tinha padeiros portugueses. Fiquei extremamente espantada quando cheguei aqui e só tem padarias de portugueses. Nunca vi um português numa padaria. Em Moçambique era assim, generalizando. Sempre tem exceções como tem em qualquer lugar. As pessoas tinham uma base cultural boa e tinham ido para Moçambique, para uma nova terra. Como agora, que eu acho interessante quando falam do Tocantins, que está sendo povoado e tal. Porque são novos estados, por exemplo aqui no Brasil. Em lugares assim já iam pessoas com cultura pra Moçambique e depois importavam agricultores. Então tinha gente de classe média pra alta, não tinham de classe baixa, depois tinham os de trabalho braçal. Então tinha grandes comunidades de gente bem simples e quando houve a invasão, não é invasão, a chegada ao Brasil de muitos portugueses, sei lá há uns cinquenta, sessenta anos atrás, era tudo gente que não sabia ler, da roça, que em Portugal é o Trás-os-Montes, é o lugar mais pobre de Portugal, as terras são pobres, e eles viviam em casas de pedras. Eu já visitei Portugal e é chocante aquilo. Lugar frio e viviam numas casas com pedras assim amontoadas que agora serve para guardar lenha. Então obrigou eles a emigrar para muitos países, inclusive Brasil. Essa gente de padaria e lanchonete. É muito interessante porque a maioria não sabia nem assinar o nome, punha a impressão digital. Esses são os que estão muito bem de vida porque se sujeitavam a qualquer situação. Mais tarde, com a independência das províncias ultramarinas, tanto de Angola como de Moçambique, era gente com cultura, muitos como meu marido, por exemplo, acabou por morrer, porque ele teve que se sujeitar a ser muito mal pago, só porque ele tinha um intelecto mais desenvolvido e não ficava lavando chão e tal, essas coisas mais humildes, não que ele não quisesse, mas porque o pessoal achava ele muito fino, não iam chamá-lo para carregar caixa, servir de estivador em Santos. Sofreram muito mais esses portugueses que vieram mais tarde, com mais cultura, com a descolonização das províncias ultramarinas do que esses primeiros que chegaram aqui. Eu noto isso. Agora eu noto uma coisa.
(Interferências)
R – Nós chegamos ao Brasil, a irmã do meu marido, uma delas, morava na Alameda Franca. Ela tinha fugido de Moçambique um ano antes. O marido dela era especialista em plantio de cana de açúcar, então teve facilidade em arrumar emprego aqui. Depois nós mudamos para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, quando conseguimos enfim um fiador, porque o maior drama é que a gente tinha tido sempre casa própria, queríamos chorar, ficamos noites assim sem dormir e tal. Eu achava interessante, um espanto. Ninguém tinha me dado nenhum tipo de subsídio, quando eu vi aquela gente com um sotaque muito carregado de Portugal, na lanchonete da esquina. Porque a posição estratégica, normalmente elas ficam nas esquinas. Foi uma coisa que depois eu observei e achei muito engraçado. Esses senhores: “Ah, a senhora é portuguesa?” “Sou, sou de Moçambique.” Quando subo um pouco mais na minha história, ele começou a ficar com uma postura tão desconfiada que eu deixei de ir lá, eu vi o que eu passava. O meu marido era muito expansivo, era uma pessoa muito agradável, conversante, uma pessoa alegre com muito senso de humor e criou uma certa amizade com o dono da lanchonete, com o senhor Victor. Queixou-se: “A sua senhora veio aqui algumas vezes, depois ela parou de vir, ela nem olha para dizer bom dia e tal”. Ele falou: “É melhor tu ires lá que ele está com uma má impressão”. Eu disse: “Eu estou tão preocupada...”“Me diz o que aconteceu.” Eu disse: “Aconteceu isso assim, assim, assim…” Começou a querer me maltratar desconfiado que eu ia pedir dinheiro a ele. Um dia eu passei lá, pedi um refrigerante e ele disse: “ Ah, que bom que a senhora veio...” Eu estava assim meio sem graça. “A senhora não se ofende se eu perguntar porque a senhora não parou mais aqui na lanchonete?” “O senhor teve uma postura que me deixou muito mal, porque nós ficamos sem nada, mas eu não ia vir aqui para lhe assaltar, pedindo dinheiro só porque nós dois somos portugueses. Aliás somos muito diferentes. Eu nasci num país parecido com o Brasil e vocês nasceram em Portugal e se o senhor veio para cá é porque achou que valia a pena e sua postura é bem de Portugal. A sensação é que o senhor não absorveu nada de um país tropical, de ficar mais descontraído. Uma vez eu pedi-lhe um copo d’água, eu não sei se o senhor pensou que eu queria ficar na sua casa, a comer à sua custa. Eu fiquei chocada porque eu estive onze anos num campo de concentração, minha escala de valores mudou e então...” Eu fiquei brava com ele, sabe. E depois eu comecei a notar essa postura, agora eu tiro de letra, mas eu tenho vinte e cinco anos de treino no Brasil pra lidar com eles. Os meus bons amigos, nenhum é português.
P/1 – Você chegou a ir para Portugal antes da Independência?
R – Não. Então, foi assim, a minha mãe queria ir ver a família em Portugal antes de vir para o Brasil porque ela sabia que aqui nós não íamos ter dinheiro, íamos ter tempos muito difíceis. Nós vivíamos muito de uma maneira bem folgada em Moçambique, tínhamos muito, quer dizer, bastante dinheiro, casa própria, três carros, um jipe para andar na selva, pra fazer safáris e tal.
P/2 – A senhora não conseguiu vender nada disso?
R – Não. Foi tudo nacionalizado. E quando veio a Independência minha mãe disse: “Eu vou ficar aqui, eu vou embarcar, eu vou a Portugal ver as tuas tias, minhas sobrinhas e depois eu vou para o Brasil”. Ela tinha guardado um dinheiro para pagar inclusive a passagem de Lisboa a São Paulo. Nós viemos embora e, nove meses depois, as filas eram tão grandes que estavam sempre lotados, os aviões da TAP, nunca tinha lugar. Então ela desistiu porque ela começou a sentir-se muito só, começou a ficar uma coisa muito terrorista e ela ficava com medo de andar na rua, embora as pessoas não a maltratassem, de ela ser velhota, não vai ser espiã, coitada já velhota. Então ela veio direto para São Paulo e ficou aqui até morrer. Então teve assim uns episódios, eu pulo umas coisas que eu não me lembro direito. Mas nós chegamos aqui no dia 24 de maio de 1976 e estava um grau. Minha cunhada levou-nos à Paulista para mostrar uma avenida grande e eu lembro-me que os escapes dos carros eram sempre barulhentos, e nós estávamos com trauma de rajadas de metralhadora da capital. Depois ficamos na capital. Morávamos no interior e depois fomos para a capital. E eu lembro-me que nós todos tivemos uma reação instantânea que parecia ensaiada. O primeiro escape que deu “pah!”, nos atiramos no chão. Corremos atrás de uma das floreiras, já tinha na época na Paulista, em algum lugar ali perto do Masp, sei lá. Todo mundo pensou que a gente estava a fazer uma coreografia para alguma coisa. E eu estava com um aspecto assustador, porque de toda a família, eu tinha sido a única que tinha ficado nesse agrupamento acampado. Estava com um aspecto, não estava esquelética, mas estava muito magra, muito pálida, com os olhos exorbitados, assustada, o cabelo horroroso, pois eu cortei o cabelo meio curto. Estava com um aspecto fantasmagórico. Eu era a que tinha pior aspecto. Eu vou e venho tá, com as informações.
P/1 – Tudo bem.
P/1 – Então, eu queria saber um pouquinho mais de Moçambique, você que nasceu e morou lá e depois veio para cá já deve ter refletido a respeito disso, um pouco das práticas culturais, da diferença de costumes, classes sociais, de costumes mesmo. Comida, clima, temperamento do português, do moçambicano e do brasileiro.
R – Eu achei interessante, depois eu me formei porque minha formação era de colégio de freiras, na época usavam-se saias compridas, uma coisa assim secular. Uma coisa que eu comecei a estranhar foi quando eu saí do convento e fui para a escola pública. Tinha muita gente pobre na escola pública e no colégio não. Começou logo por aí. Eu sempre me interessei muito em me aproximar de pessoas que estavam sozinhas, não sei por que razão, talvez pela minha maneira de ser. Aqui as pessoas me chamam de Madre Maria de Moçambique. Sempre que posso, as coisas passam pela minha mão, às vezes eu fico sem elas. Vejo que os outros estão a precisar e eu dou, porque eu tive um grande treino de desapego num campo de concentração. Eu tinha sido altamente treinada para ser apegada a coisas, valores que já provou que não interessa, com a saída de lá. Mas eu achava interessante, aí eu notei uma coisa, depois eu perguntava... as professoras tinham que ter feito escola normal em Coimbra que é o lugar de Portugal, que normalmente as áreas universitárias é que tem a língua mais clara, eram os que tinham menos sons estranhos pra chiar, falar e tal. Então foi sempre muito interessante a toada na escola primária, eu achei interessante aqueles sons das professoras que eram diferentes das freiras. Elas sempre falavam com uma voz mais velada, parecia que a gente sempre estava no claustro. E ficava uma coisa meio monótona porque elas não tinham alteração de som. Então parece que eu tinha sido atirada às feras. Eu me sentia nua, desprotegida e depois com aquelas pancadas nas mãos. E eu era muito tranquila, sempre que eu apanhei, eu nunca tive culpa, porque tem crianças... mas eu tinha me habituado a ficar quieta porque eu sempre ficava em classes onde eu era a mais nova. Aí eu ficava curiosa pra ver, às vezes aqueles grandes tinham uma diferença de um ano ou dois, mas eram os mais velhos, quando a gente é muito criança tem isso. E sempre foi assim na minha vida, agora na Associação, eu sou a mais velha. Depois, qualquer desequilíbrio... acabei por me habituar, creio. Então eu observei que até a classe de professorado era um clã diferente, aí eu continuei a ir à piscina porque não tinha nenhuma madre superiora a me acusar de assassinato ao pudor.
P/1 – A piscina o que era, um clube?
R – Era. Associação dos Velhos Colonos.
P/2 – Me diga uma coisa, na escola eram só brancos?
R – Eram misturados, só que a chance... Na escola primária ainda apareceram bastante. Agora quando chegou ao Secundário, aí rarearam. Porque não eram muitos os negros que tinham condição social para fazer isso. Embora dissessem que não eram racistas. As pessoas nascidas em Portugal, todas eram racistas. O meu pai era uma das exceções, talvez porque ele tivesse um espírito aberto. Nós tínhamos sempre criados, que faziam os trabalhos. Era como num império. O menu é sempre igual na colonização. Já houve histórias da Angola, de Macau, do Timor, é igual. O manual de instruções que eles aplicam, a base, é igual. A minha mãe, por alguma razão, ela achava que era importante, batia na cara deles e eu sempre chorava, achava aquilo o cúmulo. Então ela era racista, mesmo. Eu ficava incomodada com aquilo. Ela achava que eu era muito boazinha. Eu nasci aqui, eles são iguais a mim. Ela queria me matar por eu dizer essas coisas.
P/1 – Mas na escola vocês entravam também, os brancos entravam na palmatória?
R – Sim.
P/2 – Mas não no colégio de freiras?
R – Não, não tinha nenhuma pessoa de cor lá.
P/1 – Era pago?
R – Era pago. Eu tinha um desconto porque nas condições que meu pai estava, foi obrigado a aposentar-se. Ficou um tempo fora do trabalho e não sabia se ele ia ter capacidade de recuperar a memória, foi até um espanto que, em dois anos, ele tenha recuperado totalmente a memória. Então, eu desde cedo lidei com essas diferenças. Eu, mais tarde, com os meus filhos, eles brincavam com garotos negros, eu fazia questão. Então quando nós viemos embora – eu vou pulando as épocas. Quando nós viemos embora tinha uma série de negros no aeroporto chorando. Alguns vestiram trajes tribais como homenagem, sabiam que a gente gostava e as tropas de Samora Machel maltratavam-nos muito. Não admitiam que um negro estivesse a chorar por um branco que tinha destruído o país e que tinha posto lá coisas corruptas. O enfoque dos nativos da terra que tinha sido invadida por colonização é isso. Eu depois entendi uma série de coisas à distância, lá passavam desapercebidas, por exemplo, lugares onde eu vou hoje no Brasil que eu quero conhecer, lá eu sempre transferi, é o que acontece com o pessoal da terra. Muitos brasileiros não conhecem o Memorial da América Latina, eu conheço porque eu tenho que levar estrangeiros lá. Mesmo eu sendo estrangeira, embora eu me sinta muito brasileira já, existe sempre essa curiosidade, por exemplo, Barragem de Cahora Bassa que é um monumento, que tinha capitais estrangeiros, que foi no norte aliás, depois aí começaram a fazer os agrupamentos para tomar o país. Virou um lugar muito perigoso. Mas muita gente foi lá para visitar e eu nunca me interessei. A gente acha quando é muito novo que a gente vai ter muito tempo, vai viver mil anos. E nunca passou pela cabeça que um dia ia sair de lá. Eu delirava quando lia, sabe o que eu lia: a revista O Cruzeiro, incrível os textos de Carlos Lacerda e ficava chocada com as fotos das favelas. Porque sempre teve sensacionalismo, como os meninos da Candelária, e eu sempre combato isso quando vem estrangeiros. Então eles me acham com uma sabedoria grande, mas você acumula com as experiências que você tem na vida.
P/2 – Os meninos da Candelária, você acha...
R – Houve aquela chacina lá. Então normalmente fora, muitas vezes.
P/2 – Mas isso não existia em Moçambique, chacinas e favelas?
R – Existia, mas o interessante é que eles não passavam fome, como passam agora. Tinham crianças com roupas simples, principalmente os negros, eles viviam pior que nós. Embora eles dissessem que não era verdade, era verdade. E eu viajava, depois de ter casado, eu viajava cinco ou seis vezes por ano pra África do Sul. Porque meu marido trabalhava para uma empresa de contratação de mão de obra de negros para as minas da África do Sul, cuja sede era em Johannesburg, que é uma cidade, digamos para a África do Sul é São Paulo, indústrias. Eu me perdi, de vez em quando eu caio no vazio. Então, eu ia na África do Sul, e é famoso o apartheid da África do Sul, e eu dizia: “Mas lá também tem”. Só que os portugueses não são tão honestos como os ingleses. Os ingleses declaravam abertamente: “A gente não gosta deles e ponto final”. É incrível que eu não sabia que isso estava tão dentro de mim, que é muito coerente porque eu nasci num país negro. Logo quando eu cheguei no Brasil, logo nas primeiras semanas, eu vi como tem racismo aqui. Aparentemente não parece ter.
P/1 – Como você captou isso, você tem um exemplo pra dar?
R – Até em lugares assim públicos, agora eu não me lembro detalhes. Por exemplo, para entrar num ônibus, as pessoas empurravam um negro na frente pra subir, empurravam eles para trás, às vezes eles caíam. São pequenos detalhes que nem um brasileiro nota. Eu fiquei tão chocada porque eu pensei que tinha me livrado disso lá. Eu não sabia muito da escravatura daqui porque nunca deram muito sobre o Brasil.
P/1 – Que concepção você tinha de Brasil?
R – Olha, tinha das favelas, a minha concepção era através da revista O Cruzeiro. Que eu nunca tinha falado com ninguém do Brasil. Era muito longe, como se fosse outra galáxia, eu adorava ver as fotos que tinham praias, eu dizia “ah, são iguais as daqui”, água tão azul, provavelmente é do Norte, Natal, sei lá. Mas eu ficava alucinada com as matérias do Carlos Lacerda.
P/1 – E na escola, você não tinha nada do Brasil, como ex-colônia de Portugal?
R – Falavam que era a maior colônia portuguesa, só. Eu fiquei impressionada quando eu soube que a Amália Rodrigues, que era a maior fadista portuguesa tinha casado com um empresário brasileiro. Achava esquisito aquilo, porque ela tinha casado com um brasileiro, porque ela foi tão longe. Ah, meu Deus, que trânsito. Agora eu dou risada, mas na época... Porque é sempre aquela coisa, você vive enjaulada na cultura que passam para você e cultura de países tradicionais, em Moçambique já tinham descontraído um pouco, até por ser calor, as pessoas vem para fora. Vivem enjauladas e tudo, que ultrapassa aquela camisa de força, é tudo errado. E a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, eu fui educada, eu cortava hóstias, eu limpava os metais do padre, tocava órgão, eu mexia nos pedais daqueles órgãos antigos, mas só há muito pouco tempo que eu vi que cristão veio nesse mundo para sofrer, e você nota, existe um ar dramático nos portugueses. A palavra saudade, por exemplo é portuguesa. Então tem que ser tudo escuro, preto. Quando as pessoas das províncias ultramarinas começaram a ir para Portugal no inverno, começaram aparecer casacos vermelhos, eles viam e diziam “que lindo, arco íris no inverno”, porque era tudo marrom, preto, verde escuro, tinha que ser escuro para eles parecerem uns urubus, uma coisa terrível.
P/1 – Você disse que, quando vocês estavam indo embora, os negros foram ao aeroporto. Queria que você descrevesse um pouco mais sobre esses traços culturais. Você participou desses rituais?
R- Uma coisa que me deslumbrou no Brasil foi a facilidade com que você assiste rituais de Candomblé, macumba, todo esse tipo. Lá não, era no meio da selva, raros brancos podiam assistir. Eu lembro que um dos funcionários da empresa onde meu marido trabalhava, tinha casado até na igreja, a mulher dele era epilética. Então o meu marido disse: “Olha Helena, tu queres ir ver uma cena incrível, eu vou te convidar pra ires comigo, só que é uma vez sem exemplo. Nunca ninguém teve acesso”. Eu tinha porque eu tinha amigos negros, mas eu sempre me preservava porque eu achava que era tão selvagem que eu ia me chocar. Eu tenho assistido muito aqui, a gente tem cartão de livre trânsito pra ver isso aqui. O Brasil, na verdade é aberto. Fomos para o interior lá, e Lourenço, levou a mulher toda retorcia, com a língua mordida, aquele aparato, os olhos revirados de epilepsia. Eles achavam que ela estava tomada por um espírito maligno e tal. Aí eu assisti minha única vez a um ritual muito interessante. O feiticeiro com aquele aspecto é sempre o mais esperto, é o que se informa mais sobre todos os rituais, tem que ter essa figura simbólica e põe aqueles penachos todos que paralelamente a isso, equiparando, eu me interesso muito para ver os índios. Porque a base é igual, com as devidas situações geográficas, mas eu sempre me emociono quando vejo exibição com os índios. Então, eles usavam os ossos, uns grandes, outros pequenos, de animais, e eram com aqueles ossos que eles chamavam os deuses, os espíritos. E ela teve uma cena de se contorcer e a fogueira perto. E eu sempre achando que ela ia se queimar. Então o Lourenço teve a preocupação, antes de começar esse ritual, de demonstrar uma Fanta, que estava fechada e ele usou, e depois ele mostrou onde estava a assar um frango, porque eram muitas horas e eu ia precisar de comer. Para eu não pensar que eles tinham posto alguma mandinga naquela comida. Eu achei interessante essa parte, toque ocidental. Então ele ficou sentado com o ar mais apático que eu já tinha visto na cara dele, que ele era muito alegre. E a mulher dele ficou entregue a tudo que o feiticeiro fosse fazer. É uma loucura porque eles entram num transe mesmo, depois tinha um grupo de dançarinos da tribo, estremece o chão, a noite fica uma coisa assustadora. Pra meu marido não era porque ele já tinha visto muitas vezes, então ele ficou atrás de mim e me segurou, pra eu saber que estava protegida e me impressionou muito. Mais tarde, eu soube que, o feiticeiro não olhava nos nossos olhos, nunca. Talvez por ser suficientemente esperto por ver que estávamos com olhar cético, crítico, de ver quão ridículo estava sendo. E não foi com essa intenção. Fiquei com olhar aberto de criança, abrindo uma cortina, tendo a chance de ver pela janela um outro mundo. Eu que era muito urbana, foi na verdade uma experiência de muito valor pra mim.
P/2 – E ela se curou?
R - Mais tarde ela apareceu na capital, o Lourenço. Eu perguntei: “Ah, Lourenço, tudo bem, e sua mulher?” “Apesar dos Deuses nossos, eu acabei por levar ao hospital onde a senhora foi ter os filhos porque aquele tratamento tem que ser de branco, não tem jeito.” Ele já estava cansado e ela estava piorando, estava deixando de se alimentar, estava esquelética, quase a morrer e recuperou-se, mas epilepsia não tem cura. Existe um apoio e um controle, existe até aqui, eu sei de uns casos. Foi a única experiência mais próxima. Aí quando nós fomos para um outro lugar, era Xai-Xai, os portugueses puseram o nome de João Belo que tinha sido o primeiro homem que tinha demarcado as áreas lá, onde nasceu a minha filha mais velha. Depois, meu marido foi transferido e nós fomos para Maxixe e depois fomos para Massinga. Em Massinga, ele foi presidente de um clube e ele queria apresentar programas diferentes nas festas da cidade, como fazem aqui com as exposições agropecuárias e tal no Brasil. Uma das coisas que ele queria apresentar, além de umas coisas que tinha lá, muita gente que vivia lá nunca tinha visto tribos. E ele andou pelo interior da selva, de Land Rover, aquele jipe Land Rover, que aparece muito em Paris-Dakar. Ele descobriu uma tribo que se chamava Tribo dos Macacos, foi um deslumbramento. Vieram uns trinta dançarinos, só homens, com aquelas marimbas. Então eles tocavam as marimbas deitados. Eu vi essas marimbas feitas por índios. Eu me emocionei demais quando fui ao Memorial, tem coisas lá que eu achei que eram exclusividades dos povos africanos, e a base para fazer sons, percussão na selva, tem que usar a mesma coisa, conforme a dimensão para dar aquela musicalidade. Incrível, eles davam uns saltos acrobáticos, extraordinários, foi o maior sucesso. Eu fiquei deslumbrada porque eu nunca tinha visto uma tribo, mesmo do interior da selva, atuando assim a três metros de distância de onde eu estava.
P/1 – Agora, assim, relação interracial nem pensar, não existia?
R – Havia moças que se enamoravam de negros. Aí eram postas à margem. Ah, detalhe: você não podia chamar de “mulato”, era ofensivo pra eles, tinha que ser “mestiço”. Quando cheguei aqui, à vontade de dizer “Ah, eu sou mulato!” Eu: “Han?!” porque na minha escala de valores, mulato estava simplesmente posto fora.
P/2 – Hoje todo mundo fala “mulato”, “mulato”.
R – Quer dizer, quando eu cheguei em 1976, já falavam tranquilamente. Detalhe: eu vim na época do Ernesto Geisel, só para vocês terem uma dimensão de quando que eu cheguei. Ainda era ditadura militar. O detalhe no aeroporto, estou me lembrando, eles liberavam cento e cinquenta cruzeiros para cada adulto, no passaporte, ficaram com todas as nossas propriedades, coisas que a gente tinha, tudo. Foi nacionalizado e só os adultos tinham cento e cinquenta cruzeiros, que mesmo com a outra moeda era muito pouco para começar a vida no Brasil. E as crianças não contavam. Chegamos no aeroporto, estavam esses negros à nossa espera, choramos muito, por causa dos negros estarem lá, a Tribo dos Macondes, que daqui a pouco eu vou falar deles, tinham um metro e um, como minha filha diz sempre, tinha um metro e um. Eles cerravam os dentes para ficar com ar feroz, bicudos, até porque comiam carne crua então arrancavam melhor, como as feras. Eles estavam com baionetas, que tem aquela faca na ponta da espingarda, que chamam de baioneta. Abriram as nossas malas, com a raiva de ter negros chorando por nossa causa e praticamente esvaziaram as malas, que era a única coisa que a gente estava trazendo. Então foi patético. E no caminho onde as pessoas ficam no aeroporto até os aviões, tinha o campo de pouso, tinha uma certa distância, não havia finger, nada, era assim, e os aviões pequenos e na época eu nunca tinha andado de avião. Tinha feito viagem de carro ou de barco. Aviões bem velhos. Tinham então umas tendas, barraca de campanha como eles chamam, onde, quando eram mulheres eram mulheres que faziam, faziam revisão corporal, mandavam você tirar a roupa toda na frente de todas as mulheres pra ver se você não tinha grudado no seu corpo dinheiro ou até ouro. Houve mulheres que enfiavam tubos na vagina, não estava tão sofisticado, então isso passou, gente que levou diamantes e tal. Por sorte eles não encrencaram com nossa aliança de casamento. Mais tarde eu soube dessa notícia. Quando tinha aliança, para tirar a aliança, eles amputavam o dedo. Nós saímos numa época não tão ruim. Era isso que eu queria dizer, ah... eles diziam muito mal da África do Sul por causa do racismo. Mas a África do Sul que salvou Moçambique cedendo aviões para as pessoas saírem do país. Para ir para Portugal, minha mãe ficou nove meses depois que a gente saiu de lá. Pra ir para o Brasil, no mesmo dia tinha passagem. Ninguém estava vindo para o Brasil. Todo mundo queria voltar para a mãe pátria. Eu não tinha nenhuma ligação com Portugal, a gente sempre vivia revoltado.
P/1 – Pra você era indiferente vir pro Brasil ou para Portugal?
R – Era indiferente. Eu nunca achei que Portugal era minha pátria. Quando eu lidava com portugueses de Portugal era um horror, eu não sou dessa tribo. Agora eu digo isso a brincar. Depois eu falo um pouco disso. Meus filhos inventaram de ir para Portugal, não conseguiram se adaptar lá, mentalidade muito pequena. Mas eu ia contar uma coisa. Da Tribo dos Macondes, do norte de Moçambique. Detalhe: o Samora Machel era ajudante de enfermeiro, nunca tinha tido capacidade de poder subir no organograma ou na hierarquia de hospital. Como ele era um revoltado, estava sempre a dizer “eu vou formar uma guerrilha aqui”, ninguém tinha levado muito a sério. Ele estava mais interessado em criar grupos de revolta do que propriamente evoluir na profissão dele. Porque esse Joaquim Chissano, que está no governo faz algum tempo, ele foi estudar em Portugal, pago por um governador de província que adorou aquele garoto, achou que o garoto era muito interessante, muito esperto. Depois ele fez pós-graduação em vários lugares. Então, os macondes, o Samora Machel achou por bem que eram os melhores. Era a tribo mais selvagem. Então, eu não sei se aqui tem embondeiros, árvores que eles falam no Pequeno Príncipe, aquelas árvores largas, que dá para você se deitar lá em cima, tem os troncos largos e tem umas cavidades que quando chove fica uma reserva de água porque depois havia seca. Eles recorriam à essas, os macondes sempre dormiam em cima das árvores, eram bem pequenos, bastante selvagens, então Samora Machel achou por bem, como eles eram rebeldes, eles não tinham sido contaminados pela civilização dos portugueses, achou que a porta de elite tinham que ser aqueles porque nunca tinham visto uma arma a não ser estilingues, zagaias, setas com arcos e tal. Esse foi um dos perigos que aconteceu após a intendência porque eles viravam as armas de qualquer maneira, não tinham controle, passavam a viver bêbados porque tinham acesso a tudo como tropa de elite. Eu vivenciei isso, porque antes de ir para a capital, já depois da intendência, eu vivi na fronteira, atrás da minha casa passava um arame farpado. Então essa visão era uma visão do inferno, pra mim, os macondes, quando eles apareciam. Impressionavam porque eles eram bem escuros com aquele aspecto selvagem, arrastando uma arma de fogo sem saber como utilizar. Quando eu ouço falar de balas perdidas, eu sempre estremeço, porque tenho essa referência da época.
P/1 – Maria, como você conheceu seu marido, essa parte a gente acabou pulando. Qual é o nome dele?
R – Alberto Manoel Arantes Gendre Vidal. Ele era nascido no litoral, mas mais para o norte em Arrimo a seiscentos quilômetros da capital e depois ele foi estudar para Lourenço Marques, pra capital, porque depois do Primário não tinha mais nada. Em todas as fotos ele está com o uniforme do colégio, quando ele foi colega do Rui Guerra, nesse colégio de padres. Então ele, por hierarquia, a família dele tinha mais elementos familiares nessa empresa de mineração de ouro. A empresa onde ele trabalhava que contratava mão de obra pras minas da África do Sul, mão de obra negra, fazia exploração de minas de carvão e ouro. África do Sul é um país muito rico, tem diamantes, urânio, tem muita coisa. A empresa deles era de exploração de mineração de ouro e carvão. Ele foi funcionário dessa empresa, o pai tinha sido, o tio tinha sido e por hierarquia eles achavam que seria interessante, daria para ele viajar, adquirir cultura na Inglaterra, na África do Sul e tal. Foi isso que ele fez, fez essa carreira, tinha um cargo importante, vivia muito bem. Aos dezenove anos se casou com uma inglesa que ele conheceu na África do Sul, onde ela estava a estudar e depois o casamento não deu certo, mas eles viviam numa grande mansão, uma área pra um, uma área pra outro, não tiveram filhos. Eu trabalhava numa empresa, aos dezesseis anos eu fui trabalhar, porque meu pai, entretanto, morreu e eu queria ajudar a minha mãe, continuei a estudar à noite, embora não tivesse faculdade na época. Então, o diretor administrativo e financeiro da empresa era meu padrinho de batismo e depois foi meu padrinho de casamento. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa de brasão, realmente uma pessoa especial. Teodorico César de Sândi Pacheco de Sacadura Bode era o nome dele. As pessoas adoravam ele e tal. Eu fui trabalhar, era um prédio de três andares. A empresa se chamava Breyner & Wirth, o Wirth era suíço o outro eu não me lembro se era inglês ou era americano. Eram dois estrangeiros que tinham ido a viver pra Moçambique e resolveram abrir essa empresa. Isso é sobre o meu emprego. Essa empresa tinha vários departamentos. Era uma companhia de navegação, ela tinha uns pilares bem sólidos, era quase como uma estatal, embora fosse particular, então tinha bastante poder. Tinha diversos departamentos: farmacêutico, técnico com eletrodomésticos e no último andar desse prédio tinha a Companhia do Sisal, porque sisal foi sempre uma das grandes riquezas de Moçambique, com isso eles faziam todo tipo têxtil possível e imaginário, bem artesanal, mas faziam. Essa empresa de mineração que contratava homens para as minas. E eu entrei muito garota, e eu tinha uma mentalidade de criança mesmo porque eu tinha estado no colégio de freiras, como eu tinha idade para ser neta dos meus pais, fui sempre muito preservada, embora depois tivesse ido para a escola pública, então fui sempre muito protegida. E comecei a trabalhar, e como o diretor, o manda chuva, era o meu padrinho, então sempre vivi assim dentro de uma concha. E vi aquele homem lindo. Achava aquele homem lindo. Mas a mulherada em volta dele que era o fã clube dele. Por alguma razão, uma amiga minha disse: “Olha, tem um homem lindo, parece um militar, liga para mim que eu não vou saber falar, tu falas tão bem”. E eu falei: “Ai, os seus cabelos”, porque ele tinha um cabelo grisalho. Eu o conheci com vinte e tantos anos, vinte e seis anos talvez.
Eu fiz a chamada e ainda não sabia quem era. “Eu trabalho no teu prédio”, “Como, se eu conheço todo mundo?” – assim todo estabanado. “É o homem mais lindo” – eu ainda não tinha visto a figura, no fim era uma figura que eu não via porque ficava rodeado de mulheres, parecia um sultão, e as mulheres desmaiavam. Ai... Era bem humorado, com senso de humor, muito bem vestido, uma cor de carioca, cabelo meio grisalho. Muito novo ainda mas com cabelo grisalho. Ele fazia safári e andava sempre ao ar livre e tal. E a maneira de se vestir e tal. Ele se vestia muito bem. Depois quando eu conversei com ele, ele tinha catorze ternos e tinha umas cinquenta gravatas. As gravatas tinham que ter o tom das meias. Só usava sapatos John Drake que ele importava da Inglaterra. Então, ele achou muito engraçado. Ele viu que era uma criança que estava no telefone. “Eu quero conhecer você.” “Ah, está bom.” Mas eu ia mandar minha amiga. Ele já era manhoso, era mais velho. “É você que eu quero conhecer, você está com uma menina do lado.” “Onde é que você trabalha?” “Eu trabalho na Breyner & Wirth” “O quê!!! É o prédio onde eu trabalho, no terceiro andar.” Eu nunca tinha subido no terceiro andar porque eu trabalhava no segundo. Eu conhecia o pessoal do térreo, do primeiro e do segundo. Eu não tinha subido lá porque a empresa não tinha nada no terceiro andar.
P/1 – Você pode repetir o nome da empresa pra mim.
R – Breyner & Wirth, depois eu posso escrever. “Eu entro às tantas horas... como é que eu não conheço esse cara.” Até que eu vi aquele príncipe lá.
P/2 – Mas, espera aí.
R – Do telefonema. Ele disse: “Eu vou ver você, lá na contabilidade”. Eu trabalhava na contabilidade, odiava aquilo, mas trabalhava na contabilidade. Ele entrou e os chefes dos departamentos cumprimentaram, pois ele já tinha um cargo importante, era secretário, é como se fosse assessor aqui, do gerente em Moçambique, era um inglês. Ele chegou ao departamento pra ver quem era. Olhou pra mim e falou: “Foste tu”. Lá não se usa você, você é pra serviçal. “Foste tu que me ligaste? É?” Imagina a cena, eu infantil de tudo.
P/1 – E, na frente de todo mundo, ele falou isso?
R – Falou, eu não ligava, eu era muito brincalhona. E depois, uma vez, eu estava na praia e ele apareceu. Ou ele soube que eu ia à praia, sei lá. Pra avaliar como eu era de maiô.
P/1 – Como eram os maiôs lá?
R – Eram inteiros tipo Marta Rocha, eram inteiros e bem pudicos. O que lhe chamou mais atenção na época, porque a gente vai deformando com a idade. Ele falou que ficou deslumbrado com os meus pés, ele disse que os homens, até tem um filme do Eddie Murphy, ele namorava sempre elas, ele era bem galinha, depois ia dormir com uma das namoradas e a primeira coisa que ele fazia era ver os pés de manhã. Aí ele descartava porque os pés eram horríveis. Então ele disse que ele se encantou com os meus pés.
P/2 – Isso na praia?
R – Na praia, ele só contou isso mais tarde. Então nós começamos a sair.
P/1 – Ele foi seu primeiro namorado?
R – Não, na escola eu tinha me encantado com alguns meninos, mas nunca tinha dado um beijo em nenhum.
P/2 – Quando ele foi na praia, quando é que começou realmente? Ele foi te conhecer no escritório, depois ele foi na praia por acaso.
R – Eu fiz o aniversário de dezesseis ou dezessete, não lembro. Eu entrei na empresa com dezesseis. Acho que eu fiz dezessete anos e eu convidei para ir à minha festa de aniversário. Achava aquele senhor muito interessante, eu o tratava por senhor, eu o achava muito velho, já tinha cabelos brancos e tal. Ele me mandou um presentinho pra menina adolescente mesmo, uma coisa pra pôr perfumes cheia de florzinhas e tal. Eu fiquei anos com aquilo, ele dava risada quando olhava. Depois teve uma festa, a 3 de novembro, não esqueço porque acompanhou-me esse 3 de novembro a vida inteira, num lugar que tinha um nigth club, tinha uma parte para dançar, à beira mar, e ele foi. Começamos a dançar, imagine ele todo manhoso, eu me apaixonei na hora por ele. Ele sabia como falar, ele estava sempre com namoradas, ainda estava casado já com processo de querer se separar da mulher, a inglesa que estudava em Johannesburg, que ele estudou lá. Para se especializar mais na empresa, na parte de minas e tal. Foi a 3 de novembro de 1962. A coisa atingiu um ponto que as admiradoras me fecharam no banheiro pra me darem uma surra. Porque elas acharam que era sério porque eu era menor. “Se ele está interessado nela é uma coisa séria.” Não é como agora que o pessoal que o pessoal fica meio descontraído. Na época era complicado, eu chorava muito. Então o ascensorista não podia permitir que nós dois subíssemos ou descêssemos no mesmo elevador, para não nos tocarmos e não nos olharmos. Então era assim. Ele trabalhava no terceiro andar e eu no segundo. Eu escrevia, ia ao correio, punha a carta no correio, ele escrevia, punha carta no correio. Ele mesmo fazia isso para que nenhum contínuo ou office boy soubesse para quem era a carta. Imagine um homem de cabelos brancos fazer isso. Então a mulher veio a saber, mas eles já não viviam juntos, ele vivia na ala norte ela na ala sul, ele queria o divórcio e ela não dava. Eu chorei tanto durante três anos porque a minha mãe disse: “Só te deixo casar quando tiveres vinte e um anos” – o meu pai já tinha morrido. Coisa antiga viu! Ela dizia que eu tinha me apaixonado por um macaco velho – que era a expressão que se usava. Ela pôs um detetive pra saber quem era o cara, não era recomendável, era casado, já tinha entrado com um processo de divórcio de comum acordo e depois quando a mulher soube que ele estava interessado numa garotinha, virou litigioso.
P/1 – Vocês tinham quantos anos de diferença?
R – Treze anos.
P/1 – Hoje não seria muito, mas na época contava?
R – Claro. Ele tinha uma prática de lidar com mulheres incrível. Ele tinha se encantado. Mas eu ia me moldar à imagem e semelhança dele como Deus, não há dúvida. Era um tipo de ditadura de seda, eu digo isso agora que ele morreu há dezessete anos. Mas foi um romance muito engraçado, muito interessante. Resumindo a história: casamos a 3 de novembro de 1965.
P/1 – Mas aí virou litigioso?
R – A mulher ligava para a sala de trabalho do meu padrinho, ninguém entrava lá porque ele era o dono e senhor da empresa. Ele dizia: “Leninha, vem cá”. Ele sempre me chamava de Leninha, porque eu sempre era a mais nova. “Tem uma mulher malcriada ao telefone, diz que tu estás a roubar o marido dela.” Eu contei e ele adorava o Alberto, que era o meu marido. “Mas, eu sei que eles estão separados” – todo mundo sabia, a cidade não era tão grande, todo mundo sabia da vida de todo mundo. “Ele sempre anda com outras mulheres.” Ele, meu padrinho, também fazia a mesma coisa. Então ele sabia, talvez se cruzassem, “eu levo essa, você leva aquela”, sei lá o que acontecia nos bastidores. Bem, a coisa atingiu uma gravidade xis que ele chamou o pai do meu marido, que era dessa empresa chamada Wenela, dessa empresa de contratação de mão de obra mineradora, chamou o irmão da minha sogra, que era cunhado do meu sogro, que era um homem muito importante. Ele era dono da maior transportadora de mineiros brasileiros, que eram um espanto para nós, os homens brasileiros de alto nível, muito interessante.
P/1 – Por quê?
R – Porque eram de alta qualidade e os que eram fabricados lá não eram tão bons.
P/1 – Vocês nunca tinham visto algo parecido?
R – Tinham visto, eles se informaram, tinham viajado muito. Esse irmão da minha sogra, esse irmão mais novo, o Antonio Abrantes, ele tinha estudado em Oxford, que era um espanto. Naquele buraco, gente que tinha estudado em Oxford. Teve uma reunião de cúpula com o meu sogro, o meu tio, e depois chamaram o meu futuro marido, para pedir satisfações, se ele ia levar a sério, se ele ia casar comigo. Eles iam arranjar um jeito do litigioso ser rápido, compravam o advogado, sei lá o que faziam, essas estratégias que a gente sabe quando cresce. Bem, eu achava que não tinha crescido. Eu chorei tanto durante esse romance, porque ele era tão requisitado, as pessoas achavam que eu tinha roubado o bezerro de ouro da vida delas, coisa idiota, ridícula.
P/1 – Mas você estava completamente apaixonada por ele?
R – Nossa, eu achava ele o máximo.
P/1 – Você achava que era muita areia para o seu caminhão?
R – Eu não tinha noção dessa realidade. Eu não tinha noção porque eu sempre tinha vivido no meio diferenciado também. Era muito engraçado, até que casamos. Mas olhe o detalhe: eu achava o máximo, era uma avenida larga, não tão larga como a Paulista, era a Avenida da República, que era onde se cruzavam as elegantes na baixa, na cidade baixa. A empresa estava no fulcro principal¸ como se fosse a Paulista, na parte de escritórios e bancos principais, eram lá nessa avenida, era a nossa Paulista. Tinha os cafés principais e as pastelarias, que lá eles usavam para doceria. Pastel não era coisa salgada, podia ter coisas salgadas, mas pastelaria era doce. Era o Scala e o Continental. Todo mundo conhecia o Alberto porque ele engraxava os sapatos três vezes por dia. Os John Drake vindos da Inglaterra. Ele era muito elegante, praticava esporte, estava sempre bronzeado. Às quartas à tarde não trabalhavam porque ele e os ingleses iam jogar golfe. Já isto era uma casta diferente. Depois me irritava as mulheres à volta dele, eu já desligava e ia embora. Isto também chamou atenção dele. Talvez tenha arranhado o ego dele, não sei. Em resumo da história, casamos. Ele tinha um primo irmão, filho deste que tinha estudado em Oxford, dona da transportadora, João Eduardo Abrantes e um que está numa das fotos, de Indiana Jones também, Luis Lopes da Silva, ficaram encarregados do seguinte: a mulher dele ameaçou, primeiro disse que eu estava grávida. Imagine, eu casei virgem. Ela ameaçou que ia levar uma arma, ela estava totalmente desequilibrada. Nunca quis saber dele e depois quando soube que ele ia mesmo casar, depois dessa reunião de cúpula, ela disse que ia com uma arma para nos matar. O João Eduardo Abrantes e o Luis Lopes da Silva estavam armados atrás dos convidados. Se fosse necessário, pelo menos para assustar. Avisaram o padre, era o arcebispo que nos ia casar, mas ele foi chamado à Roma. Ah, o padre ou o vigário parece que está vestido com lingerie, porque ele estava com aquela coisa branca. Foi um casamento muito bonito, a sociedade achou muito interessante. Fomos passar a lua de mel...Ah, detalhe, as pessoas acharam muito estranho. Eu casei com um missal de madrepérolas e um terço que tinha sido benzido em Fátima, aquelas tradições de família. Depois, o terço e o missal, eu dei para as freiras que tinham, digamos, uma agência do colégio nas montanhas como se fosse Campos do Jordão. Era na fronteira com a Suazilândia, um dos países pequenos que tem no mapa da África. Eu fui o caminho inteiro, que são quase três horas de viagem, eu ia com os joelhos virada pra trás ainda achando que ela ia aparecer com uma carabina para nos matar. Fiquei em estado traumático. Aí fomos passar a lua de mel na África do Sul, que era um país vizinho, aí voltamos e eu já fui para o interior. Interior à beira mar, mais ao norte, foi onde nasceu a minha filha mais velha, Xai- Xai.
P/1 – O que mudou na sua vida antes e depois de casada?
R – Primeiro, eu era cem por cento urbana e ali também é um bairro que no começo, em 1901, dessa empresa, eram barracas de campanha. Depois de já ter mansões grandes, todas em concreto, sempre se chamou de acampamento, ficou sempre essa expressão “camping”. Então acontece que já fui para o mato, eu não sabia nem fritar um ovo, mas quando eu cheguei lá fiquei deslumbrada porque meu marido foi colocado no cargo que meu sogro ocupava, ele voltou para a capital. Ele, toda a vida, tinha trabalhado num escritório central. E ele foi comandar um acampamento. Era o chefe do acampamento. É uma coisa que só se via em filmes, aquele filme Out of Africa que passou com a Meryl Streep, chorei o filme inteiro, vi muitas vezes porque tem muitas cenas que eu tive em minha vida. Ele sempre se vestia de cáqui, nunca mais usou os ternos, a não ser quando algum amigo casava. Eram catorze, ficava a contar quantos ternos. Então tinha uma estrutura montada: o cozinheiro, o que lavava e passava roupa – o mainato, o ajudante de cozinha. Continuei a não fritar um ovo. “Não te quero na cozinha, quero você sempre vestida de seda, de linho, cheirar perfume francês.” Às vezes, fazia, quando estava a trabalhar, sobremesas, algum suflê. Mas sempre me equipava que parecia um astronauta, porque eu já estava pronta para não pegar o cheiro…
P/1 – Você acha que ele mudou pra tentar tirar você da vista, da proximidade da ex-esposa?
R – Não porque ela morava na África do Sul, ela foi para a África do Sul.
P/1 – Mudou por questões de trabalho mesmo?
R – Não, ele disse mesmo que como tinha uma grande vida social no acampamento, em relação às autoridades, por exemplo, era o diretor de banco, o diretor da fazenda. Eu agora dou risada porque sou um rosto na multidão. Essa liberdade pra mim é assim algo... Bem... Era o diretor do hospital, estavam todos os macacos nos galhos da diretoria. Eram com essas pessoas que a gente lidava. Tinha sempre jantares, almoços servidos à francesa, então tinha que ter uma equipe de criados, eu tinha sete empregados, onde eu incluía os três jardineiros. Tinha jardins muito grandes e o serviço a bordo era contínuo. Então tinha que ter cozinheiro altamente treinado. O presente de casamento de minha sogra foi um cozinheiro altamente treinado para poder fazer todo esse trabalho, conforme eu fui mudando de cidade já tinha uma equipe montada que meu sogro já tinha lá de Lourenço Marques. Ele falou: “Minha nora vai pra aí com Alberto, eu não quero que ela fique com o trabalho doméstico”. Então eles treinaram um ano antes para que quando eu fosse pra lá já estivesse pronto.
P/1 – E você recebeu algum tipo de instrução para lidar com esses jantares e ...
R – Ele tinha muita prática, porque, embora ele vivesse na capital, o pai tinha vivido muito tempo no interior e ele ia muito para lá. Então ele conhecia toda essa estrutura, sabia como funcionava e ele ficou contente de eu aceitar isso porque ele tinha possibilidade de ser promovido e se ficasse na capital ia ser sempre o assessor do gerente, do diretor que representava o presidente na África do Sul. Então foi assim bem africana. As crianças quando foram nascer, cada um nasceu em um lugar diferente. O meu filho foi interessante, nós estávamos em Massinga e tinha muitas missões americanas, médicos missionários mesmo, no interior da selva, no interior de Moçambique. E havia um muito famoso que era o Robert Simpson que comandava esse hospital, então eu decidi que eu ia ter esse meu terceiro filho, não tinha ultrassom, eu não sabia qual era o sexo, sempre tentando um menino e veio. Era no meio da selva, eram só missionários especializados em medicina, esse tipo de coisa. A chefe da maternidade era suíça, não, desculpe, era sueca, altamente equipados, só atendia negros. A única branca que entrou naquele hospital fui eu, tinham acabado de inaugurar o pavilhão da maternidade. Eu nunca me esqueço da cena: começaram a aparecer a mulher do diretor não sei de quê, não sei de quê. Eu estava numa suíte que eles tinham construído caso aparecesse alguém especial, e tinha a enfermaria. As senhoras de lencinho rendado, com perfume francês, tinham que atravessar a enfermaria porque não tinha uma porta de entrada independente. Não me esqueço, as mulheres tinham uma equipe altamente treinada pra limpar, faziam cocô no chão, as negras que estavam lá no hospital. Elas tiveram que passar no meio daquele fedor, parecia que estavam na Índia.
P/2 – Por que elas faziam cocô no chão?
R – Porque elas viviam na selva. Faziam cocô no mato. Então elas estavam dentro de um concreto, achavam que era um mato diferente, achavam natural. Então faziam isso. Eu não me esqueço da cena, eu ria tanto, porque eu era sempre rebelde. Eu li muito e achava muito engraçado. Outra facilidade, o filho ficava junto de mim o tempo inteiro, não tinha berçário, então não havia nem a possibilidade de trocar o filho por outro, era o único branco que tinha lá. Meu filho dizia: “Mãe, que romântico, eu nasci no meio da selva”. Ele contou isso para os amigos da moda e diziam “você é um cara diferente”, só porque tinha nascido no meio da selva.
P/1 – Você fez um parto normal?
R – Sempre foi normal. Onde eu fui melhor assistida foi na selva. Eles usavam um pano de cor bege, e tiravam da autoclave, altamente desinfetado e usavam. Parecia sempre que era um pano sujo, não passado a ferro. As pessoas, todo o pessoal, pareciam que estavam amassados também. O Henrique demorou muito para nascer, então ele nasceu com uma marca na cabeça, eles iam esperar mais um pouco para nascer com fórceps, aí, graças a Deus ele conseguiu nascer, ele era muito magro, ele tinha só três quilos e cinquenta e seis centímetros. Ele tinha o aspecto meio cinza, embrulhado e com aquela marca na cabeça. Embrulhado naquele pano amassado e bege, parecia que não tinha sido lavado, parecia incrível. Eles tinham uma noção de assepsia melhor que hospitais de brancos. Diziam que eu era louca, que estava no meio daquela porcaria, totalmente selvagem. Foi muito bem. Eu pedi ao Robert Simpsom para fazer a circuncisão que aqui vocês chamam de fimose. Então fizeram no Henrique com dois dias de nascido. “Você é uma portuguesa diferente.” Imagine se o povo português, só judeu, americano e negro é que faz circuncisão quando o filho nasce. Então eu fui assistir. Ele deu uma colherzinha de café de rum para não precisar de anestesia, porque ele era bem natureba. Então na mesa de cirurgia de adulto, ele estava muito magro e com aquela marca na cabeça, parecia um coitado, um faquir. Então não precisou dar nenhuma anestesia, foi muito rápida a recuperação, foi muito legal. Então, tem assim detalhes de evolução no meio da selva.
P/1 – Então, a gente queria saber da parte do Brasil, de quando você veio pra cá. Você veio pra cá e chegou em 1976, você falou. Você começou a contar da viagem de avião, que era um avião velho.
R – Nós embarcamos e fomos até Johannesburg, foi a primeira parada. Esse avião só fazia essa ponte aérea. Detalhe: viemos todos em pé dentro do avião. Era tanta gente, eu não me esqueço quando eu viajo de avião, quando mandam por os cintos, porque eu sempre me lembro da cena de lata de sardinha.
P/1 – Você não ficou com medo? Era sua primeira viagem de avião.
R – Claro que fiquei, mas eu estava tão traumatizada com os macondes atrás com armas, arrastando a baioneta ao contrário, arrastando aquela espada que tem na ponta no chão, a gente nunca sabia se ia ser atingido por uma bala perdida. Bem, entramos no avião, chegamos em Johannesburg e ficamos no Holiday in a dormir. Em 1997 passei por lá e fiquei nesse hotel. Todo mundo dormiu, roncou, descontraiu, e eu sabia que muitas vezes telefonavam as autoridades de Moçambique e traziam as pessoas de volta para Moçambique. “Olha, descobrimos aqui que ele maltratou a minha avó, no ano 1915” e recambiavam as pessoas para Moçambique. Eu fiquei tão tensa, todo mundo achou que eu tinha ficado pirada porque eu tinha ficado no campo de concentração, eu tinha ficado com sequelas. Aí depois entrou novos passageiros e estávamos em Cape Town, que é já na ponta do mapa.
P/1 – Mas esse já em outro avião, sentada?
R – Da Varig.
P/1 – A viagem de Moçambique para Johannesburg de quanto tempo é?
R – Cinquenta minutos. Pelo mapa você vê. Eu tinha perdido a noção do tempo que era. E depois aquela alegria do pessoal de bordo brasileiro, uma coisa. Quando a avião levantou vôo e começou a sobrevoar o Atlântico, e que já não dava pra voltar pra trás, e estava todo mundo numa boa, eu comecei a ter uma crise de histerismo que tiveram que me amarrar, de gritar. É que eu relaxei, eu era a única pessoa que tinha ficado tensa na família. Depois de ter pego o avião para Johannesburg, ter ficado em pé, entraram numa inconsciência, esses caras são malucos. O meu sogro tinha aprontado muito em Moçambique, mil histórias lá. Por causa dele. Eu tinha que sair urgente. Meu marido tinha uma promoção à espera dele em Johannesburg, onde nós iríamos viver muito bem, as crianças iam ter estudos pagos até o final da faculdade. Então tinha um projeto de vida legal. Eles não queriam velhos, detalhe interessante. Eles não queriam velhos na África do Sul, porque havia tido uma fuga grande, tinha lá velhos dormindo nos bancos do jardim. E a África do Sul herdou uma série de coisas inglesas. Então eles não aceitavam velhos no país porque estava super lotado de refugiados e não tinha lugar para os colocar.
P/1 – O pai do seu marido não podia ir com vocês na África do Sul, mesmo que seu marido tivesse um emprego?
R – Veja bem, o meu sogro era funcionário da mesma empresa, só que as autoridades diziam que não interessa que vocês tenham poder aqui no país, baixou um decreto mesmo. Então a ideia era os meus sogros irem para Portugal e quando estivessem tudo em ordem teriam uma casa para se abrigar. A questão era que tinha muita gente, muitos ambulantes, digamos assim, dormindo debaixo dos bancos do jardim.
P/1 – Você estava falando da crise de histeria que você teve.
R – Então, inclusive eu fiquei mais de um mês sem voz, eu fiquei com uma grande inflamação, veio à tona todo o meu desespero que ficou embutido, alguém tinha que manter uma certa consciência. E diz essa minha amiga, que já está aqui a morar faz tempo, amiga de infância mesmo, foi incrível quando a gente se cruzou aqui em São Paulo, daí para frente quem sempre comandou fui eu. Eu ficava normalmente nos bastidores para meu marido brilhar. Não era que eu não tinha capacidade, era um processo ditatorial que havia lá, embora ele fosse um cara diferente. Era uma ditadura de seda, porque era assim lá. Chegamos a São Paulo, estava aquele frio. Eu lembro-me que não tinha teto e nós fomos para Campinas, lá em Viracopos, eu fiquei assustada porque de repente eu via as mesmas luzes, era uma viagem longa, e na terceira vez eles avisaram que ia pousar em uma cidade perto de São Paulo, no aeroporto de Viracopos, vamos aguardar ordem. Aí não veio a ordem, aí viemos de ônibus de Campinas até São Paulo.
P/1 – E o comandante era brasileiro?
P/2 – Só pra entender, quando vocês vieram para o Brasil, ainda havia chances de voltar para Johannesburg?
R – Não, não, não. Quer dizer, no trabalho do meu marido? Sim, eles esperaram uns dois anos para ver se ele decidia voltar. Guardaram o cargo, mas não dava porque os meus sogros eram muito agarrados a ele. Meu marido tinha mais quatro irmãs, o único filho homem era ele. Tanto que eles não foram a Portugal, poderiam ter feito esse tipo de triângulo. Eles iriam para Portugal, nós iríamos para a África do Sul e mais tarde eles iriam viver conosco.
P/1 – Eles estavam juntos. Fala as pessoas que estavam no avião.
R – Vieram os meus sogros, éramos sete. Meus filhos, uma de nove, uma de sete e meu filho que tinha quatro, ia fazer cinco anos. Segunda feira ele faz trinta. A minha mãe ficou naquela lista de espera para ir a Portugal. Foi por isso que ela não veio logo. Eu era filha única e não tinha razão de ser de ela ficar lá. Ela ficou só aguardando que o processo de documentação ficasse pronto.
P/2 – Não era perigoso pra sua mãe?
R – Pois é, depois não dava para ela escrever porque tinha censura na correspondência. Mas uma irmã do meu marido ficou lá também, para poder tratar dos papéis da transferência para Portugal, porque ela ia e via do banco. Ela trabalhava no Standard Bank. Que virou Standard Totta, porque tinha um banco Totta em Portugal, ela tinha oportunidade profissionalmente de ser transferida, acobertada. Acontece que algumas vezes ela veio ao Brasil, foi a primeira da família que veio ao Brasil, ela veio antes da gente vir pra cá e a gente achava ela louca, fazer o quê no Brasil? E ela depois trouxe notícias da minha mãe. Ela não trouxe nada escrito porque ainda podiam fazer uma revisão corporal. Ela contou como minha mãe estava. Tinham detalhes interessantes ainda em Moçambique. Minha mãe pediu para contar à filha. Os prédios na cidade foram invadidos por negros da selva, e uma vez minha mãe estava na rua e ouviu umas cabras na janela. Eles levaram gado para dentro dos apartamentos. Entupiram tudo, eles nunca tinham visto um bidê, todo em cerâmica, e eles pilavam o milho e depois plantavam o milho na banheira, porque estavam habituados a tomar banho no rio. Eles saíam a procurar um charco para poder tomar banho, porque nunca iam entender o que era aquela coisa de chuveiro. E deu uma série de noticiário, notícias nos jornais, destruíram, faziam fogueira no chão que tinha carpete, não tinha corpo de bombeiros mais e muitos morriam queimados. Aquela história cultural, eles viviam felizes na selva, passaram a viver infelizes na cidade. Eles tinham destruído com bombas tudo que era reservatório de água só porque foram construídos por portugueses. Acontece que parecia com sul no Sudão, uma seca como não se via há muito tempo. E aí eles começaram a morrer em Moçambique, porque não tinham água para plantar nada, as mulheres começaram a secar o leite, e morreram aos milhares, morreram muitos, muitos, muitos.
P/1 – Essa época você não estava mais lá, já tinha vindo.
R – Eu ainda fiquei na época em que eles estavam a destruir, eram aqueles rios d’água. Agora por causa da energia e da água, eu sonho às vezes ainda, aquela maré na cidade, passando nas ruas, tinha sido represada até para usinas hidrelétricas. Morreram milhares quando teve aquelas inundações há dois anos atrás. Até mostraram uma mulher a dar a luz a uma criança em cima de uma árvore. Aí morreram afogados, na outra morreram de sede.
P/1 – Maria Helena, quando você pisou, saiu daquele avião e pisou no chão, o que você sentiu?
R – Nossa, foi uma viagem, isso aí eu não esqueço. Eu comecei a achar tudo muito grande, quando eu voltei lá em 1997, gente, como aquilo era pequeno, como é pequeno. É tudo próximo, aliás o próprio Drummond, as pessoas que escrevem, que são as pessoas que me atraem mais, quando voltam ao lugar de infância é que vêem como é pequeno. Quando a gente é criança é que vê como é pequeno. A capital, eu acredito que é menor que Porto Alegre. Maputo, porque voltou-se a chamar Maputo, que significa reserva de elefantes, que era o nome de um tal Lourenço Marques que era agrimensor e que foi lá demarcar terrenos, apareceu lá e batizou o lugar com o nome dele. Que tinham muitos elefantes na época e por isso voltou a ser Maputo. Então, na minha documentação, eu não existo, eu não nasci lá. Porque não existe mais Lourenço Marques e não existe mais mapas antigos. Só de sebo ou sei lá, lugares geográficos.
P/2 – Aí você começou a sentir que tudo era muito grande e aí?
R – E aí fomos para a casa da minha cunhada, que por acaso morava na Alameda Franca, olha que chique. No lugar onde eram cinco, porque era ela, o marido e três filhos, já meio grandes. Passamos a ser doze, foi complicado. As nossas mantas, os macondes rasgaram com as baionetas, então não trazíamos nada de inverno. Dormíamos vestidos no chão juntos e tinha só uma mantinha que tinha sobrado da minha cunhada, e deitamos no chão e dormíamos bem juntos para ficarmos quentes.
P/2 – Ela era irmã do seu marido? Ela não tinha dinheiro, não tinha posses?
R – Era irmã do meu marido. Ela tinha vindo um ano antes e estavam, aquela casa inclusive tinha sido cedida por uma empresa ligada à plantação de cana de açúcar, mais tarde eles foram para o Iaiá, em Araras onde estão até hoje. Eles moram lá. Os filhos casaram e tal. Mas nessa casa era tudo muito… Eu não me esqueço quando ela levou-me à uma feira e ela ensinou a meus filhos a roubar fruta. Vocês esperam quando estiverem para fechar e vai ficando assim barato, vai pondo os papéis. A Vânia era a mais velha, tinha nove anos, essa é a que se lembra mais de Moçambique, a do meio tinha sete e o Henrique era muito pequeno, tinha quatro anos. Iam os três de mãos dadas muito encolhidos, magros, tinham passado um bocado de fome, magros a olhar. Quando estão a acabar, normalmente eles rejeitam as frutas. Normalmente a fruta ainda estava lá e quando o sujeito se virava de costas, eles pegavam a fruta. Imagina, eu tinha educado aqueles filhos e agora eles estavam aprendendo a roubar, pra comer. Eu não me esqueço, a cena mais marcante foi a minha cunhada, nesse dia que nós chegamos, muito cansados, ela foi à padaria e trouxe esse pãozinho, o filão quente, tinha acabado de sair do forno. Eu comi cinco e depois passei mal, porque eu não comia pão há muito tempo. O pão que eu tinha comido, a última vez que eu comi uma refeição nesse agrupamento, onde eu estive lá no campo. Era um pão não identificado, azedo há muito tempo, mais duro que uma pedra e tinham feito um caldo verde. Eu vim a saber mais tarde que tinha sido feito de grama e uma mandioca também já azeda que servia de batata. E aquele pão era um deslumbramento. Quando eu comi o filão, até hoje eu gosto. Ela pôs manteiga, eu engoli quente, imagine a dor de estômago, comi cinco seguidos.
P/1 – Que pão era esse?
R - Pão francês, às vezes chamam de filão. Eu não via pão há muito tempo. Os meus filhos ainda comiam, eu não. Parecia um animal, isso ficou como um ícone. Gostei muito da água quente, do chuveiro. Tem algumas coisas que eu já perdi a referência, mas quando você vir bem, quando o ser humano vai lá na base, os cinco sentidos são os que marcam mais presença, que muitas vezes estão embotados quando você está bem na vida, quase nem nota que tem cinco sentidos. Quando eu estive acampada, eu tive que mudar minha escala de valores. Quando eu vou à Cleusa Presentes,às vezes eu passo só para olhar, toda aquela coisa chamava de material bélico, coisa para escargot, “essa coisa pra essa concha”, eu tinha aquilo tudo. E eu fico a olhar e digo assim: “Gente, pra que eu queria todo aquele material bélico?” Sabe essas coisas que embelezam a vida, eu julgava que só aquilo era importante. Mas eu sempre fui meio rebelde, foi isso que me salvou. Os mais velhos da casa não aguentaram, meus sogros morreram de tristeza.
P/1 – Eles morreram muito tempo depois que chegaram?
R – Minha sogra morreu em maio do ano seguinte. A gente chegou em maio de 1976, ela morreu em maio de 1977, meu sogro morreu em janeiro de 1978. Meu marido morreu em 1984, teve um derrame, ele tornou-se professor de inglês, tinha dois empregos. Ele era hipertenso, como o pai e a mãe. A família sempre foi muito hipertensa, mas morreram sempre muito velhos, pois não tiveram o impacto de mudar a vida e vir a morar aqui. Ele sempre ficou muito nervoso com a responsabilidade de alimentar. Como a minha sogra ficou muito doente, depois o meu sogro, eu não podia trabalhar. Mais tarde ele conseguiu empregar-se numa escola de inglês, que hoje não existe mais, chamava-se One Twelve, na rua Estados Unidos. Depois eu acabei por tornar-me secretária, recepcionista, ele achou que era bom para eu ficar em contato com o povo brasileiro. E só depois de passar por um outro emprego rapidamente é que eu entrei na sessão de cavalo árabe. Por que que eu estou lá? Meu marido dava aulas de inglês, e foi contratado para dar aulas de inglês numa multinacional de plásticos, a Monsanto, ali atrás da Praça da República. Os engenheiros químicos – ele dava aulas pra executivos – o adoravam, mas um especialmente se afeiçoou muito a ele. Ele soube que eu precisava trabalhar, meus sogros já tinham morrido, eu precisava trabalhar, tinha três filhos pequenos. Ele disse: “Meu pai trabalha no Parque da Água Branca, ele é diretor técnico, é veterinário, especialista em cavalo árabe”. Foi através dele que eu entrei. E fiquei lá até hoje, viu.
P/1 – Essa associação faz que tipo de trabalho?
R – Ela divulga a raça e promove através de eventos. Leilões, exposições, provas, para criar interesses, que apareçam interessados para comprar cavalos, e isso é uma bola de neve, vai aumentando, aumentando. Dentro da Associação funciona o cartório, o registro genealógico dos cavalos árabes. Esse departamento pertence ao Ministério da Agricultura. Começou todo em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E era o Ministério da Agricultura que comandava isso, eram sempre os mesmos que criavam cavalo árabe. Então acharam por bem que cada raça criasse a sua associação, com um mínimo de trinta pessoas, eles fundavam uma associação, para promoverem a raça e se sustentarem. É uma empresa particular mas com um departamento do Governo dentro. Porque a maior receita é do movimento do cartório lá dentro.
P/1 – Por que você se apaixonou tanto pelo trabalho?
R – Depois eu até passo para vocês o material, primeiro porque é o cavalo mais belo. Detalhe: em Moçambique eu lidava com as pessoas que cultuavam a beleza, que é uma bobagem, por ironia, o meu filho depois foi para a Moda. Parece ser um carma. As pessoas, o cheiro das pessoas, aí vem toda a parte de trás, dos sentidos. As meias de seda, as camisas personalizadas, reconheço que aquilo, comecei a ver uma coisa familiar. E acabei por ficar lá. Aí como meu marido morreu, não é que eu fiquei tão pasmada, eu recebi alguns convites para trabalhar em multinacional, teria investido em mim, em cursos, já teria apartamento próprio. Vivo em casa alugada, ganhando muito mal, pois essas associações não visam fins lucrativos, por isso são pensões de passagem. Ninguém fica num lugar muito tempo investindo numa atividade financeira. Então eu fui ficando, porque eu sempre gostei de História e Geografia, e é um cavalo que está em mais países do mundo. É interessante que eu me especializei analisando uma árvore genealógica de um cavalo árabe. Começa no deserto e depois aos poucos os garanhões e as éguas vão se espalhando conforme os interesses dos ocidentais. Os europeus começaram a interessar-se e mais tarde os americanos.
P/2 – Quando é que chega o primeiro cavalo árabe no Brasil?
R – Importado da Argentina, em 1923-25.
P/2 – Vieram muitos ou veio só um?
R – Vieram vários. Era o secretário do registro genealógico do cavalo árabe, Guilherme Echenique que é uma família tradicional do Rio Grande do Sul, aliás quando falam em Echenique batem três vezes na mesa. Acham que tinham fama de dar azar, sei lá. Ele se interessou e conheceu uma família de fidalgos, Ayerza, na Argentina. Ele ouviu falar que eles tinham estado em Damasco, procurando cavalos exóticos de sangue quente e que os beduínos usavam no deserto. E ele, em criança, já tinha visto uma vez um desenho de um cavalo árabe, ele parece lapidado, ele é lindo. Então o doutor Echenique era engenheiro agrônomo e professor em Pelotas de Zootecnia, foi visitar a família Ayerza em Buenos Aires e ficou deslumbrado. Ele comprou muitos cavalos e era o único proprietário e particular, porque o resto era do Ministério da Guerra. Tinham as coudelarias espalhadas pelo país, especialmente no Sul, importaram cavalos para defesa do país principalmente, usava-se muito e depois virou propriedade do Ministério da Agricultura. Então ele era o latifundiário de cavalo árabe no Brasil. O Guilherme Echenique, por muito tempo. Aí, ele dava cavalos para os amigos e Luís Villares que fundou as indústrias Villares foi um dos amigos dele, encontrados na Argentina e mais tarde nos Estados Unidos. “Villares, eu vou te dar alguns cavalos árabes.” E o Luis Villares que era muito culto, tinha até estudado em Portugal, ele disse: “Ah, eu já ouvi falar nessa raça, eu até julgava que já estavam mortos”. Ia ser extinguido, porque isso tem milhares de anos. O Luís Dumont Villares é quem trouxe os cavalos árabes para a área de São Paulo, que é onde concentra tudo mais. O maior número de haras de cavalo árabe que tem é no Estado de São Paulo.
P/1 – E essa associação está em qual bairro?
R – Está dentro do Parque da Água Branca.
P/2 – Onde você mora hoje?
R – Eu moro em frente ao Senac, na Francisco Matarazzo, eu atravesso uma quadra e meia, ouço os pássaros e entro no pavilhão.
P/2 – Quando você saiu da Alameda Franca, onde você foi morar?
R – Em diversos prédios da Brigadeiro Luís Antônio, porque a escola das crianças era ali perto, na Batatais. Nem pensar em ter carro. Então para irem a pé para a escola a gente sempre escolhia ali à volta.
P/2 – E quando você mudou para a Francisco Matarazzo.
R – Na Francisco Matarazzo eu estou há três anos e meio. Antes morava no final da Vergueiro. Porque minha filha mais velha tinha um apartamento de cobertura nesse prédio. Numa travessa da Vergueiro, quase no final. E ela disse: “Ah, mãe estás muito sozinha aí...” Ela casou. “Tem aqui um apartamento para alugar, vens morar aqui.” Eu demorei, eu achei chato dizer, a gente nunca se via. Ela trabalhava na American Airlines em Guarulhos e os horários eram muito diferentes. Depois eu falei: “Nem precisa dizer, eu fui tão burra, tu ficas tão cansada, levas duas horas para chegar à Associação e sempre atrasada no cartão de ponto”. E eu estou aí há três anos. Para mim é o paraíso. É o bairro que eu conheço melhor, porque eu sempre trabalhei aí e agora eu vivo nesse bairro.
P/1 – Quantos anos você trabalha nessa associação?
R – Dia 18 de junho fez vinte e dois.
P/1 – Quer dizer que faz vinte e dois anos que você vai para a Água Branca? Mudou muito o bairro?
R – Mudou. No bairro, muitas residências viraram empresas. Uma coisa que eu achei interessante é que parte delas mantém as roseiras, então tem um toque de residência, não ficaram tão concretas e não sei da onde as pessoas me conhecem, acham que me veem há muito tempo por aí. Porteiros, motoristas, engraxates, à volta do parque. E para mim é uma emoção grande, porque ali é minha casa. Comecei a conhecer melhor o bairro depois que eu comecei a morar ali. Eu fazia sempre o mesmo trajeto. Eu não sei se ligado a Moçambique teria alguma coisa mais interessante.
P/1 – Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando as pessoas ouvem o seu sotaque percebem a diferença, tem curiosidade?
R – “Você é uma portuguesa diferente, você fala diferente.” Porque em África era muito longe da mãe pátria, os de Angola falavam mais cerrado. Nós já abrimos um pouco as vogais. Com vinte e cinco anos de Brasil... Agora em Portugal, quando vou visitar minhas as filhas, elas, as minhas cunhadas dizem: “Ah, estás tão brasileira”. “Ah, ficou no meio do Atlântico porque não fala brasileiro totalmente, nem fala português totalmente”. Só que elas moram em Portugal e fecharam a boca. Elas também não sabem que elas não falam como elas falavam em Moçambique.
P/1 – Elas estão mais aportuguesadas?
R – Porque não tem um termo de comparação de como elas falavam em Moçambique e como elas falam agora em Portugal.
P/1 – Quer dizer, você ficou no meio do Oceano assim com sotaque e com coração?
R – Ah, a minha pátria é aqui. Foi a melhor opção para ter que mudar radicalmente.
P/1 – Você não se arrepende de não ter ido para Johannesburg?
R – Eu teria feito talvez até dois cursos na faculdade. Foi só essa parte. Dominaria profundamente o inglês, teria chance de aprender os idiomas que eu queria. Poderia ter-me especializado em várias coisas, as pessoas achavam que eu tinha talento para isso. Por exemplo, História é uma paixão, por isso eu fiquei no cavalo árabe. É que nem noto... Porque a gente quando fica muito tempo num lugar... O contato com estrangeiro, eu fiz questão de aumentar. Então, por exemplo, eu vou atender a Princesa Alia Hussein da Jordânia, filha mais velha do Rei Hussein, vem julgar cavalo árabe em setembro, no Mart Center. Ela vai julgar junto com o Jorgan Frederiksen (?) que é um dinamarquês, o Jorge Concaro que é um argentino e dois brasileiros. E é esse o trabalho onde eu evoluo, quando estou com estrangeiros. Aí eu vi que eu gosto de ser guia turístico. Eu vi que eu conheci São Paulo e o Estado de São Paulo com esse trabalho feito assim na brincadeira.
P/1 – E essa questão do impacto das diferenças, a comida por exemplo, você estranhou muito aqui?
R – Veja bem, tem uma influência portuguesa muito grande aqui. Os temperos, por exemplo, das comidas baianas vieram da Índia com Vasco da Gama, e tínhamos esses temperos em Moçambique. O cheiro dos temperos... Agora, nós não tínhamos lá só uma coisa, azeite de dendê, não existia lá. De resto, por exemplo, é muito familiar pra mim, os cheiros da Índia. Quando ficou independente, a Índia Portuguesa, Goa, Damão e Diu, o primeiro paredão que eles encontraram foi em Moçambique. Praticamente não tinham indianos em Angola. Que já era o Atlântico em frente ao Brasil. O que aconteceu, primeiro o cheiro horroroso, porque eles não tomam banho. Lá no Rio Ganges é aquela porcaria, eles só entram porque é sagrado. O cheiro de não se lavarem misturado com o cheiro de incenso e de especiarias é barra pesada. Tanto que quando eu entro nesses lugares esotéricos, eu faço logo uma seleção de cheiros, tem uns adocicados que... Então tinha um termo meio depreciativo como mulata que era “monhé”, são os hindus que vieram. Tiveram uma influência grande até para a conservação de alimentos e os negros assimilaram aquelas coisas, e acabaram vindo negros mesmo de Angola, houve uma influência de intercâmbio de negros que trouxeram com a escravatura para a Bahia, pro Rio de Janeiro. Então eu estou em casa.
P/1 – E o azeite de dendê, você gostou?
R – É muito forte para mim. Eu levo muitos turistas que eu atendo, que são os juízes de cavalo árabe, aqui dá pra ir a pé, eu faço muitos programas de índio. Eles são pessoas que andam muito a pé. Pra julgar cavalos tem que ter muita resistência, precisa ficar horas em pé, caminhando no meio dos cavalos, a maioria deles são cavaleiros, e vivem no campo. Então é gente, parte deles são muito chiques mas estão habituados a ter resistência. Então eu ando muito com eles a pé. E tem aquele restaurante Oxalá da Bahia que fica ali perto do Bradesco, entre o Bradesco e o West Plaza, adoram a peixada à baiana. Eu digo para tirarem o azeite de dendê porque eu sei que eles iam ter diarreia. Ficam deslumbrados, pedem a casquinha de siri, aquelas coisas.
P/2 – Onde é o restaurante?
R – Fica naquela calçada, tem aquela farmácia, Drogaria Estela na ponta, logo a seguir o Oeste Plaza, subindo, na calçada do Oeste Plaza, está na avenida Antártica. Você tem a Drogaria Estela na esquina, vai subindo e tem vários restaurantes, um dele é o Oxalá da Bahia.
P/1 – Ô Maria Helena, e coisas que você nunca tinha visto?
R – Olha, eu nunca tinha comido caqui. A primeira vez achei que era tomate. Em Portugal chama-se dióspiro. Só tem um tipo. Achei estranho porque não é clima tropical, mas tem aquele mais duro. E eu nunca tinha visto jabuticaba, achei… Olhei e disse: “uma árvore com alergia” (risos). Algumas eu registrei pra não perder essa essência do espanto, sabe? E eu noto uma coisa, fizeram a invenção… ano ano... quando fez quinhentos anos do descobrimento do Brasil, eu não sabia que tinha uma revolta dos colonizadores que chegaram ao Brasil. “Puxa, mas eu sou filha de colonizadores”, pois eu, como tinha nascido em Africa, eu já nem olhava se eu era branca nem nada, então é engraçado isso. Sabe quando eu recuperei parte disso, quando eles fizeram aquela charge muito cômica, aquela A invenção do Brasil. Está o Selton Mello, chega lá com o Vasco da Gama e depois ele fica com as duas filhas do cacique, uma é Camila Pitanga e a outra é Deborah Secco, e tem o cacique. É incrível! Quando eles disseram… Porque sempre os textos que a gente lê é de colonizador e nesse… “Terra à vista”. Eu dou muita risada, meu senso de humor está super apurado por viver aqui. Nunca tinha lido nada escrito assim. “Barco à vista”. Porque estavam em terra invadidos, aí que eu vi como eu sou, era revoltada com invasão dos outros. Sendo que os meus pais tinham ido para um lugar nativo. Mas eu incorporei porque eu nasci lá, foi, quer dizer, é exótico mas nem fiz força pra nascer lá. Que eles inventaram de ir pra outros lugares. E é interessante que dizia assim, o Cacique, o pai da Camila Pitanga e da Deborah: “Quem são esses caras-pálidas cobertos de pano e que cheiram tão mal?” (risos) E os caras não tomavam banho durante muito tempo. Acho que europeu não gosta muito de água.
P/1 – Era o outro ponto de vista, né? Então você se vê do lado dos…
R – Eu dou sempre esse exemplo de que os textos são todos de quem invade e a história de dizer o achamento do Brasil tá muito correta. Sempre se fala descobrimento. É achamento. Ah, e outra coisa, Moçambique por exemplo… Ah, detalhe: nunca nos ensinavam a história de Portugal, porque nós éramos portugueses segunda classe, eu sempre vivia revoltada com isso, por isso eu queria estudar em algum lugar, já que não tinha universidade. E sempre nos desprezavam. Então, eu achava o que eu acho aqui. E é interessante que eu estou em uma ex-colônia portuguesa também e é tropical, então é igual, as dimensões são diferentes.
P/1 – E coisas comuns como arroz e feijão. Era uma coisa que você não tinha lá?
R – Lá nós comíamos feijão branco.
P/1 – Feijão branco.
P/2 – Então, como foi quando você viu feijão preto pela primeira vez?
R – Nossa, achei esquisitíssimo, porque o molho deixa tudo roxo. Eu adoro.
P/1 – E você comeu?
R – Essa cultura, e sabe de uma coisa, temos um livro de ouro na Associação, para as visitas importantes escreverem as impressões, como quando você visita um lugar, um museu, não sei o quê. Tem sempre aquele livro aberto pros visitantes. E uma coisa, eles falam sobre o evento que são convidados pra vir trabalhar, pra dar premiação. É como exposição de cachorro, até chegar ao campeão, campeã, macho e fêmea e tal. Mas, o que eles escrevem embaixo, é sobre o programa de índio que eu faço, depois eu dou o testemunho, elogio, dou louvores: “Ah. O que a gente aprendeu de cultura brasileira.” E outra, eu até me admiro das coisas que eu sei, principalmente de São Paulo. Eu aprendi a gostar de São Paulo, porque é complicado e é assustador. E é interessante, que, uma das coisas que eles põem, todos eles, sem exceção, é a comida. Então, a cultura, ligada à comida é muito marcante, porque é o alimento. Conforme eu fui lendo aquilo, eu disse: “Gente, que responsabilidade.” Eu nunca tinha reparado.
P/2 – Sim, mas e aí? Quando foi a primeira vez...
R – Que eu comi arroz com feijão?
P/1 – Exatamente.
R – Eu demorei muito tempo pra comer arroz com feijão.
P/1 – Por quê?
R – Porque eu nunca comi comida pesada. Aquilo me passava uma coisa pesada, gente que tinha que fazer mais trabalho braçal tinha que comer pra ficar alimentado mais horas, e eu achava que eu ia sentir muito calor com aquela comida. Nunca falei. Agora que estou a conversar, veio essa observação. E eu como com bastante frequência. Agora, por exemplo, comíamos muito menos arroz que aqui. Eu tenho tentado variar...
P/2 – Mas quando foi que você comeu pela primeira vez?
R – O arroz com feijão?
P/2 – Quem te deu? Onde foi?
R – Ah. Eu fui comer num lugar assim... Era uma quarta ou um sábado, por exemplo que sempre servem feijoada. Mas eu via todos os dias. Uma vez minha cunhada me deu, pra experimentar. Eu disse: “Puxa, não é ruim”. Aí, ela só me deu arroz com feijão. Aí eu comi um frango, alguma coisa. Depois ela pôs um pouco de farofa, que era para aos poucos ir me habituando. Eu disse: “Pode servir tudo”. Aí, eu fiquei curiosa e eu queria saber tudo. Em que lugar do Brasil plantava o feijão? A farofa vinha da onde, feita de quê? E eu noto uma coisa. Os estrangeiros sempre perguntam. Então, eu sempre recupero minha alma de estrangeira, quando eu os atendo. Tem todo um contexto mais profundo do que somente atendê-los. Um detalhe, que é uma observação importante. Lembrei agora. Lembrei-me, agora. A distância para mim, de Moçambique, eram vinte e um anos, ou vinte, não lembro exato. É, vinte e um anos de distância, e o tempo que eu levo até Johannesburg que é South African Airways, normalmente a gente viaja até Johannesburg e dali cinquenta minutos, com as Linhas Aéreas Moçambicanas. Pra mim, a distância eram vinte e um minutos. Eu fiquei chocada... Olha a loucura... quando eu levei oito horas, que eu fui agora, pra chegar à Miami. E ainda mais impressionada, os cinquenta minutos de Johannesburg até o Maputo. Isso pra dizer a vocês que esse lado fica abstrato. Para mim, era um isolamento dos vinte e um anos, que na minha cabeça era a distância de um continente e outro. Eu fiquei tão chocada como isso... Outra coisa que eu achei interessante, a caminho de Moçambique, eu fiz vários tours em Johannesburg, fui à Pretória, fui até Sun City, onde tem aquele hotel seis estrelas, que o pessoal de Las Vegas construiu no deserto, aquele hotel, só com caça-níqueis e é interessante, quando eu entrava... Isso é um contexto africano, independente de estar na África do Sul, quando ficaram sem apartheid, eu entrava, só brancos, fazendo a excursão, e eu sentava na frente com o motorista. Começava a conversar em inglês, e dizia assim: “Como é que você se chama?” “Ah, eu sou Johnny e sou zulu.” Apresentava a etnia, no ato. Com isso vinha à tona fazer com que os brancos talvez impedissem, ou eles passaram a achar que de direito passaram a ser os donos da terra e se impressionar. “Zulu, é a tribo maior do Sul da África.” Não da África do Sul. Do Sul da África. “Como é que você sabe?” “Eu nasci no Maputo”. Um deles, ele chorou. “Que bom, você também é africana?” “Sou branca por fora e negra por dentro.” Brincando. O outro dizia: “O meu nome é... Sei lá, Johnny e eu sou xhosa”. “Ah, você é da tribo do Mandela, da Província do Cabo?” Aí eu vi como a minha negritude estava gravada e eu nem sabia que a tinha. Eu fiquei chocada comigo. À noite eu chorei muito no hotel. Eu estava à espera que minha filha chegasse lá, então eu fiquei uma semana lá.
P/1 – E essa decisão de voltar? Foi a única vez que você voltou pra África do Sul?
R – E apoiada pela minha filha, porque eu não tinha coragem de ir pro local do crime, digamos assim, voltar. O quê que aconteceu? Eu vi coisas chocantes, e, interessante que teve um motorista, que era do ponto de táxi em frente ao bairro... O bairro era tipo Morumbi, e eu fiquei numa casa com a mesma planta das casas que eram da empresa. Eu ficava hospedada, eu e minha filha, com o que tinha sido o último secretário do meu marido, que era o último a apagar as luzes. Todos já tinham ido embora. Eu estava dando assistência às viúvas dos mineiros, no Xai-Xai, onde minha filha tinha nascido, no interior. E é interessante que tinha um ponto de táxi, e em frente tinha muitas embaixadas, quer dizer, as mansões das pessoas que viviam muito bem, passaram, foram vendidas ou alugadas pras embaixadas estrangeiras. Eu tinha a embaixada da Suécia na frente, e do lado a da Finlândia. Não sei o que a Finlândia foi fazer pra Moçambique, mas tinha a da Finlândia. E por aí afora. E o hotel cinco estrelas da cidade era em frente, e foi onde tinha os garotos que venderam os brinquedos com arame e tal. Então, tinha um senhor Castilho que era um dos motoristas, negro. Foi fantástico, e com ele... Ele servia pra fazer trabalhos e serviços de levar e trazer pra esse nosso amigo, que tinha sido secretário do meu marido, o Emílio Gomes. Ele disse: “Maria Helena, ele é de confiança, você pode pedir o que quiser, porque ele é do tempo da colônia. Ele nasceu... Porque eu já tinha quarenta e cinco anos e a Independência tinha sido há vinte e um. E aí ele... O seu Castilho foi... Eu recuperei memória, porque eu conhecia marcas comerciais que eu nunca mais tinha visto. Ah... Em estado de choque. Prédios em que nunca mais tinha sido feito manutenção, estavam a cair de podres. Prédios lindos, aquilo começou a me deixar mal. A minha filha voou pra ... Ela queria a minha história, então eu fui à minha escola primária, fui lá ao colégio das freiras que é o Instituto de Línguas. Eles aproveitaram as salas de aula. Fiquei contente de eles não terem destruído. Ali fora a piscina, onde eu aprendi a nadar, e por aí afora. Foi muito interessante. E ela foi documentando tudo. E aí quando fomos para o interior, a gente passou...Aí, seu Castilho. Esse detalhe, eu recuperei o nome das ruas porque estão todas com nomes de comunistas. Parte deles, Mao Tse Tung, Karl Marx... só gente de extrema esquerda. Todas as outras, não ficaram os nomes nativos. Não tem nada. Nós, por curiosidade, tinha umas quatro ou cinco ruas com os nomes dos reis de Portugal. Pra eles era simbólico, não tinham lhes feito mal, simplesmente eram pessoas importantes. Eu fiquei espantada.
P/1 – Que estranho.
R – Parecia assim um desvio da coerência, da linha condutora da postura deles. Aí, fomos para o interior, pra ir ao Xai-Xai, e meu filho tinha dito: “ Mãe, vai ao Chicuque, que era essa missão. Eu quero areia, terra onde eu nasci, perto da porta da maternidade.” (risos) E a minha outra filha também. Eu disse: “Gente, que coisa”. Que elas queriam terra, sangue do meu sangue. Chegamos ao Xai-Xai e minha filha... Ah. Detalhe: na embaixada lá em Brasília, ela perguntou lá pra dois moçambicanos negros, se ela podia, se tinha alguma coisa que era proibida em Moçambique, porque ela não queria ferir a lei de Moçambique, que a gente não sabia qual era. “Não. Nada. Vocês vão lá, após vinte e um anos, recordar não sei o quê. Tudo bem.” Aí, lá, ela começou a tirar fotos. Tirou muitos, muitos filmes. Quando chegamos lá, ela quis ir ver o hospital onde tinha nascido. Subimos um morro e tinha a única bandeira que estava aberta. Estava ventando e as outras todas estavam assim pendentes. Não tinha vento. E ela achou linda por causa das cores. Disse: “Vou fotografar”. E a gente subiu. Fomos ao hospital, ficou chocada porque o hospital está caindo aos pedaços, quando só tinha aquele caminho. Quando descemos, tinha quatro comandos a metralhadora à nossa espera. Eu fiquei muito mal. O seu Castilho ficou morto. Ele disse: “Ah!!! Mas que horror. Mas o quê que é isso? Faz muito tempo que a gente não tem isso. Só nas fronteiras”.
P/1 – E por quê?
R – Estavam então vestidos à Vietnã, de comando, com aquelas malhas verdes. Aí, mandaram ela sair com a carga. Não podia fotografar nada que fosse do Governo. Depois escreveu pro cara aqui da embaixada e disse: “Olha, já que o senhor não sabe, eu vou lhe informar. Não pode fotografar nada que tenha a bandeira de Moçambique hasteada”. Olha o detalhe: o motorista tinha trocado o táxi, porque aquele com que ele andava na cidade não aguentava uma viagem grande. Era um táxi meio velho. Ele trocou por um Toyota. Ele trabalhava numa frota de táxi, ganhava o salário dele e tal e pediu à dona da frota, se era possível trocar por um carro melhor, porque a gente ia fazer uma viagem de duzentos e cinquenta quilômetros, e deram-lhe um Toyota vermelho (não esqueço a cor). Fomos então. Então disseram: “A gente primeiro... vocês não são terroristas, são espiãs”. A gente não reparou: o carro tinha placa da África do Sul. Nem eu nem ela olhamos pra placa. Duas brancas...
P/1 – Num carro daquele.
R – Aí volta à história. Duas brancas, tirando fotos. Estavam vigiando. Eternamente vai ter problema étnico. É a história de árabes e judeus. Isso não vai mudar nunca.
P/1 – E aí, a senhora devolveu...
R – Então. Ela foi chamada, ficou mais de uma hora lá dentro. Eu não sabia se estavam a esquartejá-la. Gente, eu passei muito mal. Voltou tudo. Que eu achava que eu já não tinha nada dentro, uma alma, sei lá, na memória. Dentro. Passei muito mal. E o Castilho chorava. “Como é possível ainda fazerem essas coisas? A gente não estava fazendo nada de mal. É por isso que eu fico revoltado com este Governo”. Ele começou a falar, não é? Estávamos isolados dentro do carro e ninguém ouvia. Passado um bocado, veio um daqueles... Ah, e todos pequenos, macondes, tropa de elite. Chamaram o seu Castilho. Nem olharam pra mim. Seu Castilho foi pra dentro e foram interrogá-lo numa sala separada. O que aconteceu? Depois a Vânia saiu, (depois eu conto o que aconteceu lá dentro) e falou: “Mãe vamos embora. Amanhã de manhã, estou indo pra Johannesburg. Eu quero que tu termines de visitar os teus amigos, eu te espero lá. Eu vou aproveitar pra fazer sonoterapia, vou dormir lá no Holliday In, vou nadar, vou escrever, vou passear. Eu te espero lá. Mas, eu quero sair desta terra”. Ela que tinha inventado a viagem. E ela nunca podia sonhar que ia aparecer coisas como a época da Independência. O que aconteceu? Chamaram-na e queriam destruir a máquina. Aí, iam tirar o filme. Por sorte... Ah. Não. Já tinha tirado fotos, as principais. Ela tinha ido à Moçambique pra ver a praia, que ela tem fotos na praia de quando era pequena, de um ano. O hospital, a casa onde a gente vivia onde estavam os três jardineiros... Ela foi ver o tamanho do jardim. Não se lembrava. Tinha saído com um ano de lá. Esse filme ficou com eles e o destruíram. Então, nos deram a câmera de volta. Ai, ela dizia: “Eu mostro meu passaporte. Eu nasci nesta terra aqui, no Xai-Xai, e eu queria ver a minha terra. Eu vim aqui só por causa disso. Eu estou... Eu fui embora há vinte e um anos…” Depois eles viram a data de nascimento, tudo. Coincidia. “E eu vim aqui pra visitar. Eu não vou fazer mal a ninguém.” Aí, interrogaram descaradamente, o motorista, pra ver se coincidia. E a gente já tinha conversado bastante, eu tinha chorado, que não tinha pra onde ir pra outro país, mas que eu tinha sofrido muito com a Independência, com a fome, parte da família já tinha morrido de fome. Ficamos muito próximos. Então sabia alguns detalhes. E ele contou, que estávamos vindo... Coincidia com o que ela dizia. E aquilo era o corpo da polícia. Era o comando da polícia. Estão, estávamos as duas dentro do carro a olhar, cheio de comandos com metralhadoras. Fiquei mal. Aí, nós fomos... Ela tinha feito umas compras, na própria cidade de Xai-Xai, e disse: “Mãe, vamos pra casa do Gomes, no Maputo, e amanhã de manhã eu preciso que vocês me levem para o aeroporto, porque eu vou viajar pra Johannesburg, e fico lá”. O Gomes ficou horrorizado porque ele ia... Todas as semanas fazia aquele trajeto. Ele disse: “Olha, esse trajeto não tem mina. Porque até hoje não sabem onde tem mina. Esse não tem, porque foi tudo rastreado, e eu viajo de carro todas as semanas pra dar assistência social às viúvas dos mineiros”.
P/1 – E a senhora não conseguiu a terra dos lugares, então? Pros filhos.
R – Depois, acabou. Eu não fui mais pra frente que a gente tinha que andar até quinhentos quilômetros de distância, e a gente só foi até duzentos e cinquenta. E depois cheguei aqui... Mas meus filhos sabiam que... Em Johannesburg, a gente contou pra eles, e meu filho dizia assim: “Mãe, essa eu não vou perdoar. Tu não trazeres areia do Chicuco?”, brincando. Então, isso serviu de lição... Ah. Vi vários amigos que eu achava que estavam mortos... Porque é o seguinte: quando eu saí do campo, eu fiquei no campo de concentração, quando eu fui pra capital, e o meu marido alugou um apartamento no prédio onde estava o partido comunista. Ele sabia... Olha o lance dele. Ele sabia, que ninguém ia metralhar o prédio. Só iam metralhar do prédio pra fora. Então, o melhor era viver naquele prédio. Então, minha mãe e meus filhos e a babá dos meus filhos ficaram lá, enquanto eu ficava acampada. E ele ficou na fronteira. A gente ficou sem se ver muito tempo. Quase um ano. E eu sempre atravessava a fronteira com os soldados armados atrás, sem saber se ia levar um tiro. Veio a falecer aqui, muito tempo depois, estava dentro de um ônibus, mal, estava dentro de um ônibus, com um derrame, e morreu assim. E esse perigo todo que ele passou, estava bem de saúde e tal.
P/1 – A senhora falava de uma amiga aqui em São Paulo, que era de Moçambique, e que nem sabia que ela estava aqui...
R – Ela tinha andado comigo, nesse colégio de freiras, a Beatriz Figueiredo, e o marido tinha sido colega do meu marido nessa empresa de mineração de ouro e carvão. Nós achávamos que eles tinham morrido, porque nunca mais soubemos notícias uns dos outros. E o meu sogro quis receber a reforma, a aposentadoria, a gente chama de reforma, fomos ao Unibanco. E lá eu encontrei com o chefe do câmbio, diretor do câmbio, o primeiro... Não tinha sido namoradinho, que eu não tinha encantado ainda, no começo do Ginásio (risos), eu estava com o diretor do câmbio no Unibanco. E ele é que nos disse: “Olha, o Luís Figueiredo está como diretor do Banco Internacional, ali na Quinze de Novembro. Nós estávamos na Praça do Patriarca e fomos lá. Subimos os dois, eu e meu marido, e ele que sempre fumou... Tem um aspecto assim, todo... sempre fumando cachimbo. Ele estava a fumar cachimbo, e ficamos os dois encostados na parede, numa distância xis. Uma hora ele iria olhar. A cena. Ele levantou a cabeça pra chamar um office boy, sei lá, e viu-nos. Ele começou a fazer assim, e o cachimbo caiu no chão. Pá. Foi incrível. Depois, fomos pra casa dele. Ele morava num prédio do lado do... Na Paulista. Como é que chama ali, no Estadão, Estadinho?
P/1 – Gazeta, Gazetinha. O Objetivo.
R – E o prédio do lado, tem umas faixas azuis, eu me lembro muito bem que era diretor do Banco Americano. E foi assim, uma coisa. Sempre ficamos em contato e eu sempre a vejo. Todas as semanas, ela vai à minha casa. No meio de milhões de pessoas, uma pessoa que tinha andado comigo com cinco anos de idade, num colégio de freiras... Ah, depois eu ter descoberto esse meu amigo, que sempre foi superintendente de banco, assim. Esse já entrou... Vai bem. Com dinheiro.
P/1 – Nós estamos encaminhando pro final, e eu queria que você dissesse assim, qual você acha que é a sua principal qualidade, de personalidade mesmo?
R – Bom, normalmente, chama-me a atenção a observação das pessoas que convivem comigo, porque às vezes você não sabe definir ou adjetivar. Meu poder de adaptação, que eu fui obrigada a treinar, porque eu tinha na verdade, completo despreparo pra isso, e talvez, por isso, outros morreram bem rápido, porque não se adaptaram, onde eu incluo essa adaptação, desapego. Parece abstrato. É muito complicado. Por exemplo, Tudo o que eu tenho investido, o que circula, é incrível, eu estou sempre... Ando sempre dura, aparece um dinheiro, ou aparece um trabalho pra fazer extra ou... Eu estou sempre a receber presentes, e eu estou sempre a dar muita coisa pra... E as pessoas ficam deslumbradas. E uma coisa, eu tenho uma agenda, aquela agenda permanente, um calendário, onde eu anoto os aniversários. E primeira coisa que eu faço de manhã no escritório... Eu passei a dar um valor a parte humana das pessoas, que eu sempre tive tendência pra isso, não é que eu me transformei tanto. Eu tinha essa personalidade. Talvez por ser sozinha, ou porque eu já nasci assim. Fica difícil a linha divisória. Eu estou sempre a ajudar as pessoas, por isso me chamam Madre Maria de Moçambique. Dificilmente as pessoas não convivem bem comigo, porque eu aprendi com o acampamento a deixar de ser espaçosa. Então, eu criei um mimetismo do mundo que faz com que as pessoas se deslumbrem, porque a gente sem querer, a gente é espaçoso. Porque eu quero aquilo. Não abro mão, como se aquilo...
Você não puder ser. Às vezes, quando a Cleusa ganhou um evento...Tenho uma amiga de infância, que eu dou comida também, que mora em São Paulo, chama-se Maria Helena, mora na Caiubí. Eu estou a morar aí na esquina quase, da Cardoso de Almeida. O filho dela, inclusive, é cavaleiro, e estamos mais próximas ainda, porque ela... Por causa dos cavalos. Ela fica impressionada. A casa dela parece um museu. Tem tapeçarias da Tailândia... Ela trabalhou na Pan American, então deu a volta ao mundo muitas vezes, já viveu muito bem lá. Ela não acredita... Ela diz que eu sou uma revelação. Eu sempre ouço ela com atenção, porque eu tenho um lado meio hippie de ser, e que eu era tão chique, tão não sei o quê, tinha que ser tudo a condizer, e agora eu me visto mais ou menos... Ela ficou deslumbrada, porque ela continua apegada. Ela esteve numa prisão. Ela foi presa. Esteve num dos compartimentos, com água até a cintura, por causa das coisas que ela dizia pros governantes lá. Ela teve uma experiência... Meu caso não. Detalhe interessante também: eu sempre fui portuguesa, nunca fui moçambicana, porque só a partir do momento em que o país é independente....Tanto que os brasileiros foram só a partir da Independência. Antes eles eram portugueses, embora nascidos no Brasil. Para complicar a nossa saída de Moçambique, tínhamos uma pasta, um processo com um monte de documentos, endereçados à Fazenda e tal. E os funcionários já tinham fugido. Então foi um drama, porque quem estava lá, ou era ajudante de..., ou office boy. Não tinham nenhuma noção. Parte dos arquivos tinham destruído. Foi horrível. E ficava aquela angústia, porque tinha um prazo xis pra fazer isso, e depois já não podia sair do país. Nem com salvo conduto. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ali tinha um documento, era o item, digamos, z. Nós tínhamos que renunciar à nacionalidade moçambicana, sendo que a gente nunca tinha sido moçambicano. Isso era um drama, porque o Ministro da Justiça, se estava de mau humor naquele dia, dizia assim: “Não. Você não vai .Você fica”. E tinha histórias pesadas do meu sogro. Então, nós estávamos indo juntos, um clã familiar. Esse detalhe foi muito estranho, muito interessante.
P/1 – Voltando atrás, mais uma perguntinha... Você tem sonhos que você gostaria assim de realizar? Planos de vida?
R – Planos! Eu estou a fazer uma lista, pra quando eu me aposentar, porque eu sou do contra, eu quero estar cada vez melhor, com o espírito mais aberto...Eu gostaria de visitar vários países. Eu já fui pra lugares diferentes, por exemplo: na Irlanda, no Alasca, que minha filha era, check-in na American Airlines e o marido da minha segunda filha, está a trabalhar na Lufthansa, em Heathrow, em Londres. Então vou como stand-by... Então, a escala de valores também fica estranha. Eu passei a viajar de avião em primeira classe, em poltronas de cinco mil dólares e com pouco mais de cem dólares na bolsa. Então, criou essa flexibilidade de animal mimético. E eu só lido com gente de muito dinheiro no escritório. E eles acham interessante, o meu desapego, porque já... Como eu estou viúva há muito tempo, já deram cantadas e tal. E é gente com muito dinheiro. Tem vários carros. Eles começam... Eu digo: “Não preciso fazer a lista”. Eu mudava de carros todos os anos...e eu: “Não precisa me deslumbrar com isso, porque eu também já tive carros”. Eles me acham um ET. Então me admiram profundamente e dizem: “ Helena, seu fã clube...” Digo: “ Não é, é que eles me acham só exótica”.
P/1 – Você namora Maria Helena?
R – Não. Não namoro. Essa parte é meio complicada.
P/1 – Então, eu queria fazer só uma pergunta pra fechar...
R – Você tinha perguntado se eu tinha algum sonho.
P/1 – É. Você tinha falado das viagens. Você quer complementar?
R – Das viagens é a seguinte: não falei de meus filhos. Minha filha mais velha foi trabalhar na Pan American e depois que a Pan American faliu, ela foi trabalhar na American Airlines e ficou vários anos. E depois, por causa de umas denúncias de corrupção, ela saiu, aliás, despediram todo o grupo de funcionários do plantão da manhã, e ela ficou muito chocada. Mais tarde, depois, pagaram todos os direitos dela, viram que tinha sido um engano com ela, e ela quis ir fazer Sonoterapia em Portugal, que ela queria estar perto das tias. Duas irmãs de meu marido moram perto de Lisboa. Uma outra mora aqui, e tem mais uma outra em Portugal também. Ela quis ir pra perto dessas duas tias e dormia até tarde e tal. O marido foi junto. O marido é brasileiro. Detalhe: ele tem cinquenta e cinco anos, eu tenho cinquenta e sete, meu genro.
P/1 – Nossa.
R – Mais vinte anos que ela. Ela está com trinta e quatro, a Vânia. E a Vânia se entusiasmou, não queria voltar pro Brasil, tinha ficado com trauma, e comprou um café. Fica a quarenta e cinco minutos de Lisboa, numa vila, nunca conseguiu ser cidade: Salvaterra de Magos, um nome todo inspirado. Português mesmo. Mas ela só assumia o café se a irmã fosse pra lá. E a irmã é casada com um ex-funcionário da United Airlines. Então, eu viajava pelo mundo ou pela United ou pela American. O papo era só aviões. Então, o Emerson, que é o marido da… Meu genro, casado com minha segunda filha, Claudia, é filho de português, era o único que tinha prática de atender ao balcão e de saber governar e dirigir um café. O pai, pra variar, tinha tido uma padaria, uma lanchonete e um bar. Todos ajudavam o pai. Bem, resumo da história. Ele foi pra lá, montaram um café, ficou lindo, reformaram, chama-se Café Tucano, só tem objetos brasileiros. Todo mundo adora. Diz; “Oh, o café das brasileiras”.
P/1 – Ela não faz propaganda pro PSDB não? (risos)
R – Não; não entra partido político nenhum. (risos)
P/1 – Eu achei que com esse nome, não é?
R – Nesse tempo, meu filho, já tinha ido pra Londres. Ele queria investir em fotografia de moda e informou-se. Estava pra ir pra Nova York e descobriu que fotografia de moda mais avançada do mundo, pra aprender, é Londres. E esse cunhado dele, ou seja, meu genro, o Emerson da United, queria trabalhar de novo na companhia aérea, que assim a família pode viajar. Tentou em Lisboa e não conseguiu. Aí, ele foi passar uma semana em Londres. Foi para Heathrow no aeroporto, e distribuiu dez currículos. Duas semanas depois, a Lufthansa chamou-o e ele tinha que ir na Lufthansa. Ficou deslumbrado. Mas a minha filha, a mulher dele, tem dois filhos, um casal de filhos, não estava preparada, porque ele enviou os currículos e não falou nada. Só falou que estava com saudades do cunhado... Foi assim uma reviravolta. E eles não tinham reserva de dinheiro, e Londres é uma das cidades mais caras do mundo. Bem, ficaram na casa do meu filho e tal. Esse é um caso. E a mais velha, no café. O tempo foi passando, elas já estão há quase dois anos lá, então a mais velha conseguiu vender o café, o marido já foi à frente e está a trabalhar em North Miami, que ela queria morar na Flórida, e essa do meio está a morar em Londres, e o marido na Lufthansa. Mais tarde ele vai pedir transferência da Lufthansa pra Miami, e o meu filho saiu de Londres e começou a viver em Nova York. Agora, ele está aqui, porque a Luciana, que vai ser mulher dele, por causa da Revlon – ela vai ser o rosto da Revlon, um dos quatro rostos da Revlon – tem ficado direto em Nova York. E tem mais. Em Londres não tem trabalho. Ela viajava pra Alemanha, viajava, mas só que ia de manhã e voltava à noite, era mais perto do que estar no Brasil. E o meu filho só sobrevivia com os trabalhos que a Zapping, a Zoomp, o Tufi Duek, ou alguém da moda dá pra ele. Então, a ideia, a mais velha sempre me diz, que ela prometeu ao pai que ela sempre vai tomar conta de mim. E eu acabei ficando independente, mas foi muito complicado eu viver sozinha, porque eles foram saindo lentamente de casa. As duas viveram com os maridos antes de casar, o que eu acho ótimo. Não casaram virgens. Também isso aí, o hímen feminino é detalhe. Um horror. Quando o namorado falava “Ah. Eu sou virgem”. “Ah é complicado. Não quero.” É engraçado a concepção cultural. Mas então, está a mais velha, vai pular pra Flórida, de Portugal, tem uma filha pequena, de um ano. A do meio... Essa tem trinta e quatro, Vânia, a mais velha. Depois tem a de trinta e dois que é a Claudia. Está a morar em Londres, com o marido na Lufthansa, e dois filhos. Um casal de filhos. E o Henrique, que está a morar em Nova York. Eles sabem que eu adoro o Brasil. Agora meu filho, a Luciana já comprou um apartamento em Nova York, pra ela fazer um investimento já que ela ganhou bastante dinheiro com a Revlon, e está aproveitando. E meu filho vai comprar um apartamento aqui em São Paulo, pra eu morar nele, até resolver o que ele vai fazer. A minha ideia era me aposentar com sessenta anos. Faltam três anos. Eu já estou fazendo uma lista das coisas que eu quero fazer quando me aposentar. Eu gosto da parte de guia turístico, por exemplo. Mas, tem que estar num lugar, tem que fazer um curso. Isso eu acho muito interessante, porque lá vem Geografia e História. Sempre a base, que também tem no cavalo árabe. Por exemplo, eu gosto muito de saber que a princesa Alia Hussein vai vir pro Brasil, aí eu vou aprender quais as primeiras tribos, qual a cor da bandeira e tal. Eu adoro. Isso aí é a minha praia. A minha filha que diz que eu tenho sempre que ficar perto dela, tá indo pra North Miami. “Oh mãe, não fique preocupada. Eu sei que tu gostas do Brasil. Fica uns seis meses aqui comigo e fica seis meses no Brasil. No inverno da Flórida foges pro Brasil, e tal.” Então, eu estou assim mais cigana. Como tem planos que mudam, a gente nunca pode fazer planos por muito tempo, mas se eu puder ficar no Brasil, eu prefiro, porque na verdade, a minha terra é aqui. Eu vou a Portugal, eu não tenho nada a ver com aquela tribo. Pensam muito pequeno. Elas também acham. Elas têm mil histórias que elas querem me contar, quando estiverem fora de lá. A do meio já está fora. Então, a ideia é juntarem todos nos Estados Unidos, os que pudessem ir pros Estados Unidos ou Brasil. Eu faço ponte aérea ou fico lá. A coisa que eu sinto mais, lógico, de vez em quando eu ganho, é ficar perto dos netos. Isso eu sinto muita falta.
P/1 – Você conhece a sua netinha de um ano?
R – Sim, eu estive lá em dezembro. Eu estive até janeiro passado. Passei quinze dias lá em Salvaterra de Magos, depois essa minha amiga no Estoril e depois fiquei quinze dias em Londres. Fui ver os dinossauros com meu neto de lá. Neve em Londres, que não costuma ter. Gaivotas em Londres. Incrível. Então é isso. A minha ideia... Então, tem um detalhe que é... eu leio pra uma senhora de idade. É uma profissão muito antiga, que está com problema de visão. Está com dez por cento num olho e trinta no outro. Uma intelectual, que era casada com um psiquiatra famoso, e viveu na França muito tempo. É um detalhe da vida preenchido. Então ela dá subsídio de Paris sempre que eu vou ler lá. Aquele lugar que eu queria estudar. E agora, estou a ler André Malraux, que era professor da Sorbonne e que eu queria ser aluna.
P/1 – Como é que ela chama, essa senhora?
R – Chama-se Heloísa Lima Dantas, e o professor Dantas, Pedro Dantas, foi colega do Franco da Rocha. E eles é que, depois, começaram a fazer, com Ramos de Azevedo, o Hospital do Juqueri. Então, é o subsídio francês, que eu tenho com ela. Ela traduzia francês e inglês. Então, eu leio pra ela os clássicos que eu não pude ler quando eu estava em Moçambique. É por isso que eu digo... Eu esperei muitos anos, já tinha esquecido que eu queria isso. Então, eu leio agora Ítalo Calvino, Umberto Eco, depois eu leio, vou ler lá pra trás, Balzac, Emile Zola, Gustav Flaubert, Guy de Maupassant. A tendência é mais pros franceses, que era o que eu queria fazer quando eu tinha dezesseis anos. Passaram-se só quarenta anos.
P/1 – Esses livros que vinham... Que tinham que chegar escondidos?
R – Essa parte é muito interessante, vinham como contrabando, como se fosse marijuana.
P/1 – Agora você lê pra uma pessoa que ...
R – É muito interessante. Então, Invista... As pessoas notam. Existe um processo de alegria interior que eu passo pras pessoas, apesar de estar na menopausa, e eu tive uma fase ruim. Estou salva porque eu engulo soja. Agora estou bem mesmo porque com as cápsulas de soja, acabaram meus problemas de oscilação. Isso pra dizer que, talvez eu leia pra pessoas com problemas visuais, ou talvez eu também faça um curso de Turismo, ou talvez eu só ande com os netos fazendo cantigas de roda. Lá na frente é um ponto de interrogação, mas eu tenho assim atração... E na Associação não querem que eu saia porque eu sou o dinossauro de estimação, sou a memória ...
P/1 – ...viva da Associação.
R – Essas frases de campanha política me impressionam. (risos)
P/1 – Pra gente encerrar então, eu queria que você dissesse o que você achou dessa experiência de ter contado um pouco a história de sua vida.
R – Olha, primeiro, fiquei surpresa que depois de vinte e cinco anos, eu já tinha me esquecido que eu sou imigrante. Estou na verdade tão arraigada no Brasil que eu sempre acho... Quando vou a Portugal é que eu recupero, quando eu atendo estrangeiros é que eu sei que sou estrangeira. É uma experiência que eu nunca tive, nunca, e achei que eu não ia ter subsídio... É uma coisa abstrata, até você vivenciar. Não vou saber falar. Eu estou inclusive a fazer um curso de Iniciação à Oratória, lá no Parque Água Branca. Termina nesse próximo domingo, porque se forem mais de quatro pessoas, eu não consigo falar. Não sei lá porque é o número quatro. Se forem cinco pessoas, eu já fico com agulhadas na barriga, começa a ficar mal, e pra fazer um exercício a gente tem que subir lá no palco do auditório, e são colegas, e como todos olham pra mim, eu uh! Acho que eu estou no paredão de fuzilamento em Moçambique. (risos) É interessante, porque eu achei que muitas coisas que estavam esquecidas... Ah. Tem um detalhe, outro detalhe. Eu não consegui chorar em Moçambique. Minha filha chorou bastante.
P/1 – Na volta?
R – Quando eu estive lá em 1997. Voltei pro Brasil e fiquei seis meses, com depressão. Já tinha estado sete anos com depressão com a morte de meu marido e depois com o suicídio da minha mãe. Minha mãe se suicidou. Jogou-se do sexto andar, eu não tinha comentado. E aí eu nunca mais tive depressão. Andei na mão de psiquiatras, feiticeiros, alienígenas, o que você possa imaginar... Enriqueceu o meu vocabulário, mas eu sou muito cética com as abordagens que eles fazem. Eu já tenho a resposta antes de eu subir lá e falar de tanto que eu sofri nas mãos deles. Andei dependente de droga injetável que eles davam pra que eu ficasse calma. É uma droga. Acabei por me salvar a duras penas. Foi todo um processo. E eu não achei que eu ia conseguir, fiquei até com uma certa amnésia, fiz tratamento pra relaxamento. Fiquei paralisada de um lado também. E é interessante, que após seis meses da vinda de Moçambique, eu tive uma crise de choro, chorei três dias, dia e noite. Não fui trabalhar. E, depois, o meu choro secou, e eu nunca mais me lembrei de Moçambique, a não ser vagamente. Quando eu falei pra minha filha, ela começou a chorar. Mas tinha passado tanto tempo. “Vânia, eu quero te agradecer de coração por tu teres insistido pra voltarmos a Moçambique.” Aliás, é assim que a gente cauteriza as coisas. Isso foi um exemplo que a gente só leva a sério quando vivencia a coisa. Não é com discurso muito bonito, que na prática amassar com emoção é muito diferente. E, foi incrível. Agora eu fiquei um pouco abalada porque... Mas, nada que me deixe mal. Mas as fotos do meu marido, que eu resolvi deixar de olhar pra cara dele. Depois eu comecei a olhar melhor: “Puxa, como ele era bonito”. No lugar onde ele está, provavelmente eu estou a puxar uma perna. Não sei. Interromper a estadia dele noutra dimensão. Foi uma grande lição a ida a meu país de origem conturbado, onde tem muitos cadáveres, onde eu perdi muitos amigos também, em prisões subterrâneas. O prédio em São Paulo... em São Paulo, em Maputo onde meu marido colocou os filhos, no prédio do partido comunista, perto tinha um grande jardim. Não como o Ibirapuera, mas muito grande. E era muito exótico. Tinha plantas lá do mundo inteiro. E tinha lá um paredão, de onde saiam plantas do meio das pedras. E era ali que era o paredão de fuzilamento. Eles foram fuzilados lá, os amigos meus. E isso não tem como tirar. São cicatrizes que deixaram de doer. Na verdade o tempo... Aquela coisa, os chavões do tempo, é o melhor remédio. Mas não é verdade. Gente simples é que cria esses provérbios. Vai ficando só aquela saudades, aquelas coisas, e eu fiquei legal só depois de seis meses ter voltado... E eu precisava chorar. Você sabe qual é a designação que eu dou pra Moçambique, pra mim é uma Atlântida, porque quando eu cheguei lá, não era mais. Era outra coisa. E, tinha uma referência vaga, que eu tinha estudado ali, mas a casa já estava diferente. Então, quer dizer, nada do que eu vi lá era mais, a não ser o museu. Tinha umas coisas de museu. Mas só; e museu é um lugar que tem coisas mortas. Eu não levei pra essa conotação. Então, é um depósito de coisas mortas, que eu já vi quando eu estava lá, e mais nada. Nem reconheci a baía, o mar, porque não tinha mais navios, os estivadores. Nada daquilo... Era tudo diferente. O meu clã, a minha tribo, ninguém está lá. Então, é só um lugar geográfico onde existiu... Pra mim é uma Atlântida mesmo, como ícone.
P/1 – Está joia. Então, eu queria agradecer essa entrevista.
R – Tem mais alguma coisa, algum ranço que estava lá no fundo, foi ótimo.
P/1 – Que bom. (risos)
P/2 – Que joia.
Recolher
.jpeg)