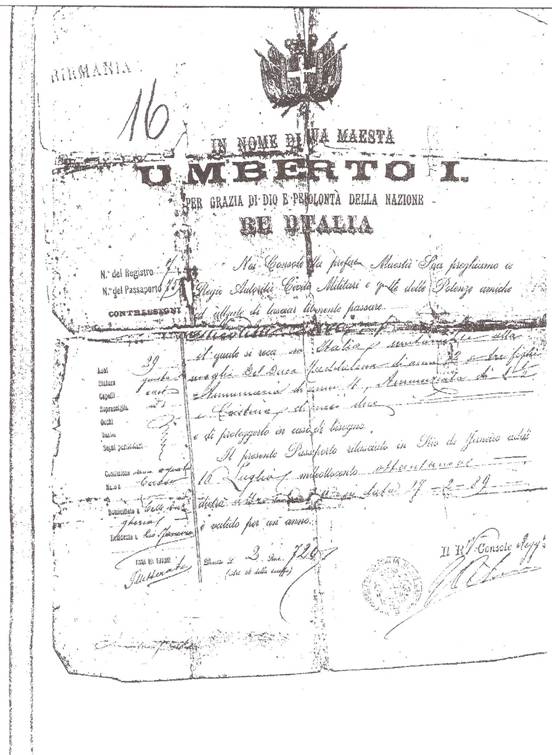Programa Conte Sua História – 20 anos Museu da Pessoa no Brasil
Depoimento de Margarida Portella Sollero
Entrevistada por Vera Caetano e Edgard Leda
São Paulo, 4 de outubro de 2012
Realização Museu da Pessoa
Código: PCSH_HV373
Revisado por Joice Yumi Matsunaga
P/1 – Bom, eu queria saber qual o seu nome, o local de nascimento, a data.
R – É Margarida Portella Sollero, nasci no Rio de Janeiro em 9 de setembro de 1944. Eu sou filha de um casal que teve dez filhos, teve doze, mas dois não sobreviveram. Então éramos dez irmãos, meu pai era advogado, ele... Minha mãe só trabalhava em casa. E a gente foi...
P/1 – Qual o nome deles?
R – José Sollero Filho e Lia de Lourdes Sollero. Nós dez somos vivos e bastante unidos, um ajuda bastante o outro. Eu gosto muito de ter dez irmãos, aliás, nove, né, dez comigo. E... Quando em 1967 papai mudou-se pra São Paulo, precisou, foi uma coisa profissional, e a partir daí nós moramos em São Paulo. Papai depois construiu uma casa bonita, bem grande, né, lá no Jardim São Bento, e foi por aí que a minha vida se passou. Tivemos bastante dificuldades em alguns períodos, depois melhorou. Enfim...
P/1 – No caso, seu pai trabalhava com o quê?
R – Ele trabalhava com seguros, mas ele era do Instituto de Resseguros do Brasil, então ele era funcionário federal. E como advogado era muito, muito, muito reconhecido. Tinha muitos amigos. Tem até, assim, publicações com o nome dele, tem um simpósio que acontece anualmente com o nome dele. Ele era uma pessoa muito querida e muito especial.
P/2 – Você sabe como eles se conheceram, seu pai e sua mãe?
R – Olha, se conheceram no batizado de uma sobrinha da mamãe, que aí o papai foi porque era amigo... Enfim, um amigo de outra... Enfim, da outra parte, né? E aí eles se conheceram, começaram a namorar e se casaram em 1942. Eu tenho um irmão mais velho que nasceu em 1943 e eu em 1944.
P/1 – Seus pais se conheceram numa festa, né, aí eles...
Continuar leituraPrograma Conte Sua História – 20 anos Museu da Pessoa no Brasil
Depoimento de Margarida Portella Sollero
Entrevistada por Vera Caetano e Edgard Leda
São Paulo, 4 de outubro de 2012
Realização Museu da Pessoa
Código: PCSH_HV373
Revisado por Joice Yumi Matsunaga
P/1 – Bom, eu queria saber qual o seu nome, o local de nascimento, a data.
R – É Margarida Portella Sollero, nasci no Rio de Janeiro em 9 de setembro de 1944. Eu sou filha de um casal que teve dez filhos, teve doze, mas dois não sobreviveram. Então éramos dez irmãos, meu pai era advogado, ele... Minha mãe só trabalhava em casa. E a gente foi...
P/1 – Qual o nome deles?
R – José Sollero Filho e Lia de Lourdes Sollero. Nós dez somos vivos e bastante unidos, um ajuda bastante o outro. Eu gosto muito de ter dez irmãos, aliás, nove, né, dez comigo. E... Quando em 1967 papai mudou-se pra São Paulo, precisou, foi uma coisa profissional, e a partir daí nós moramos em São Paulo. Papai depois construiu uma casa bonita, bem grande, né, lá no Jardim São Bento, e foi por aí que a minha vida se passou. Tivemos bastante dificuldades em alguns períodos, depois melhorou. Enfim...
P/1 – No caso, seu pai trabalhava com o quê?
R – Ele trabalhava com seguros, mas ele era do Instituto de Resseguros do Brasil, então ele era funcionário federal. E como advogado era muito, muito, muito reconhecido. Tinha muitos amigos. Tem até, assim, publicações com o nome dele, tem um simpósio que acontece anualmente com o nome dele. Ele era uma pessoa muito querida e muito especial.
P/2 – Você sabe como eles se conheceram, seu pai e sua mãe?
R – Olha, se conheceram no batizado de uma sobrinha da mamãe, que aí o papai foi porque era amigo... Enfim, um amigo de outra... Enfim, da outra parte, né? E aí eles se conheceram, começaram a namorar e se casaram em 1942. Eu tenho um irmão mais velho que nasceu em 1943 e eu em 1944.
P/1 – Seus pais se conheceram numa festa, né, aí eles começaram a namorar, foram...
R – É.
P/1 – Logo em seguida casaram.
R – É, em 1942 se casaram. E meu pai e a minha mãe foram co-fundadores de um movimento familiar cristão. Os dois eram muito cristãos e muito militantes. Desde que... Tinham inclusive bastante participação política. Desde que começou a ditadura em 1964, eles sempre foram contra e prezavam muito a justiça, a solidariedade. Eles tinham muito trabalho também com população de rua. Com a OAF, naquele tempo era Organização de Auxílio Fraterno, que dava bastante assistência a moradores de rua. Então papai e mamãe, dentro do movimento cristão, sempre tiveram muita militância, e foram, acho, um modelo pra todos nós.
P/1 – Então quando eles casaram eles foram morar, que a senhora disse...?
R – Eles foram morar no Rio de Janeiro mesmo. Casaram-se no Rio. Foram morar no Rio mesmo, numa vila, onde nasceram os quatro primeiros filhos. Aí mudaram-se pra uma casa maior e... Também na Tijuca, no Rio. E lá eles tiveram mais quatro filhos. Ficaram oito. Mudaram-se pra Niterói para uma casa maior e lá tiveram as duas filhas menores. Então depois mudaram-se para São Paulo, nós viemos juntos...
P/1 – Sua mãe era dona de casa, né, que você falou...
R – Mamãe era dona de casa e trabalhava bastante, né?
P/1 – Sei.
R – Com esse monte de filhos... Era também muito católica e muito militante. Uma vez ela... Bom, isso já é de outra época. Lembrei...
P/1 – Quando você fala militância, que juntava, era um partido cristão?
R – Não.
P/1 – Ou era militância...
R – Não, não era. Militância que eu digo era assim: eles nunca foram um casal que o pai chegava às sete horas da noite em casa e ia jantar, tomar banho e ficar vendo o jornal nacional, e a mulher fazendo comida. Eles sempre foram um casal muito dinâmico. Eu falo militância no sentido de que eles se dedicaram muito à igreja, ao trabalho com casais e ao trabalho com... Papai e mamãe abrigavam na casa deles, onde moravam dez crianças, aliás, pessoas que estavam na rua. Sabe? Ah, eles achavam isso certíssimo. Uma vez a gente... Uma vez bateu em casa... Papai estava viajando. Bateu em casa a polícia acompanhando uma mulher já de uma meia idade, dizendo que ela estava andando pela rua sozinha e falando muito, e que eles não queriam prender, então queriam ver se conseguiam algum lugar pra ela ficar à noite pelo menos. Eu falei: “Pois não, pode entrar”. Meu irmão também: “Pode entrar”. Completamente louca. Aí demos lá o quarto pra ela, um quarto só pra ela, nos juntamos, né? E quando papai e mamãe chegaram: “Nossa, que beleza. Muito bem! Isso mesmo que vocês deviam ter feito. Estamos muito orgulhosos de vocês”. Então era isso que eu digo, essa postura deles.
P/1 – E a sua infância foi lá em Niterói?
R – Foi. Foi uma parte no Rio, outra parte em Niterói. Quando nós viemos pra São Paulo, eu tinha doze anos, pra treze, já.
P/1 – E esse período de infância como é que foi? Quais foram as principais lembranças? Como é que era a sua infância?
R – Olha, primeiro eu achava que filho nascia todo ano. Eu tive um choque quando eu soube que isso não era verdade. Que muitos amigos meus e primos não tinham dez irmãos, nove irmãos, sei lá. Mas então a minha infância toda foi permeada por isso, né, irmãos menores, nascendo, ajudando a cuidar, ajudando a mamãe e muito permeada por essa coisa de ter muitos irmãos.
P/1 – De cooperação...
R – Eu era a filha mais velha, né?
P/1 – E a escola? As brincadeiras?
R – Eu sempre frequentei escola pública e eu não era assim da... Eu era uma aluna bastante quieta, quietinha, prestava atenção, ficava lá no meu lugar, falava com papai e mamãe as coisas que aconteciam. Eu era uma aluna bem, assim, nunca fui brilhante.
P/1 – Mais tímida, assim, você era?
R – É. Mais tímida. Isso na infância. Depois na adolescência eu fui uma aluna bastante rebelde. Matava aula, né? Nunca fui de fazer malcriação pra professor nem nada. É... Principalmente achava que não valia muito a pena aquilo que eles estavam ensinando...
P/1 – Isso era no Rio de Janeiro?
R – No Rio… Aqui em São Paulo já. Adolescente.
P/1 – Você já tinha vindo?
R – Já tinha vindo. Eu dava muito trabalho.
P/1 – Como é que foi essa sua mudança de menina, assim, ainda garota pra adolescente e a mudança pra São Paulo?
R – Então, sabe que foi bastante chocante, porque a gente morava em Niterói, que era uma cidadezinha pequena. Ônibus em Niterói era do tamanho de lotação, né? Eu ia a pé da escola pra casa pra economizar o dinheiro do bonde e comprar revistinha. E, enfim, era uma vida bem mais pacata, né? A gente brincava muito na rua, jogava futebol, empinava papagaio. Todas as coisas de menino eu também fazia. E, então, era muito gostoso. Mamãe chamava a gente com assobio. Cada filho tinha um assobio diferente. Acredita? Aí ela chegava na porta e (imitando assobio): “João! Corre”. Então era uma vida bem mais solta, né? Depois quando a gente mudou pra São Paulo...
P/1– Foi seu pai que quis mudar?
R – Meu pai precisou mudar, né? Ele teve uma promoção no IRB e precisou mudar porque... Enfim...
P/1 – Por oportunidade...
R – Tinha um salário melhor, um cargo melhor dentro do IRB, tal. Uma oportunidade. E a gente, todos nós sofremos muito. Quando a gente veio pra São Paulo tinha muito preconceito de cor. E a gente como já é moreno e tomava muito sol, veio tudo preto aqui pra São Paulo. Era muito preconceito...
P/1 – Você lembra do momento em que você estava chegando?
R – Lembro.
P/1 – Os primeiros meses...
R – Lembro. Lembro muito. Lembro muito. As minhas colegas mandavam eu ficar falando biscoito, eu fala “bixcoito”, todo mundo morria de rir. Ai, ai. Rio, né, que fala aqui em São Paulo, eu falava “Río”, (imitando risos)... Enfim, não foi uma mudança muito fácil, não foi, né? São Paulo é uma cidade grande. Eu via... Eu vi bonde também que tinha naquele tempo. Os ônibus eram enormes, as filas de ônibus eram enormes. Enfim, era... A organização... Eu fui pro Caetano de Campos, que era uma escola enorme, era, né? Ali na Praça da República. Agora é a Secretaria da Educação. Enfim, não foi muito fácil, mas depois nós... Acho que a gente gostou tanto de São Paulo quanto a gente gostava de Niterói. Mas, a gente se adapta, né?
P/1 – Adaptou?
R – É.
P/1 – Vocês moravam perto do Caetano de Campos?
R – Não. A gente morava em Perdizes, num casarão que até era da igreja e eles alugaram pro papai por um preço bem baratinho. Agora é um tremendo prédio, mas na nossa... Era o terreno da nossa casa, foi construído um prédio e uma casa de um vizinho, que era bem pequeninha, você imagina que era, realmente, era um casarão, né? E era muito... Eu achava chiquérrimo. A casa chiquérrima. Tinha escada de mármore, janelinha na porta. Eu achava muito chique. Mas...
P/1 – Você ia pra escola como?
R – De ônibus. Eu tinha doze anos, a mamãe me ensinou a ir, foi uma vez comigo, me mostrou onde é que subia no ônibus, onde é que descia. Acho que teve uma vez que ela foi comigo, mas sem falar comigo, me seguindo, pra ver se eu estava sabendo direitinho, viu que eu estava sabendo e nunca mais foi junto. Aí eu estudava no centro da cidade, né? Naquele tempo não era o que é hoje, né? Naquele tempo era tranquilo.
P/1 – E aí você não gostava tanto da escola ou...?
R – Eu achava a escola bonita, mas era muito grande, né, era muito grande, muito aluno, as classes muito numerosas. Era bem diferente.
P/1 – Então, mas retomando um pouquinho que você disse que você achava escolaque não era muito importante, que tinham coisas que não te atraiam muito.
R – Ah, sim. Isso me aconteceu justamente no Caetano de Campos. Realmente tinham coisas que eu achava que eram fáceis demais, né, era muito fácil. E eu não gostava. Sei lá, eu ia andar. Eu repeti de ano por faltas umas três vezes mais ou menos. Ai, ai. Mas era mais isso...
P/1 – Você ia pra onde assim? Você ia passear?
R – Andar. Passear pelo centro da cidade, olhar vitrine, comer um docinho da Kopenhagen, ir no Mappin. Eu não fazia nada. Eu andava, sabe? Andava. Eu gostava disso.
P/1 – Gazeteava.
R – Gazeteava. Gazeteava. Isso mesmo. Gazeteava.
P/1 – E você ia sozinha?
R – Sozinha. Sozinha pela rua. Ninguém era tão louco feito eu, né? De querer sair escondido.
P/1 – Você não tinha nenhuma amiguinha que te acompanhava nisso?
R – Não. Eu tinha uma amiga muito boa, Zilda, mas ela talvez tenha me acompanhado no máximo uma vez. Ela... Não faziam isso. As meninas não faziam isso. Eu fazia.
P/1 – E quando seus pais ficavam sabendo, eles ficavam bravos?
R – Ficavam muito admirados. Eu lembro que a mamãe uma vez me seguiu e eu olhei pra trás assim, eu parei, acho que eu percebi que ela estava me seguindo, né? Certamente ela estava querendo saber o que eu fazia, né? Que eu saía de casa e entrava na escola, dava presença e depois saía. Eu não fazia nada. Aí eu percebi que ela estava me seguindo, ela se escondeu correndo e não tocou no assunto comigo. Era... Isso era muito engraçado antigamente, não é? Era muito engraçado. Assim uma certa... Um certo pudor de ficar investigando muito, falando muito, né? Falava só, digamos, indiretamente.
P/2 – Você levava teus irmãos? Você ia com teus irmãos? Você era a mais nova, mais velha...
R – Não. Não. Sozinha. Sozinha no centro de São Paulo, né? Não era essa coisa que é hoje. Ficava lá na Barão de Itapetininga, 24 de Maio. Eu gostava de olhar vitrine. Vê se pode isso?!
P/2 – E onde estudavam os seus irmãos?
R – Meu irmão estudava também no Caetano, mas no período da manhã. Porque naquele tempo era separado, as meninas eram de tarde e os meninos de manhã. Então a gente não se encontrava. Aliás, meu irmão gazeteava bastante também, mas não comigo. Os outros irmãos tinham uma escola perto da esquina da nossa casa, particular, mas que era muito prático pra mamãe, que a gente ouvia o sinal da escola quando estava dentro de casa, e aí eles pegavam a mala e saiam correndo... Uns estudavam lá, uma irmã minha estudou no Santa Marcelina, o meu irmão José: “Onde ele estudava?”, não me lembro. Mas no Caetano de Campos... Acho que estudava no São Bento.
P/1 – E aí você fez novas amizades lá? Como é que foi?
R – Fiz. Fiz. E também eu repeti de ano, mas tinha algumas áreas que eu gostava muito. Eu gostava muito de Matemática e aí a professora pedia pra eu estudar com minhas colegas. Aí eu ia na casa delas e ficava ajudando. Elas melhoravam realmente. E aí eu estudava junto. Passei a ir bem... Uma vez quase repeti em latim. Aí meu pai ficou muito assim preocupado, falou: “Guida, agora nós vamos estudar latim todo dia. Vou chamar você seis horas da manhã, até às sete, a gente fica estudando”. Eu falei: “Tá bom, papai”. Eu respeitava ele muito, né? Aí, fomos. É... Papai me chamava, eu descia com ele e ele ficava estudando latim comigo. Olha que o papai muito frequentemente ficava trabalhando até de madrugada, mas depois, seis horas da manhã, ele ia estudar comigo. Eu gostava tanto disso. E comecei a entender latim, que eu realmente não entendia e tirei dez na prova oral. Aí o professor veio comentar comigo que nunca esperava que eu tivesse essa condição de recuperação e tudo. Mas, foi o meu pai, né? Foi meu pai.
P/1 – E os seus avós? Os pais dos seus pais viviam aqui? Eram do Rio? Você tinha família aqui?
R – Meus pais eram de Minas. Papai de Ubá. Mamãe de Belo Horizonte, tinha nascido numa fazenda perto de Belo Horizonte, hoje é Pampulha. E os dois tinham ido pro Rio. Minha avó materna foi pro Rio quando morreu meu avô, marido dela, e meu pai foi pro Rio depois de acabar a faculdade. “Onde é que ele fez faculdade, o papai? Será que ele fez São Francisco?” Não estou lembrada onde ele fez a faculdade.
P/1 – E você perdeu o contato com seus avós?
R – Era ocasional, né? Era ocasional. Às vezes a mãe da mamãe vinha pro Rio e ficava um tempo ou vinha pra São Paulo e ficava também um tempo.
P/1 – Era mais cômodo pro seu pai e sua mãe mesmo, né?
R – Mais pro meu pai e a minha mãe. Hoje eu tenho algum contato com os primos...
P/1 – E a juventude? Como é que começou então essa fase da juventude? Você já estava terminando o ginásio...
R – Eu comecei a militar em JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, e lá... Enfim, aí tinha muita... Encontrava com muitas pessoas, tal, e a gente tinha bastante... uma vida social intensa. Mas nessa linha. Eu acho que foi bastante influência do meu pai e da minha mãe também. Depois... Inclusive, eu viajava, com dezesseis anos eu viajava com uma amiga minha, que mora em Campinas atualmente, aliás, é de lá. E íamos pra um monte de cidades no interior de São Paulo pra fazer reuniões, encontrar. E foi assim. Depois comecei a namorar.
P/1 – Essas reuniões, você gostava do que exatamente? Do convívio ou tinha alguma atividade que te atraía mais?
R – Tinha o convívio, mas o principal é que era gente, era uma militância, né? Depois da AP (Ação Popular), nasceu a JUC – Da Juventude Universitária Católica – quando eu vim a participar da AP. Tinha muitas... Tinha uma parte de formação, digamos assim, nessas reuniões, que a gente estudava o evangelho, estudava diretrizes pro movimento estudantil e tal, acompanhávamos como é que estava sendo, participava também de reuniões de movimento estudantil, o EE, UPES, naquele tempo, União Paulista dos Estudantes Secundários. Rolou assim.
P/1 – E você já tinha assim uma coisa de liderar ou era mais... Você fazia parte da...?
R – É. Acho que sim. Acho que sim. Aí queriam que eu fosse pra equipe nacional, que era no Rio de Janeiro. Eu queria ir. E aí mamãe e papai não deixaram e aí eu fiquei muito chateada com eles, né? Aí eu tive um período, assim, de rompimento, digamos, grande com eles, afetivo. Porque eu falava: “Papai, eu vou morar numa casa com outras moças, moça, não é nem moça, adolescente, não tem o mínimo problema”. Mas eles não deixaram. Não foi...
P/1 – Mas você era bem jovem, né?
R – Muito, né?
P/1 – Você já tinha uma personalidade.
R – Eu também não deixaria.
P/1 – Você já tinha personalidade já forte.
R – É tinha. Isso tinha mesmo.
P/1 – Já sabia o que queria assim.
R – É. É. Pensava que sabia, pelo menos.
P/1 – Sim. Você brigava pelo que você queria.
R – Ah, sem dúvida. Brigava bastante pelo que queria. Na escola brigava bastante, na escola...
P/1 – E os namoros já estavam começando?
R – Tinham alguns namoros, mas poucos, não eram muitos. Eu me casei com meu terceiro namorado, sei lá. Era muito... Não era, digamos assim, o foco principal. Não era o foco principal.
P/2 – Você lembra do teu primeiro encontro? O teu primeiro namorado? Primeiro namoro? Vocês...
R – Lembro. Meu primeiro namorado chamava Guido e meu apelido é Guida, então era assim muito romântico, era muito romântico. Andávamos, subíamos a Cardoso de Almeida de mãos dadas, descíamos de mãos dadas. Ele escrevia poesia, livros, lia pra mim, dedicava pra mim. Era uma coisa bem... Como pode dizer quando é assim? Bem platônica, era uma coisa romântica. Romântica, platônico. Era 1966, mais ou menos. 1965. Não era uma coisa assim. Não tinha como hoje, né? Essas coisas todas, né? Transar, vai pra cama. Não era assim.
P/1 – Mas aí acabou e você foi...
R – Daí acabou. O Guido foi morar em Belo Horizonte, depois sofreu um acidente de moto, morreu lá. Aí foi horrível, né? Mas, aí depois namorei um outro rapaz, que fazia engenharia na Poli e também era... O Guido não era... Mas esse daí, o Antônio, como é que fala, participava também da igreja, dos movimentos lá na igreja, dos dominicanos, que naquele tempo eram o máximo, né? Que era tudo de esquerda... Tinha o Padre José Faquer (?). Então, era...
P/1 – Então esses encontros eram onde?
R – Lá, na própria... Era um salão da igreja, né, que a gente se encontrava. E aí comecei a namorar com ele. Namoramos acho que um ano, uns seis meses, não sei quando. Foi a época que o Guido morreu, que o Coló (?) também conheceu o Guido, o Antônio, esse aí. E depois, não sei quanto tempo depois, eu comecei a namorar o Antônio Oscar. Mais ou menos em 1966, é isso. Acho que o Guido foi antes. Porque quando foi o golpe, o Guido e o Wanderlei, que é um grande amigo meu, até hoje, nós éramos os três. Aí saiu o Guido: “Não, nós precisamos resistir. Os militares tomaram o poder. Vamos, vamos, vamos resistir. Vamos nas ligas camponesas”, que tinha uma sede lá em São Paulo, Avenida São João. Nós fomos nas Camponesas, não tinha ninguém. “Vamos no sindicato dos jornalistas.” O Wanderlei trabalhava no jornal. “Vamos.” Chegou lá também não tinha nada. “Cadê as armas? Onde estão as armas pra resistir?”
P/1 – E quando vocês eram jovens...
R – Isso foi em 1964. Em 1964 eu ainda estava namorando o Guido.
P/1 – Vocês liam muito, iam ao cinema? Como é que era a sua...?
R – Também. Eles praticamente eram meus professores em matéria de cinema, porque tinha o cinema novo aqui no Brasil, o movimento na França também do cinema novo, aqueles filmes todos. Eles que me levaram a conhecer, né, um cinema, uma proposta mais vanguardista de cinema. Foi muito bom.
P/1 – E as leituras também?
R – E as leituras também. Foi muito, muito importante na minha vida. Mas o papai também não gostava dele. Eles eram muito... Muito o quê? É... Ah, não sei o termo, muito hippies, pro papai. Não eram hippies porque ainda não tinha o movimento hippie.
P/1 – Ousados, assim?
R – Papai gostava mais de... Não gostava.
P/1 – Mas eles não eram do movimento católico? Eles eram...
R – Não. Não eram.
P/1 – E o seu namorado, que virou... depois você veio a namorar, era?
R – Era. O Oscar, que foi com quem eu casei, foi o terceiro, né?
P/1 – Que foi depois do Antônio.
R – O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. Ele participava desse movimento, né, que era da igreja. Frei André... Saiu depois. Lá nos dominicanos. Era CJC – Comunidade dos Jovens Cristãos. O Antônio Oscar também participava. Aí, ele morava perto de mim. Nesse tempo nós morávamos em Perdizes, naquele casarão, e ele morava na Monte Alegre, lá embaixo. Aí nós começamos a namorar, depois entramos na faculdade juntos. Na faculdade começamos a ter mais uma militância no movimento estudantil universitário, ele foi presidente do sempre acadêmico. Enfim, sempre junto...
P/1 – Vocês foram pra mesma faculdade?
R – Ele fazia Direito e eu fazia Pedagogia. Naquele tempo era faculdade São Bento, não era..., na PUC de São Paulo, que fica lá na Monte Alegre até hoje. Ele então... Mas nós estávamos na mesma, digamos, universidade. Embora não fosse considerado isso, era um... Direito era um curso separado do da Faculdade de Filosofia. Mas, enfim, a gente estava sempre juntos. Nós dois entramos lá. E começamos a militar mais politicamente lá na PUC também. E... Isso já foi depois de 1964. Eu entrei na faculdade em 1966.
P/1 – Ou seja, vocês saíram de um movimento que era mais cristão e foram para um movimento que era mais político mesmo, já com uma ideologia mais clara, né?
R – Exatamente.
P/1 – A parte política já começou a ser mais...
R – Já. De 1964 a 1966 teve uma baixa bem grande, né? No movimento popular. Não tinha... Não tinha assim ações de protesto, não tinha, era mais uma coisa assim subjacente, né? Enfim, havia muitas denúncias, por exemplo... É, por exemplo, no teatro... A peça A bela contra o zumbi, foi antes de 1968. E nós começamos... Entramos na faculdade em 1966. 1966 foi um ano em que começou um protesto contra a ditadura em muitos segmentos, né, inclusive no estudantil. Aí houve muitos, começaram a haver passeatas, e aí nós participávamos de tudo. As passeatas, uma delas... Foi uma sensação tão boa, mas porquê... Bom, a gente andava mais ou menos três quadras e vinha a repressão, era inevitável, né? Aí os comerciantes abriam as portas das lojas pra gente poder entrar e se abrigar e...
P/1 – Isso foi onde?
R – 1966. Na Liberdade.
P/1 – A manifestação foi em que lugar de São Paulo?
R – Na Liberdade, essa. Saiu, acho, que pela Praça João Mendes, Avenida Liberdade, e logo ali, acho que antes de chegar ao Largo da Liberdade começou a quebrar o pau. Meu cunhado atual, naquele tempo namorado da minha irmã, o Betão, Alberto Lang Filho, levou uma cacetada que provocou um hematoma cerebral, ele teve que ser operado. Ele conseguiu ir até a casa dele, e chegou na porta de casa, desmaiou. Levaram ele pro hospital e ele teve que fazer uma cirurgia, tem cicatriz até hoje. Ele é casado com minha irmã. Então não é que era bolinho assim não. Não era bolinho. Quem...
P/1 – Você não sentiu medo na hora?
R – Quem pegavam... Quem eles pegavam era pau mesmo, sabe? Então... Isso foi em 1966. Eu sentia medo, claro. Mas não sentia... Mas eu sentia muita indignação, muita indignação. Naquele tempo tinha até uma palavra de ordem que a gente falava que era assim: “Soldado também é povo, e povo não bate em povo”. É... E a gente saia... Então a gente tinha muito essa coisa assim, sabe? “O quê que está acontecendo afinal de contas? Quem é que são vocês que estão aqui nos batendo?” E eu tinha essa indignação mesmo, sabe? Então, embora eu tivesse medo, nunca foi um medo que me impediu de fazer nada. Nunca, nunca, nunca. Eu fazia coisas muito perigosas. Fazia pichações: “Abaixo a Ditadura” no centro da cidade. Uma vez eu escondi correndo, entrei assim no Largo Santa Efigênia. Escondi no peito. O policial parou do meu lado. Aí eu saí andando assim como se, sei lá, não tinha nada a ver com aquilo. Sabe, umas coisas assim de você passar de fininho. Aliás, isso aconteceu comigo muitas vezes. Mas eu não me arrependo.
P/1 – E nessa época o seu namorado...
R – Era o Oscar.
P/1 – Estava junto?
R – Nesta época... Ah, tudo. Tudo junto. Todo junto. Reuniões, passeatas, manifestações. Éramos muito unidos, muito unidos.
P/1 – Vocês só estudavam?
R – Só estudávamos. Papai pagava a faculdade.
R/2 – Teve aquela passeata, acho que em 1968, que um dia você contou pra mim. E que aí pediram pra você falar no palanque.
R – Ah, foi. Teve essa passagem. Eu nunca fui de falar muito. Aliás, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Minha filha que me arrumou essa. Aí a gente estava fazendo uma passeata... Eles tinham falado comigo antes: “Olha, Guida, a gente vai parar ali no Largo da Quitanda, sei lá que Largo, e aí você vai subir aí em algum caixote aí e vai falar”. Eu falei: “Meu Deus, falar? O quê que eu vou falar?”. Aí chegou lá na tal da praça, todo mundo parou, todo mundo ficou olhando pra mim e eu fiquei olhando pra todo mundo... Aí não falei. É isso que ela está falando.
P/1 – Ah, deu branco, assim?
R – Isso foi em 1968. Falei: “Não, não vou falar nada, não preparei nada, não sei de nada”. Aí não falei nada. A passeata prosseguiu sem a minha fala.
P/2 – Vamos voltar um pouquinho atrás, que a gente pulou um pedaço: qual foi esse processo de entrar na universidade? Como você decidiu fazer a carreira que você fez? Conta um pouco pra gente, na faculdade mesmo, qual era o ambiente, os professores? Você lembra de alguém que te marcou muito?
R – Então, era um ambiente... Eu resolvi fazer Pedagogia, eu tinha feito curso normal, era mais ou menos um caminho... E também eu queria, eu gosto muito de trabalhar com educação. E aí resolvi fazer Pedagogia. Na verdade, eu passei na USP em décimo primeiro lugar. Era uma boa classificação no curso de Pedagogia, mas a PUC tinha, pra mim, o atrativo de ser bem perto de casa e do Oscar também ir pra lá, entendeu? Eu acabei optando por ficar na PUC. Os professores? Os professores eram muito bons, eram muito bons. Ao contrário do que eu achava quando eu estava no ginásio ou no normal. Eram professores fantásticos, tinham uma relação ótima com a gente. E...Tinha Maria do Carmo Guedes, que me marcou muito. A... Ai meu Deus, a professora de História da Educação, ela tinha um nome tão engraçado... Heloísa... Esqueci o nome. O Joel Martins. O... Eu esqueço os nomes. Nossa. Ficou. Mas eu lembro que aí era um nível muito melhor e eu gostava muito dos professores. Os professores também gostavam muito de mim. Depois eu saí da faculdade. Foi o tempo em que eu estive no Rio. Quando voltei, tentei voltar ao curso...
P/1 – Mas, voltando: você fez essa faculdade todo o tempo militando?
R – Não. Na verdade eu não terminei a faculdade porque em 68... 1968 já foi o ano em que tudo virou, né?
P/1 – Você estava na metade...
R – Internacionalmente... E aí começou com acampamento dos excedentes, né, que era os que não podiam, né, tinham passado no vestibular, mas não tinha vaga. E começou com o movimento de excedentes logo no início do ano, depois nós tomamos a faculdade e depois não sei quê lá... Não teve. O ano de 1968 academicamente não existiu.
P/1 – Você estava mais envolvida com a questão do movimento...
R – Era só a questão do movimento político, só. Aí em outubro de 1968 foi o Congresso de Ibiúna, né? Eu fui eleita pra representar... Aí já era, né?
P/1 – Aí você já estava liderando a política estudantil.
R – É. É. E aí eu fui pra Ibiúna. Ibiúna, todos foram presos, como se sabe, né?
P/2 – Conta pra gente. Eu não sei nada. Conta um pouco, pra mim.
R – Você não sabe?
P/2 – O quê que foi?
R – O congresso?
P/2 – Como foi o congresso, como foi a organização desse congresso, porque as pessoas que estão vendo não sabem?
R – Ah, tá.
P/1 – Conta com detalhes pra gente.
R – Então, então. É... A UNE já estava na clandestinidade, não tinha, não podia mais reunir congresso, nem fazer reuniões, nem nada. Embora isso ainda tenha sido antes do Ato 5, hein? Mas então resolveu-se fazer um congresso clandestino. Só que fazer um congresso clandestino com oitocentos participantes é complicado, não é?
P/1 – Não dá pra esconder.
R – Foi muito complicado esconder. Aí tinha... Os esquemas que tinha pra gente chegar no congresso eram assim inacreditáveis. A gente ia num determinado lugar, vinha um carro de alguém que a gente não conhecia, pegava, levava pra uma... A gente ia de faixa nos olhos pra não ver pra onde a gente estava indo. Aí levavam lá pra uma casa já perto da sede, do que seria a sede do congresso, e aí ficávamos lá todo mundo, de pé, sem comer, sem nada, esperando, aí vinha um caminhão, levava todo mundo lá pra o lugar de Ibiúna, onde ia ser o congresso. E... Ia ser também...
P/1 – Quantos dias durou esse congresso? Quanto tempo?
R – Acho que exatamente um dia. No dia seguinte que nós chegamos tinha, assim, um lugar muito grande, né, como se fosse um vale, né, todo descampado. A gente dormia ali mesmo pelo chão. E eu acordei de manhã, virei pra minha amiga Jô, que também era representante da nossa faculdade, virei pra Jô, falei: “Ai, Jô, vamos fazer xixi?”. Acho que nem tinha banheiro. Falei: “Vamos lá no alto daquele morrinho lá, daquele monte?”, pra fazer xixi, quando nós chegamos lá, eu olhei pra baixo e vi uma fila de soldados chegando. Eu virei pra ela e falei: “Jô, o congresso caiu”. Que era óbvio, aliás. Aí fomos todos presos, né, os soldados vinham, empurravam: “Vai, vai, vai. Vai pra fila. Não sei quê lá”. Tinha uma fila de soldados também dos dois lados, né, uma fila de estudantes, uma fila de soldados, assim, do lado, armados, era impossível fugir, qualquer coisa. Foi um choque. Na verdade, só teve, eu acho, uma plenária, o congresso. Uma plenária à noite, e depois no dia seguinte caiu. Não chegou a ter.
P/1 – Como foi essa plenária? O que chegou a ter?
R – Era uma discussão...
R – Então chegamos finalmente no lugar do congresso, onde ia ser feito o congresso. Teve uma plenária em que foram discutidas aquelas coisas: ordem do dia, do congresso, né, foram apresentadas as chapas, porque ia haver eleições pra diretoria da UNE, tinha uma chapa liderada pelo Jean Marc e outra liderada, eu acho, que pelo Vladimir Palmeira lá do Rio de Janeiro, mas não tenho muita certeza, ou pelo Zé Dirceu, sei lá. Aí, dormimos lá mesmo, no chão, um chão de terra, e no dia seguinte de manhã eu acordei e virei pra minha amiga, que já morreu, infelizmente, e virei pra ela: “Jô, vamos lá em cima?”. Porque a gente não achava um lugar, um banheiro, não tinha eu acho. “Pra gente fazer xixi e ver se consegue lavar o rosto”. Aí subimos um morro que tinha, pequeno assim, atrás do lugar do congresso. E aí quando nós chegamos lá em cima eu olhei pra baixo e vi uma fileira interminável de soldados armados com metralhadoras chegando já no lugar do congresso, uma fila enorme. Porque a gente tinha uma visão bem grande. E eu virei pra Jô e falei: “Jô, o congresso caiu. Ai, meu Deus”. Olhamos pros lados. “O que a gente vai fazer? Fugir?” Olhamos pros lados. Não tinha jeito. Aí logo veio um soldado ali onde a gente estava e pôs a gente pra baixo, depois foi empurrando. Bom, enfim, aí foram nos empurrando, mandando pra baixo, tal, e aí estava todo mundo, era um grande... um largo assim, que fazia as plenárias. Imagina, eram oitocentos estudantes. E foram todos sendo empurrados pra formar uma fila. Um fila de duas, três pessoas, assim, desorganizada, né? Eu tenho impressão que nós fomos à pé até Ibiúna. Eu tenho essa impressão. Eu não me lembro. Eu só me lembro de ter pegado uma condução já em Ibiúna, né? Quando nós chegamos lá, ficamos todos sentados num largo, onde atualmente tem uma escultura muito bonita em homenagem aos que foram presos em Ibiúna. Tem o nome de todo mundo. Fomos lá, ficamos sentados até que veio, vieram muitos ônibus e nós fomos pra São Paulo. Fomos pro Presídio Tiradentes. Lá nós fomos levados pra identificação no Dops, todos foram identificados. De lá nos levaram... Eu fui pro Carandiru, pra seção feminina do Carandiru, e fomos soltos... Eu fui solta em uma semana, né? No Tiradentes tinha tanta gente na cela que não dava pra deitar assim de bruços, a gente tinha que deitar igual tijolo, tum, tum, tum, todo mundo de lado. Não tinha espaço na cela de tanta gente que era, né? Era muita gente. Quando a gente estava ainda no Tiradentes, a gente viu uma hora que falaram, que começaram a gritar no começo do corredor, os rapazes, a voz dos rapazes, depois a voz das moças, que começaram a gritar, é... “A UNE somos nós”. Porque já era todo o pessoal do Getúlio e da UNE que tinha sido separado do restante de nós e estava sendo levado pro corredor, pelo corredor. Eu lembro muito bem do Travassos passando, do Israo (?), meu amigo, do pessoal passando pelo corredor, acompanhado por guardas, né, e todo mundo gritando a “UNE somos nós”. Foi muito bonito. Aí depois me levaram pro Carandiru e, depois de identificados, soltaram todo mundo. Muito pouca gente ficou presa depois. Foi uma prisão rápida. Enfim, não foi violenta, digamos. A não ser a violência da prisão em si, né?
P/1 – Esse período de sete dias mais ou menos, você falou...
R – Mais ou menos. Foi.
P/1 – O que passava em você? O que você sentia? O que acontecia nesse momento?
R – É, a gente sentia, acho que todo mundo, muita decepção, muita dor, pela queda do congresso e muita tristeza por isso, porque foi uma coisa trabalhada, muito elaborada. Era um momento muito importante do movimento estudantil, o congresso. E a forma como ele caiu, né? Foi uma dor grande, foi uma decepção muito grande, foi uma coisa assim: “E agora, né? E agora, o quê que nós vamos fazer, né?”. E foi um momento de muita tristeza. Tristeza e medo também, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Depois que a gente é solto, aí a gente fala: “Ah, fomos soltos. Que bom! Todo mundo solto”, mas só que, quando a gente está lá dentro, ninguém avisa o que vai acontecer.
P/1 – Vocês estavam incomunicáveis, não?
R – Completamente incomunicáveis. Completamente. Ninguém tinha acesso a ninguém. Agora, como... A minha família, por exemplo, sabia que eu estava lá em Ibiúna. Então sabia que eu estava presa. Agora, pensando assim, eles não podiam exterminar oitocentos estudantes universitários. Não podiam, eles não iam fazer isso. É óbvio. Isso seria um crime de uma proporção absurda, né? Nem a periculosidade era tão grande assim, não era. Não existia luta armada, coisas assim, ações que justificassem isso. Era um grupo de estudantes se reunindo num congresso. E... Mas nada disso também passava pela cabeça. A gente ficava... Eu ficava muito, enfim, muito triste, né? Foi um momento muito triste. E logo depois disso, isso foi em outubro de 1968, a queda do congresso de Ibiúna e no dia 15 de novembro foi publicado o Ato Institucional Nº 5, o qual acabava com absolutamente tudo o pouco que restava das liberdades democráticas no país. Foi uma de violência incrível o Ato 5. Proibia, inclusive, reunião de pessoas, mais de três ou cinco pessoas não podiam ficar juntas. O Ato 5 foi assim inominável, né? Aí, muita clandestinidade. Não tinha opção mais de fazer um trabalho aberto, um trabalho na legalidade. Ou você ia pra clandestinidade ou parava de fazer qualquer coisa, porque foi um fechamento total o Ato 5. Aí no dia 21 de dezembro eu me casei com o Oscar e foi um casamento muito gostoso, né? A minha irmã também se casou com o Betão nesse dia. Casamos as duas irmãs no mesmo dia.
P/1 – Vocês... Desculpe, só uma interrupção: vocês decidiram nesse período dos dois meses casar?
R – Foi. Resolvemos nos casar. O Oscar, já tinha sido resolvido que ele seria removido pro Rio de Janeiro. Aí já na clandestinidade, claro. Aí, eu também fui designada para ir pro Rio de Janeiro junto com ele. A gente estava casado. O nosso casamento foi um momento muito gostoso também porque os colegas da faculdade estavam todos lá, né, tinha uma expectativa muito grande, né? “A Guida e o Oscar se casaram, ó!” Tal, tal. Uma expectativa... E a gente até escreveu no convite de casamento, a gente escreveu assim: “Nós partiremos juntos, amigos”. E realmente foi um momento de encontro e um momento de despedida. Porque dali nós fomos pra clandestinidade e fomos pro Rio. Morar... Moramos no subúrbio lá em Belford Roxo. Aí já estávamos ligados à organização que era a Ação Popular, não é? E... Primeiro eu morei em Mesquita, é subúrbio do Rio. Depois nós mudamos pra Belford Roxo. Depois nós mudamos de Belford Roxo... De Belford Roxo, nós fomos... Acho que nós já fomos de Belford Roxo, nós já fomos pra Inhaúma. O Oscar começou a trabalhar na fábrica de tecidos lá em Inhaúma, que era... A gente tinha sido deslocado pra fazer isso mesmo, pra trabalhar em fábrica. Era um objetivo de conscientização e, sobretudo, de organização de um movimento popular contra a ditadura, né?
P/1 – Nesse período vocês moravam em casas que vocês escolhiam?
R – Que nós alugávamos, né? Com documentos falsos. Morávamos em geral com algum outro companheiro pra baratear mais o custo. E como a gente não trabalhava, a gente recebia algum dinheiro da organização também, o mínimo dos mínimos. Eu nunca andei tanto a pé, eu acho que meu coração é bom por causa disso, porque naquela época andava a pé, e de trem, né, o trem do subúrbio e tal. Aí o Oscar foi trabalhar na Nova América e nós nos mudamos pra Inhaúma, que é um lugar próximo.
Esse período, pra mim, foi um período difícil porque eu não consegui trabalho. Aí eu passei pra área de serviços, que era uma área, digamos assim, de infraestrutura da organização. E fiquei nessa área até ser presa. E o Oscar no dia 31 de outubro de 1970, foi preso. Aí quando ele foi preso foi assim... Eu cheguei em casa tarde da noite, olhei, e todo dia ele chegava em casa, fazia uma marmita pra ele, pra levar pra fábrica. Aí eu olhei em cima da mesa e não estava a marmita dele, quando eu vi que não estava, me veio assim, porque ele chegava sempre no hora em casa, né, chegava em casa no máximo seis e meia, sete horas, que a fábrica era perto. Aí eu olhei na cama e ele não estava. Aí eu acordei a companheira que morava conosco, que o codinome dela era Lena, falei: “Lena, o Luís caiu”. O Luís era o codinome do Oscar. Aí ela falou: “Como que você sabe? Como que você sabe?”. Eu falei: “Lena, ele não está em casa e a marmita dele não está na mesa, eu tenho certeza que ele foi preso”. Aí ela levantou, aí toca queimar documento, pegar coisa, papel, encher mala de coisa, tal, quando foi lá pelas, acho que umas duas horas da manhã, nós duas saímos de casa carregando malas ainda com documentos e fomos andando. Era uma noite de lua cheia, eu não me esqueço disso. Aí fomos andando e até pegar um ônibus, nos despedimos no ponto de ônibus pra cada uma ir pra uma direção diferente. Aí no outro dia eu fui na casa de uma pessoa que também...um amigo nosso que também trabalhava na Nova América, só que num outro tipo... não trabalhava na produção, trabalhava no escritório, aí eu fui na casa dele e ele me confirmou que o Oscar tinha sido preso na entrada da fábrica de manhã. Quer dizer que das sete da manhã, quando ele foi preso, até às onze da noite quando eu cheguei em casa, o Oscar não disse o endereço da nossa casa, né? Eu escapei por causa disso. E, aí eu chorei, chorei, chorei. Eu tinha esperança que ele não fosse identificado como preso político. Mas aí uns dias depois, uns três, quatro dias, cinco dias depois, uma semana, aí eu fui cobrir um ponto com um companheiro que, aliás, depois foi assassinado, o Gildo Lacerda, e ele me falou que uma menina do... tinha falado… Porque a gente fazia contato com os presos através das famílias dos presos, e nos encontrávamos e tal, que tinha chegado lá na Ilha das Flores um rapaz alto, louro, com olhos claros e tal, forte, aí eu virei pra ele e falei: “Ai, é o meu marido”. Ele: “Então identificaram ele, então ele não vai sair tão cedo”.
P/1 – Você não tinha nenhum contato, nenhuma comunicação? Você estava sempre procurando mas não tinha...
R – É. É. Não tinha. Aí que eu fiquei sabendo que ele era preso político, porque na Ilha das Flores só iam presos políticos. Aí eu arrasada, né? Falei: “Puxa vida, agora sabe Deus, né, o que vai acontecer”. Tive bastante vontade de sair, voltar pra São Paulo, ir pro exterior, sair, deixar tudo, mas aí eu ficava pensando assim: “Ai, meu Deus, mas tanta gente foi presa, eu não posso sair nesse momento porque eles estão precisando muito, tem muita gente, está faltando muita gente aqui”. Aí fui ficando, fui ficando. Nesse período quase fui presa, assim, inúmeras vezes.
P/2 – Nesse período como funcionava? Ele estava preso, qual era sua função, como funcionava dentro da organização?
R – Então, eu continuei com uma atividade que chamava serviço, que era de infraestrutura. Então o quê que eu fazia: eu recolhia dinheiro de simpatizantes, de militantes, de movimento estudantil, simpatizantes, sindicatos de classe média, enfim, pra poder distribuir pro sustento dos que estavam e dos que não trabalhavam. Então uma coisa que eu fazia era isso, era finanças da organização. Outra coisa que eu fazia era ligações. Por exemplo, o Comando Nacional não podia ter uma relação aberta, clara, não tinha celular. Aí o quê que tinha que fazer? Por exemplo, eles publicavam, então tinha que ler o jornal pra ver se tinha alguma mensagem, algum aviso, algum pedido, do Comando Nacional, ou mandar alguma publicação pra eles, que era tudo feito na seção de... Aquela seção? Seção de coisas pequenas, né?... Então a gente tinha uma série de códigos, de forma de mandar mensagens pra eles... Tanto pro Nacional ficar sabendo, quanto pro Regional, mandar notícias, quanto pra receber notícias também. E eu que fazia isso. Eu que cobria também pontos de chegada, que falava, de pessoas que vinham de fora pra trabalhar no Rio ou pra fazer alguma reunião. Eu fazia essas ligações, né? E também pertencia a uma célula, que a gente chamava, um grupo, que estava ligado ao movimento operário, que os companheiros estavam integrados na produção e eu fazia parte também pra ter alguma coisa, base de apoio, né, não ficar sozinha no mundo sem poder discutir com ninguém, conversar com ninguém.
R/2 – E a comunicação com os familiares dos presos?
R – É. Também fazia isso. Era outra coisa que eu fazia, é que eu é que era responsável pela comunicação com os presos. Então eu me encontrava com familiares de presos pra ter notícias deles e pra eventualmente mandar alguns recados, algumas coisas, né? Que eu comprava pacote de cigarro e num dos maços de cigarro eu abria, tirava todo o fumo, escrevia ali pequenininho alguma coisa que eu queria, e aí fechava o maço como se ele tivesse vindo da fábrica e mandava pra eles, né, através da família. Então eu que fazia também esse tipo de ligação, né? Eventualmente consegui conhecer muitos simpatizantes, consegui lugares pra reunião e hospedagem de militantes que estavam chegando. E eu morava, morei um tempo na casa de um tio do doutor Oscar. Lá no Botafogo. Fiquei lá. E um dia eu cheguei num horário assim diferente e a empregada virou pra mim e falou assim: “Ô, Margarida, telefonaram pra você hoje”. Eu falei: “Telefonaram? Quem telefonou?”. “Ah, era uma voz de homem. Perguntou se você estava aqui, eu falei que estava.” E perguntou que horas que eu chegava. “Falei, de tarde, no fim da tarde, tal.” Eu fui pro quarto, pus tudo meu dentro de uma sacola, virei pra ela e falei: “Olha, eu vou embora. A polícia está atrás de mim. Eu tenho que ir embora”. Dei um beijo nela, falei: “Agradece muito os tios, a prima do Oscar, eu não posso ficar mais nem um minuto”. Dei um beijo e olha, escafedi. Nessa noite eles invadiram a casa, ficaram de campana lá mais de uma semana armados, me esperando. E foi assim que eu escapei. Outra vez...
P/1 – Margarida, só uma perguntinha, me parece que você tem uma intuição muito forte, né?
R – Mas eu acho.
P/2 – É no começo da história...
P/1 – Porque às vezes você intui, é uma coisa.
R – Uma coisa... Como que eu podia de repente, assim, captar porque uma vez eu estava morando na casa de uma família muito legal, eram muitos filhos, então eu me sentia muito à vontade lá, me sentia em casa, aquele monte de filho. E aí tinha sido uma simpatizante que morava numa favela lá da PUC, na Gávea, lá no Rio, e você sabe que eu estava cobrindo um ponto ali não sei onde, não na Gávea, um outro... E falei: “Puxa vida, vou dar um pulo na casa da Joana. Ver lá como é que ela está e tudo”. Fui lá no barraco da Joana, ela virou pra mim e falou, ela me chamava de Anita, que era meu codinome: “Anita, foi Deus que te mandou aqui. Eu não sabia como que eu ia falar com você. A casa está cercada, entraram na casa. Estão lá dentro”. A Inês, que era a mais velha, diz que tinham conseguido fugir pelos fundos e tinham telefonado pra ela na PUC, onde ela estava e ela voltou pra casa pensando: “Como que eu vou avisar a Anita. Como que eu vou avisar a Anita”. E eu cheguei lá. Aí não voltei pra casa. Claro, não voltei pra casa. Foi coisa assim do arco da velha.
Quando eu fui presa até os caras comentaram, o tal de Senimar (?), falou: “Você escapou, hein? Foi difícil pegar você”.
R2 – Foram dois anos de fuga, não foi, mãe? Até pegarem você e você ser presa?
R –Não. Um ano. O Oscar foi preso em outubro de 1969 e eu fui presa em outubro de 1970.
P/2 – Nesse período você viveu fugindo?
R – Fugindo. Trabalhando e fugindo.
P/2 – Tua família em São Paulo?
R – Não tinha contato. Não tinha contato nenhum.
P/1 – O contato, você sentia falta desse contato?
R – Muita. Sentia muita falta. Tinha um tio meu que morava no Rio, tio Camilo, e eu lembro que eu fui lá, nesse ano em que eu fui presa, fui lá em 1970, fui lá no dia do meu aniversário, 9 de setembro. Mas eu estava com tanta vontade de poder receber um abraço no dia do meu aniversário. Aí fui lá na casa do tio Camilo. Ele que depois, quando eu estava presa, eu pedi pros advogados de uma outra presa, que estavam indo pra auditoria, telefonar pra ele e avisar que eu estava no DOI-CODI no Rio. Aí ele... Coitado, tio Camilo morria de medo, uma das pessoas mais medrosas que eu conheci na minha vida. Ele era assim, era demais. Além de ser de direita, completamente de direita, ele era apavoradíssimo. E aí, coitado, foram na casa dele depois disso, foram na casa dele, sequestraram ele, puseram três caras de terno preto na porta da casa do tio Camilo, levaram ele num carro, num lugar desconhecido, tiraram ele e ficaram interrogando ele uma noite inteira pra saber o quê que ele tinha a ver comigo e ele tinha sido a ponte pra avisar a minha família que eu tinha sido presa. E fizeram isso com ele, coitado. Ele não merecia isso.
P/1 – E os seus irmãos, como é que eram em relação a você?
R – Nossa, meus irmãos eram muito menores do que eu, né? A Helena que é minha irmã caçula falou que só ficou sabendo que eu estava presa não sei quanto tempo depois. Ficava todo mundo cochichando. Todo mundo tinha muito medo. Mas, nossa, todos eles me apoiaram demais, demais, né, todos eles foram maravilhosos. Tanto nessa época, quanto nas épocas posteriores que eu vivi, né? Que eu voltei a ser presa, torturada, enfim, que eu fiquei muito desequilibrada da cabeça. Todos, todos. E até hoje. Eu estou morando sozinha, aí me telefonam direto pra saber se está tudo bem. Enfim, minha família toda, né? Meus pais...
P/2 – Vamos voltar um pouco, continue contando: você fugiu desta casa em que você estava, você conseguiu fugir?
R – Na outra eu fugi também, no Méier, né? Eu fugi da casa dos tios do Oscar, fugi no Méier, e a gente ficava pulando, na verdade, de uma casa pra outra, né? Nunca ficava muito tempo.
R2 – Não teve aquele episódio que você estava morando com a Lena de novo, daí a vizinha, tinha uma vizinha pequena... Não foi nessa época?
R – Também. E depois nós resolvemos alugar uma casa e fomos morar na Vila Rosali, eu e a Lena novamente, que era a que morava com a gente, com o Antônio Oscar. Aí alugamos uma casinha, uma meia, como é que fala, nos fundos de uma outra casa. E aí estava lá, uma vez de manhã cedo, eu vi a filha do dono da casa, morava na frente, conversando com alguém, aí ela estava falando: “Não, elas moram, as duas moram aqui, mas elas trabalham, saem muito cedo e já saíram, não estão mais em casa”. E o cara perguntando: “Bom, a que horas voltam?”. E falou: “Como é que elas são? Descreve o tipo”. E a Raquel, que chamava a menina, falando: “Não, não, mas elas não estão aqui”. E eu encostei na porta pra ouvir, aí o cara foi embora, eu acordei a Lena que estava dormindo, falei: “Lena, vamos fugir agora, a polícia está... chegou aqui”. “Mas como é que foi?” Nisso a Raquel bateu na porta. Toc, toc, toc. Ela sentou, falou assim: “Vocês têm algum problema com a polícia?”. Uma menina, treze anos, quatorze, no máximo, né? Aí eu falei: “Por quê, Raquel?”. “Porque veio aqui um cara e estava com o endereço na mão, quem anda com endereço na mão é polícia, eles queriam muito, ficou perguntando muito de vocês. Aí eu falei que vocês tinham saído, só voltavam de noite. Vocês têm alguma coisa com a polícia?”. Aí nós falamos pra ela: “Temos sim, por causa disso. A gente pertence a uma organização. A gente luta contra essa situação que a gente está vivendo, da ditadura, da pobreza, não sei que lá”. Falamos tudo pra Raquel, demos um superabraço nela, um superbeijo, falamos: “Hoje você nos salvou. E era a polícia, sim. Nós vamos ter que sair correndo”. Aí, queima coisa, põe coisa na sacola, arruma as coisas e sai correndo. Quando nós chegamos lá embaixo da rua, que era uma travessa da outra rua, nós lembramos... Sabe essas casas que não vai até o teto a parede, né? Era uma casinha bem pobre. Vai só até a metade? E ali nós tínhamos colocado o documento original de um companheiro. Eu tinha colocado. Porque eu também fazia isso, esse negócio de documento falso, documento original e tudo. Eu falei: “Lena, esquecemos o documento”...
P/2 – Que companheiro era esse?
R – Temos que voltar lá. A Lena falou: “Eu volto”. Eu falei: “Não, Lena, eu volto, porque você já é fichada”. Eu também sou. Já era fichada em Ibiúna, né? “Não, pode deixar que eu volto.”Voltei. Coração na mão. Cheguei lá, não tinha ninguém, abri a porta da casa, peguei o documento e saí correndo. Aí da outra vez não deu. Aí nós fomos presas.
P/2 – Como foi que vocês foram presas?
R – Então, aí eu tinha conhecido um companheiro chamado Francisco, tinha ficado gostando muito dele. E o Oscar estava preso, isso foi um dilema terrível pra mim. E nós alugamos, eu, o Chico e um rapaz chamado Luiz Fabiano, que era artista gráfico, ilustrava livros, um desenhista maravilhoso. E aí fomos morar lá no Corte 8 de Duque de Caxias. Olha, vou te contar, o Rio de Janeiro eu não conheço, mas o subúrbio do Rio de Janeiro conheci bastante. Ai, ai. Aí fomos morar lá. Aí, um dia, vamos... Dez dias, e fomos presos. Eu estava voltando pra casa, cansada, de noite, eu vi que eu entrei num ônibus lá em Caxias já, porque isso era um bairro, né, eu vi que, quando eu entrei no ônibus, um cara desencostou da parede, que ele estava encostado na parede, e subiu no ônibus correndo. Eu estranhei. Eu falei... Estranhei, achei esquisito. Falei: “Ah, não deve ser nada, né, eu que estou...”. Aí fui embora. Falei: “Não vou descer no ponto de ônibus da minha casa, vou descer em outro”. Aí desci, voltei pra trás, fui pra casa. A gente morava numa vila de casinhas, casinha muito, muito, muito simples, tudo encostado um no outro, parede pela metade, tal, tinha quarto, sala e uma cozinha e um banheirinho. Fui pra casa. No outro dia, eu acho, alguns dias depois, eu estava do lado de fora, que o tanque ficava no lado de fora, no quintal, no corredor, do lado de fora lavando alguma coisa, encostou em mim uma mulher: “Ah, não será que aqui nessa vila tem uma casa pra alugar?”. Avenida, chamava no Rio. Eu falei: “Ó, que eu saiba não tem nenhuma”. “Ah, tal, porque eu estou precisando muito, será que alguém não pode informar o dono da casa aqui, não sei quê lá? E como é o seu nome?” E eu: “Margarida”. Porque eu estava com uma documentação falsa e o meu nome na documentação falsa calhou de ser Margarida, e não teve como eu trocar esse documento e aí eu andava com ele, esse documento era Margarida Amélia de Sousa, quando eu falei Margarida... Acho que foi no dia seguinte, eu estava voltando pra casa, o Chico estava fazendo uma sopa de abóbora, não, um refogado de abóbora com carne seca, que é o pai dela, aí eu entrei, falei: “Nossa, que delícia, hein? Oba”, e atrás de mim entrou um batalhão, né?
P/1 – Eles chegaram.
R – É. Chegou a polícia. Ai, meus Deus do céu. Aí eu...
P/1 – Só uma coisinha: como é essa relação, você e o Chico? É Chico, né?
R – Chico.
P/1 – Enquanto isso o Oscar que era seu marido...
R – Estava preso.
P/1 – Você pode falar um pouquinho dessa relação?
R – Veja você que situação.
P/1 - Você pode contar mais essa história pra gente?
R - Então, deixa eu te contar.
P/1 – Como é que você...?
R – A minha relação com o Chico era muito pequena, muito pequena. A gente estava namorando há pouquíssimo tempo e eu tinha mandado uma carta pro Oscar falando que eu estava gostando de um companheiro, tal. A irmã dele não entregou a carta, não teve coragem. O que fez talvez muito bem, porque ia ser um choque horrível. E aí, o Oscar quando foi preso, até para ter uma desculpa para não dar o endereço da minha casa, da casa onde a gente morava, ele deu um outro endereço e falou que estava separado de mim há bastante tempo e que não sabia onde eu estava, onde eu morava, qual o meu nome, nem nada. Bom, assim ele me segurou na prisão dele. Aí os caras quando me prenderam e eu estava com o Chico, exatamente há uma semana, dez dias, eles: “Ah, olha só, o marido preso e você aí com outro cara, não sei quê lá”. Foi horrível. Foi horrível. Eu não sabia o que eu fazia. E a minha escapada foi essa: “Não, a gente já estava separado e tal”. Que era o que ele tinha falado.
Bom, aí foi um terrível dilema, terrível dilema. O Oscar quando soube... Porque eu fui... Depois de ficar no DOI-CODI, fui para Ilha das Flores onde estava o Oscar. E um tempo depois foi levado o Luiz Fabiano e o Chico. Só que o Chico ficou no isolamento e o Luiz Fabiano foi junto com os outros presos, inclusive o Oscar. Quando eu estava sendo levada pra Ilha das Flores de barco, tinha outros rapazes, me perguntaram quem eu era, eu falei: “Eu sou mulher do Oscar. Fala com ele que eu estou indo pra Ilha das Flores”. Aí eles falaram e me deram uma forma de comunicação que era com uma caneca que a gente encostava na parede no fundo da sala, porque de um lado ficava o feminino, do outro ficava o masculino. Ele falou: “Quando você chegar na sua cela, você pega a caneca de alumínio que vai ter lá e bate na parede pra gente saber em que cela você está. E aí a gente vai mandar o Antônio Oscar ficar nessa sala de noite e vocês vão poder conversar. Você ouve encostando o ouvido e fala com a caneca ao contrário, né, na boca da caneca, e de lá vocês vão poder conversar um com o outro”. Eu, pra falar verdade, eu estava morrendo de saudade do Oscar. Que situação, hein? Aí fiquei conversando com ele, tal, não toquei no assunto Chico. E aí foram vários dias, eu fiquei tão emocionada, quando eu escutei a voz dele, nossa... Bom, fazia um ano, né, que a gente estava separado. Aí chega o Luiz Fabiano e vai direto pro presídio masculino, e fala que foi preso comigo e com o Chico, que eu era casada com o Chico. Jesus, você quer um abismo abrir aos seus pés? Foi o que aconteceu. Eu fiquei completamente louca e também não queria voltar... Eu estava com uma cabeça, uma cabeça inexistente, né? Porque eu não queria também voltar atrás com o Chico. E aí o Oscar ficou falando comigo: “E aí, o quê que aconteceu?” O Oscar chorava, eu chorava, todo mundo chorava. Um choro. O Chico chorava. O Luiz Fabiano chorava. Todo mundo chorava. Situação. Aí eu falei com o Oscar que eu queria ficar com o Chico. Era também uma forma de me defender e dizer: “Não, também eu estava aceitando um casinho. Porque eu sou muito, muito demais assim pra ter um casinho. Lógico, se eu estava com ele é porque eu gostava dele, eu queria ficar com ele eternamente e tal”. E o Chico: “Olha, mas pode voltar com o Oscar”. Situação, viu. Putz grila. Aí foi assim, o Oscar foi solto em janeiro. Eu fui presa em outubro, ele foi solto em janeiro. Foi me visitar algumas vezes. Lógico que ele estava chateadíssimo. Eu fui solta em novembro de 1971. Fiquei um ano presa. Eu fiquei dois anos, na verdade, separada do Oscar.
P/1 – Esses dois anos você ficou onde?
R – Então, na verdade, foi 1969. No ano de 1969 nós fomos pro Rio. Em outubro, o Oscar foi preso. Eu continuei lá. Em outubro de 1970, eu fui presa. Aí fiquei um ano presa e fui solta em 1971. Quer dizer, ao todo foram quantos anos? Três, né? Acho que três. Três? Acho que foram três. Bom, enfim, quando eu saí da prisão, o Chico saiu uns dois meses depois de mim. Nós voltamos... E eu naquela, né, não quero... Eu não sei. Eu gostava do Chico, claro, mas não era nada como era minha ligação com o Oscar, né, que era uma coisa muito forte, apesar de tanto tempo de separação. Mas então foi isso. Aí, fiquei com o Chico.
R/2 – Me desculpa. Mas o período que você ficou nessa primeira prisão foi o período em que o vovô te visitou? Foi nesse período?
R – Foi nesse período.
P/1 – Esse período então... Que eu tentei... Nesses dois, três anos, mais ou menos, que você ficou presa o quê que passa em você, o que você faz? Como é que você passa o tempo? O que acontece com você nesse período?
R – Então, foram três períodos de prisão. Quando nós fomos presos, fomos todos levados pro Cenimar, que é o Centro de Informação da Marinha. Lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Lá fizeram um primeiro, um pequeno interrogatório, e eu passei algumas mensagens pro Chico tipo: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, você também e tal. Deu pra... Mesmo assim em voz alta, mas disfarçado. E de lá nós fomos levados pro DOI-CODI, na Barão de Mesquita, no quartel da Polícia Militar no Rio de Janeiro, sei lá, esqueci. Aí no DOI-CODI, logo que nós chegamos no DOI-CODI me levaram pra sala de tortura, de lá me levaram pra uma sala ao lado, fizeram uma roda assim, umas quatro pessoas e começaram a me espancar. E aí, mas me espancavam tão forte, eu caía no chão e levantava e vinha soco, vinha pontapé e vinha tudo. Eu saí cheia de hematomas. Aí eu gritando, eu gritava. A única coisa que eu fazia era falar: “Covardes. Bater numa mulher nua. Sozinha. Covardes”. Era isso que eu fazia e aí me levaram pra outra sala, começaram a me dar choques, muito fortes. Eu sei que foram muito fortes porque eu tive marcas do choque elétrico, coisa que outras pessoas que foram torturadas também, não ficaram. Quer dizer, cicatrizou e tudo, mas eles me deixaram marcas de queimadura nos dedos da mão. Eram choques muito fortes. Me atiravam no chão, me atiravam longe no chão, aí voltavam, e era outro, era outro, era outro. Me puseram no pau de arara e choque, e fizeram afogamento. Fizeram afogamento, eu falei assim: “Eu vou morrer. Vou morrer aqui. Eu tenho que sair daqui”. Aí eu falei: “Eu falo, eu falo, me desce daqui, eu falo”. Aí desceram. Eu fiquei lá tossindo e pensando, né? “Dessa, como é que eu saio, né? Como é que eu vou sair”. Aí me levantei: “E então, fala”. “Meu nome Margarida Portella Sollero. Não é Margarida Melo de Sousa. Aí eles ficaram olhando pra minha cara como quem diz: “Bom, a gente já sabia disso”. Eu falei: “Meus pais são muito importantes, minha família é muito importante, isso vai pro estrangeiro, vocês vão ser denunciados, a Anistia Internacional vai atrás de vocês, vocês não podem fazer isso comigo, isso é uma covardia”. Fiz um tremendo discurso pra eles e eles me tiraram da sala de tortura. Me deixaram lá no corredor na frente, com um capuz na cabeça, tal. E eu fiquei muito contente porque eu pensei assim: “Consegui. Ninguém vai ser preso através de mim, né?”. Aí me puseram pra falar outra vez. Para falar o quê? Simpatizantes? Pontos. Queriam pontos. Que eram lugares onde a gente marcava pra se encontrar. Aí eu: “Não. Não sei. Não sei. Não sei”. Aí eu dei uns seis pontos falsos pra eles. Aí eu pensei: “Bom, agora eles vão me matar, né? Voltaram e vão me matar”. Aí, por incrível que pareça, não me mataram. Me puseram pra dentro da sala e falaram: “Essa menina é um horror, deu tudo ponto falso. Fiquei lá um dia inteiro cobrindo, de manhã e de tarde. Fiquei lá, não sei quê, não sei quê lá”. Passaram um carão e botaram outra vez no corredor. Eu fiquei boba. Falei: “Que bom! Quer dizer que dá pra levar esses caras, né?”. Aí depois foram milhões de sessões de tortura, né, pra simpatizantes, finanças, porque eu era responsável pelas finanças, assalto a banco. Eu nunca assaltei banco. Enfim, foram dez dias que eu fiquei no DOI-CODI. Num desses dias eu estava menstruada, coberta de sangue, tinha dores violentissimas no corpo e também cólicas, chamei um médico, veio um médico e falou: “O que você está sentindo?”. Eu falei: “Tô cheia de dores, tô com cólica”. Ele me deu um pontapé e falou: “Isso não mata ninguém”. Mas me mandaram pra uma cela onde já estavam presas várias mulheres, que já tinham passado por essa fase, tortura. E lá que eu encontrei... Eu acho... Eu não acho que eu sou, que eu tenho intuição, eu acho que eu sou protegida. Porque a Carmela Pezzuti passou nessa cela, no intervalo em que eu estava lá pra tomar banho e virou pra mim e falou assim: “Qual é o seu nome? Com quem eu posso falar aqui no Rio de Janeiro pra avisar que você está aqui no DOI-CODI sendo torturada?”. Aí eu dei o nome do tio Camilo. Falei: “Procura na lista Camilo Sollero. Pede pro seu advogado procurar e avisa ele”. Aí foi quando, logo depois, uns dias depois me tiraram e me levaram pra Ilha das Flores. Aí na Ilha das Flores foram dois períodos de prisão que eu tive. Bom, três, né, um no DOI-CODI, um na Ilha das Flores e um em Bangu, no Talavera Bruce. Na Ilha das Flores não tinha mais tortura. Fizeram um exame de corpo delito quando eu cheguei, aliás. Eu tinha marcas. E fiquei na Ilha das Flores quase o tempo todo sozinha.
Na Ilha das Flores a gente não podia ter nada, nem rádio, nem livro, nem absolutamente nada. Os rapazes mandavam pra gente através dos guardinhas, que eu aprendi que são seres humanos, não são os torturadores, sabe? Eles estão lá, eles estão servindo e não gostam do que eles veem, sabe? Muitas vezes eu fui protegida pelas sentinelas, imagine. E eles, os rapazes mandavam pra mim, porque eu estava sem contato com a minha família. Eu fiquei três meses. Não tinha livro, não tinha nada, nada. Aí eu pegava, peguei uns papéis, não sei quê que era, quê que tinha papel lá, e fiz uma cartas de baralho pra eu poder ficar jogando paciência. Não sei que papéis eram esses. E declamava poesias. Cantava, andando pra um lado e pro outro. Eu falava assim: “Não vou ficar louca aqui, não vou ficar louca”. Bom, na Ilha das Flores eu fiquei até maio de 1971. Em maio, meu pai conseguiu que eu fosse transferida pra Bangu, pro Talavera Bruce. Lá me puseram numa solitária. Eu gritava e chorava, e falava assim: “Eu vim aqui pra poder ter contato com outras presas, eu não vim ficar sozinha. Não, eu não vou ficar aqui”. Quando o guarda abriu a porta, eu falei: “O senhor está enganado, eu não vou ficar aqui. Eu não vim pra aqui pra ficar aqui nessa cela. Eu vim pra ter contato com outras presas, tal”. Na verdade, estava tendo um período que eles chamavam de “tranca”, que todas as presas estavam trancadas, por causa de alguma coisa que eu não me lembro o quê que é. Aí, em Bangu eu fiquei de maio a novembro, quando eu fui solta. Lá em Bangu, quando não estava na tranca, era muito bom. A gente ia pro pátio do banho de sol, no banho de sol a gente jogava vôlei, enfim, fazíamos exercícios, conversávamos. Então... Podia ter vitrola, ouvir disco. Então foi um período muito leve esse. Quer dizer muito leve na medida em que a gente está presa, tal. Mas relativamente leve.
P/2 – Em Bangu você estava com outras presas?
R – Outras presas.
P/2 – Presas normais?
R – Não. Presas políticas.
P/1 – Presas políticas.
R – Acho que seis ou sete.
P/1 – Tem alguma que você lembre especialmente?
R – A Jesse Jane. A Jesse Jane era praticamente uma adolescente quando foi presa. Ela armou um sequestro de um avião com o irmão dela e com um outro amigo, porque eles queriam soltar o pai da Jesse e do irmão dela, que estava preso. Então a Jesse... Mas veja só se pode?! Eles não pertenciam a nenhuma organização, eles não tinham nenhuma experiência, nenhuma orientação, não tinham nada. E aí acho que sequestraram o avião, acho que foi no Santos Dumont, e aí queriam ir pra Cuba. E queriam que o pai da Jesse fosse solto. E aí entraram no avião... Não, estavam lá no avião, né? E o piloto disse assim: “Olha, eu preciso pousar no Galeão porque senão eu não posso ir pra Cuba, não tenho combustível”. Só que o Galeão é a base militar da Aeronáutica. É uma base militar. Aí mandaram o avião pousar no Galeão. Aí em três minutos o avião estava tomado. Mataram o amigo dela e ela, praticamente uma adolescente, com o marido, foram os presos políticos que ficaram presos mais tempo no Brasil. E a Jesse, eu encontrei ela em Bangu. Aí teve um dia que falaram assim: “Ah, todo mundo, não sei quê lá, a Margarida”. “O quê que é?” “Você vai conversar com um médico.” Aí o médico virou pra mim e falou assim: “E aí, o que você está achando? Como é que está aí a prisão?”. Eu falei: “Está horrível, um absurdo, eu vim pra cá pra poder ficar num coletivo, estou sozinha, isolada, não tem banho de sol, eu tenho direito pelas leis internacionais todas ao banho de sol”. Chorei, Fiz um discurso, não sei quê lá. “Tá bom. Pode ir.” Aí foi a Jesse Jane que depois me contou. “E aí, como é que foi com o médico?. “Ele virou pra mim e falou assim: ‘E aí, como está a prisão?’ Eu falei: Está ótima”. Aí virou pra ele e falou assim: “Eu não estou aqui porque roubei galinha, tô aqui porque eu sequestrei um avião. E com licença”. Virou as costas e foi embora. Aí, a Jesse era uma adolescente.
P/1 – E acabou sendo sua amiga? Grande amiga?
R – É. Na prisão. Depois nós não tivemos mais contato. Mas eu sei que ela é professora, acho que é na Federal do Rio de Janeiro. Até uma vez eu perguntei pra você... É na Sociologia. Acho que é na Sociologia. Foi política da Federal. Tem outras que foram minhas companheiras lá em Bangu que... Inclusive a Ruth, a Ruth de quê? A Ruth tinha marcas de choque no corpo inteiro. Eu nunca vi uma coisa igual. Ruth, não é Ruth. Dulce Chaves Pandolfi é o nome dela. Nunca vi. Nunca vi o nível de tortura que ela sofreu. Também não falou nada. Os caras davam aula de tortura com ela. Ela falava assim: “Eu nem gritava, porque eu achava que se eu gritasse, eu ia falar alguma coisa. Então eu achava que eu não podia gritar”. A Dulce era uma senhora, a mulher, viu? Uma senhora, uma pessoa... Foi muito bom ter tido contato, né, com essas pessoas todas. Foi um período de aprendizagem, de vida coletiva, né? Porque a gente dividia completamente tudo o que a gente recebia e, enfim, de apoio mútuo. Foi um período, digamos assim, bom, fora o fato de que ninguém sabia se ia sobreviver, né? Ninguém sabia o que seria de nós.
Aí, meu advogado conseguiu um relaxamento da minha prisão preventiva. Eu saí de lá com medo de ser morta no caminho.
P/2 – Na rua...
R – Um dos meus advogados estava lá me esperando. Eles pegaram muitas coisas minhas. Eu não sei por quê. Eu saí com as mãos abanando. E aí fomos ainda com medo. O Ciro, Ciro Miranda, marido da Mariana, que foi me pegar na prisão. Que era advogado amigo do papai. Ia lá todas as semanas. Uma pessoa maravilhosa. Em Bangu ele pôde me visitar. Na Ilha das Flores nunca.
P/1 – Você chegou a receber algumas visitas nesse período?
R –Sim. Recebia...
P/2 – O vovô.
R – Ah, é porque meu pai... Isso foi no período das Flores. É... Veio um soldadinho um dia na minha cela e falou assim: “Olha, deixa eu te falar, seu pai vem aqui todas as semanas e pergunta por você, e todas as semanas o comandante diz que você não está aqui. E eu vejo, eu estou com muita pena dele, porque ele sai daqui muito triste todas as vezes”. Aí eu virei pra ele... Eu fiquei com o coração na mão, né? Eu virei pra ele e falei: “Olha, quando o papai vier você faz favor de me dar um toque porque eu vou dar um jeito dele saber que eu estou aqui”. Aí ele falou: “Olha, mas não fala nada, não chama. Não fala nada que depois vão ver que fui eu que te falei”. Eu falei: “Não, pode ficar sossegado”. Aí ele veio me avisar: “Seu pai está aí. Está falando com o comandante”. Aí eu fui pra... Tinha um corredor cheio de grade, de arame farpado, na frente da minha cela, aí eu encostei no corredor... Será que foi no corredor ou foi na minha cela mesmo? Não me lembro. Porque a cela tinha uma abertura assim. Daí a pouco eu vi o papai saindo da sala de comando, cabisbaixo, assim, andando bem devagarzinho. Aí eu falei assim... Comecei a cantar o Salmo 90 que ele sempre cantava com a gente, né? Que é: “Tu que habitas ao amparo de Deus, à sombra do senhor onipotente, diz ao senhor meu refúgio, fortaleza, meu Deus a quem me confio. Não temerás os terrores da noite, nem a peste que afronta de dia, nem a desgraça que ronda nas trevas, nem a doença que virá ao meio dia, embora caiam mil ao teu lado...”. Mas eu cantava muito forte, muito forte. Eu tinha certeza que ele ia me identificar. Aí o papai parou no meio do caminho, olhou pra um lado, olhou pro outro. Olhou pra cela. Eu não estava no corredor, estava na cela. Foi pra cela e ficou parado olhando, aí depois ele fez assim e continuou. Isso foi muito legal. Porque aí ele viu que eu estava lá. Porque até aquele momento eles não sabiam onde eu estava. Não só eu estava sem comunicação, como também eles não diziam onde eu estava, né? Foi muito legal. Aí, pronto, foi isso.
P/1 – Aí depois disso você passou um tempo... Não é? Não foi isso?
R – Depois de um tempo eu fui pra Bangu. Fui pra Bangu em maio, saí de lá em novembro. Fui solta. Incrivelmente fui solta. Eu achava que eu ia ser morta.
P/1 – Quais foram... Nesse período... O que você pensa? O que você sonha? Você tenta comunicação com o seu marido ou com o seu companheiro?
R – Olha, era... Todas as nossas visitas eram vigiadas. Nunca tive uma visita em que eu pudesse... Não, em Bangu, eu tinha visitas não vigiadas por soldados armados. Em Bangu, eu tinha. Em Bangu, a mamãe uma vez foi me visitar e ela estava de calça comprida. Aí os vigias falaram: “Não pode entrar mulher de calça comprida”. Ela falou: “Não seja por isso”. Desabotoou a calça e tirou. A mamãe era demais, ela era demais. Mas aí teve um choque muito grande por causa da minha separação do Oscar, né? E por causa de eu dizer que eu queria ficar com o Chico. Foi um choque enorme pros meus pais, até pros meus irmãos. Porque o Oscar era um cara, assim, da família, né? Ninguém entendeu isso num primeiro momento. Mas como o Chico também era um cara assim com muitas qualidades, um cara muito bom, sabe, muito confiável. Sabe um cara assim que você olha? Quando o papai viu ele uma vez na Ilha das Flores, descendo. Acho que ele só teve uma vez uma visita e nesse dia o papai estava lá. E ele viu o Chico descendo pela ladeira com os dois soldados, provavelmente, atrás dele, armados e tal, viu o Chico e falou: “Esse daí é bom”. Sabe, o Chico transmitia isso. E aí eles foram se... Foram... Aceitaram o Chico, minha decisão. Nós fomos morar juntos. O Oscar, foi um período horrível pra ele. Pra ele e pra mim, também. Aí eu tive meu filho mais velho, quando ele tinha três meses, em 1973, de repente nós fomos presos. Eu trabalhava na Abril Cultural, o Chico estava fazendo trabalho de freelancer, porque estava desempregado, fazia trabalho de consultoria e à noite, de repente, ele tinha saído pra fazer um trabalho junto com meu cunhado, estava lá na casa dele. E de repente a polícia invadiu minha casa, eu estava sozinha com os três. Neste tempo morava comigo o Cacau, que era irmão por parte de mãe, do primeiro filho do Chico, que morava conosco. Então estava o Chiquinho... O Cacau, Chiquinho, o meu neném e eu, sozinhos em casa. A polícia entrou na casa, perguntando pelo Chico também, vasculhou a casa, tirou milhões de livros que não tinham nada a ver, mas se tinha capa vermelha... Desculpe.
P/1 – Não. Não tem problema.
R – Se tinha a capa vermelha já era perigoso. Enfim... E aí o Chico chegou. Quando eu vi o carro parar com o Chico, eu saí correndo no meio da rua e falei: “Chico, corre, foge, a polícia está aí”. Ele falou: “Eu já sei. Eles foram na casa do Betão”. Aí... Só que eles disseram que ele era outra pessoa, amigo de trabalho e tal, e não prenderam ele. E aí ele chegou em casa, aí levaram. Nisso, mamãe já sabia. Papai já sabia. Porque a polícia também já tinha batido na casa deles e eles pegaram o carro e foram correndo lá pra casa. Falaram: “Se bateram aqui é que já bateram lá, né?”. E aí ficaram com as crianças. Porque eu também falava: “Não vou sair”. Vou sair e deixar três crianças sozinhas em casa? Aí eles foram pra lá e ficaram com os três. Ai, essa prisão foi horrível. Essa prisão foi horrível.
P/1 – Vocês foram presos nessa época por ainda... pela militância ou por algum outro motivo? Que motivo?
P/2 – Isso que eu ia perguntar. Volta um pouquinho, só pra gente entender: você saiu da prisão e como você construiu a tua vida nova?
R – Então...
P/2 – A tua vida nova com o Chico, conta um pouco isso pra gente...
R – Então, quando eu saí da prisão, quando o Chico saiu em dezembro, a gente... Janeiro... Nós conversamos e tal. Resolvemos ficar juntos e alugamos uma casa. O Chiquinho, que era filho do Chico, veio morar conosco, o Cacau também, e a gente estava tendo uma vida sem nenhuma ligação política com organização, com nada. Muito depois a gente analisando o quê que tinha acontecido pra de repente duas pessoas que estavam completamente na legalidade serem presas, torturadas e, enfim, foi horrível. Um amigo meu, da família, nosso, da família, o Zé Carlos Mata Machado, que foi morto, acho que ele estava desconfiando que estava sendo seguido e foi na casa do papai. Provavelmente pra ver se entrava em contato comigo ou com o papai mesmo que era amigo do pai dele, em Belo Horizonte, um grande advogado, o Machado, em Belo Horizonte. E aí só estava a minha irmã menor, a Lena, que disse só: “Não, papai não está aqui, mamãe não está aqui, não tem ninguém aqui”. E o Mata foi embora. E talvez tenha sido preso nesse mesmo dia. Porque ele foi preso nesse período. E ele devia estar sendo seguido e daí resolveram prender. Foi uma prisão familiar, meu irmão também foi preso. A minha mãe teve um saque. Engraçado, porque chegaram lá perguntando: “Ah, José Sollero?”. Aí ela virou e falou assim: “O filho ou o pai?” Aí eu acho que eles falaram assim: “Deve ser o filho, né? Não, olharam lá: “É o filho”. Porque papai era José Sollero Filho só que ele era o pai. “Ah, meu filho está na casa dele, não sei quê lá, onde.” Aí prenderam o meu irmão e não meu pai, que aliás já tinha sido preso em 1968, em maio de 1968 ele foi preso. Esqueci de falar isso.
P/1 – Seu pai tinha sido preso também?
R – Tinha. Pela Polícia Federal em 1968, em maio.
P/1 – Pelo quê motivo? Mas por quê?
R – Antes da minha prisão. Por causa da militância dele na igreja, né? Aí ficou preso na Polícia Federal e tudo. Não ficou um tempo muito longo, mas até debaixo da censura saiu no jornal a prisão dele. Ele era uma pessoa muito destacada, né? Aí ele já tinha sido preso.
Mamãe falou isso só, foi preso meu irmão. Quer dizer, foi uma prisão meio assim, anódina. Só que imediatamente me levaram pra sala de tortura, começaram a me dar choque, aí me levaram pra outra sala onde estava o Chico numa cadeira. Pegaram os fios amarrados e me mandaram dar choque nele. Eu falei: “Não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou”. Na minha cabeça só pensava: “Não vou, não vou, não vou. Não posso fazer isso”. Ajoelhei no chão, falei: “Pelo amor de Deus, não peça pra eu fazer isso, porque eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou torturar o meu marido”. E aí o Chico ficou louco, pegou a cadeira onde ele estava sentado, levantou em cima da cabeça, começou a dar em todos os caras que estavam lá. Virou as cadeiras, a cadeira. Eles me puxaram correndo da sala. Eu estava nua. Me puxaram correndo da sala. Entraram outros caras e evidentemente dominaram o Chico imediatamente. Penduraram ele num pau de arara e ele foi torturado barbaramente, barbaramente, o resto do dia, a noite inteira. Eu ouvi os gritos do Chico sendo torturado. Eu enlouqueci. Eu fui pra uma cela, que tinha até uma amiga minha, a Bia Paglieri. A Bia me segurava. E eu tremia. Eu falava: “Vão matar, vão matar, vão matar. Agora vão matar”. Mas foi assim uma barbaridade. Quando levaram ele pra cela no dia seguinte ele foi arrastado. Um cara segurando em cada braço dele assim e arrastando. Eu falei: “Vão matar o Chico, né?”. Eu fiquei brutalmente louca. Aí me soltaram, com dez dias, sei lá, uma semana, me soltaram. Também outra vez eu pensei que fossem me matar, porque você tinha que atravessar um pátio grande na Operação Bandeirantes, lá no pátio do DOI. Tinha que atravessar um pátio grande, tinha sentinela pra tudo quanto era lado. Eu falei: “Enquanto eu estou aqui vão atirar”. Mas não atiraram. Fui pra rua, peguei um taxi, fui pra casa do meu pai, cheguei lá completamente desequilibrada, completamente desequilibrada. Mostraram, me mostraram meu filho, meu neném, eu completamente louca. Eu tinha começado a fazer uma terapia, fui lá, e o cara me internou.
P/1 – Margarida, você sai da prisão depois de dez dias e o Chico fica lá?
R – E o Chico fica. O Chico fica. O Chico estava em estado de... Ele estava ferido da cabeça aos pés. Os caras não soltam ninguém assim. E isso eu acho que foi por vingança. Eles não queriam informações do Chico. Eles já estavam convencidos que nós não tínhamos informação pra dar, né? Isso foi vingança.
P/1 – Uma represália.
R – Represália por causa da reação dele. Então, aí eu fiquei acho que uns quinze dias internada e pedi pra sair. Falei: “Eu tenho que sair. Eu tenho que ver onde está o meu marido”. Aí, fui no Segundo Exército: “Não, não tem ninguém preso com esse nome”. Fui no DOI-CODI, na porta do DOI-CODI: “Eu vim trazer aqui uma cesta pro meu marido”. “Como ele chama?” “Francisco Xavier Castro Alves.” “Não tem ninguém aqui com esse nome.” Aí, eu estava louca, né? Eu estava louca. E foi advogado. Pediu Habeas Corpus. E eu sem saber... Aí teve um dia, eu fui lá e levei numa sacola um casaco que eu tinha feito pra ele, um casaco cinza grande. Eu falei assim: “Se entregarem, o Chico vai saber que eu estou solta e que eu estou procurando por ele, né?”. E nesse dia a sentinela aceitou, falou: “Pode deixar que eu entrego pra ele”. Tinha umas frutas, não sei quê que tinha.
P/1 – Onde era isso que você tentou?
R – Na Rua Tutóia.
P/1 – Ah, no DOI-CODI.
R – No DOI-CODI. Na Rua Tutóia. Ele estava lá.
R – Aí, quando eu vi que o cara recebeu. Eu pensei: “Então ele está aqui. Está vivo”. Não que isso seja uma grande garantia, mas eu achei isso, né? E aí continuei indo lá, no Segundo Exército, eu queria que reconhecessem a prisão dele. Mas não reconheciam. Só esse soldado estava lá e que falou que podia entregar pra ele. Foi a única vez que eu consegui mandar...
P/1 – Um sinal.
R – Um sinal. É. Aí ele foi solto. Eu fiquei... Eu estava muito mal em casa, de repente ele chegou. Ah, meu Deus, quando ele chegou. Aí foi demais mesmo. E aí eu queria sair de São Paulo, né? Queria sair de São Paulo. Pedi demissão da Abril. Queria sair de São Paulo. Nós dois, né? Aí o Chico tinha também que ficar prestando depoimento. Em 1974 ele tinha que dez vezes. Uma vez por mês os caras vinham na nossa porta e levavam ele, era um inferno, né? Enfim...
P/1 – Vocês tinham um filho. Vocês tinham um filhinho pequeno.
R – Tínhamos um filhinho de três meses quando nós fomos presos, em 1973. O meu filho de barriga mais velho tinha três meses. Aí depois eu engravidei dessa menina, tive ela, mas eu estava, infelizmente, muito ruim, muito deprimida, muito mal da cabeça. Conversava muito pouco, falava muito pouco, falava muito pouco com ela. Ela teve um atraso grande no desenvolvimento da fala. Então foram coisas assim muito... Enfim... Os filhos sofreram com tudo isso também, né? Principalmente ela, porque foi depois desse período. Eu acabei me separando do Chico também. Mas não conseguia também voltar a trabalhar. Entrava num trabalho, ficava seis meses no máximo, saia. Estava fazendo meu tratamento, sendo internada volta e meia por causa de depressão. Então foi um período muito difícil que nós passamos a viver. Eu acho que eu comecei a melhorar mesmo em 1981, 1982, sabe? Já na década de oitenta. Que aí eu fiz concurso pra Prefeitura também. Comecei a trabalhar como professora, né? Me estabilizei mais em relação aos meninos também, em relação ao Chico. Foi bom.
P/1 – O que você acha que fez você se sentir melhor? Tem alguma coisa específica e tal que você lembra?
R – Olha, tudo isso, na verdade, aconteceu num período que já estava muito mais aberto, digamos assim, o regime. Embora ainda não tivesse, não tivesse a anistia, não tivesse, enfim, a eleição direta, né? Não tinha nada. Mas respirava-se mais tranquilamente, né, o ar, porque todo período da ditadura era uma opressão, muito grande, um medo muito grande, era uma falta total de recursos, de segurança, de tudo. Quando a gente foi preso em 1973, sendo que a gente não estava tendo nenhuma militância, eu virei pra mim e falei assim: “Bom, tudo pode acontecer, então. Tudo pode acontecer. Um dia eles resolvem vir aqui, matam a mim, os filhos, marido, matam todo mundo e vão embora. Ninguém nem fica sabendo. Não vai sair no jornal”. Então era um período de muita... Então, acho que, assim, em termos gerais, no país já era um período mais aberto, que a gente já tinha mais segurança, né? Eu acho que isso foi uma coisa que influiu. E também com o tempo, né? Fiz muitas terapias esse tempo todo, tomava muitos remédios, tomo até hoje. E isso tudo foi ajudando, né? Mas ainda bastante tempo...
P/1 – Você tinha pesadelos? Você tinha... Passava períodos que você...
R – Eu tinha visões. Eu achava que escutavam o meu pensamento. Então que eu não podia fazer nada, não podia pensar, porque escutavam, estavam escutando meu pensamento. Eu, de repente, achava que estavam chegando em casa, pegava os meninos, juntava, e saia correndo com eles pro meio da rua. Essa aí era neném. Saía correndo com eles no meio da rua pra pegar um táxi, ia pra casa dos meus pais. Ia andar. Ia andar na rua, me perdia, não sabia onde é que eu estava, não sabia o que eu estava fazendo. Foi um... É impressionante esse negócio, né? Ou de ouvir mesmo coisas, ouvir, imaginar que estavam vendo meus pensamentos, que iam chegar e iam me prender com os meninos. Isso tudo era uma coisa demais, né, que passou acontecer depois dessa última prisão. Agora...
P/1 – Nesse período – desculpe – você se separa nesse período?
R – É. Olha, eu acho que a gente se separou quando eu comecei a me recuperar. Uma coisa assim... Eu sentia uma necessidade muito grande de me juntar outra vez, né? E aí, esse período, o Chico sofreu demais, né? Sofreu demais. Teve uma vez que ele me pôs pra fora de casa porque disse que eu estava perturbando as crianças, que eu não podia ficar com eles. Um período horrível. Aí acho que foi isso que levou a gente a acabar se separando e, depois disso, nós ficamos juntos outra vez, depois nos separamos outra vez. Mas... Eu acho que eu também me recuperei quando eu consegui me estabilizar profissionalmente, né? Trabalhei nove anos na AACD, que foi também uma forma de resgate pra mim, sabe?
P/1 – Qual era o trabalho na AACD que você tinha?
R – Eu era professora.
P/1 – Professora.
R – É. Tinha um convênio da Prefeitura com a AACD. E eu entrei na Prefeitura como substituta, professora substituta, e imediatamente fui mandada pra AACD.
P/1 – Foi uma escolha sua?
R – Aí no ano seguinte eu fiz concurso, me efetivei e continuei trabalhando lá.
P/1 – Você escolheu trabalhar na AACD? Era uma...
R – É, era uma coisa muito, muito boa pra mim. Como se eu tivesse também, eu acho, me reerguendo. Foi um período muito bom. E quando eu saí de lá eu voltei pro ensino... Foi uma época em que o Chico ficou doente. Voltei pro ensino regular, também era mais perto da minha casa. Fiquei trabalhando lá até me aposentar como professora.
P/2 – Uma pergunta: você já tinha vivido a prisão, já tinha sido torturada e tal... Por que essa segunda prisão é tão forte e de repente abre essa janela pra uma instabilidade emocional? O quê que foi, o quê que você sentiu?
R – Olha. Eu acho que quando eu estava no Rio de Janeiro, na clandestinidade, realmente participando da luta contra a ditadura, militando e tudo, eu já tinha várias vezes escapado da prisão, e a prisão era uma coisa que estava ali, né, na nossa frente a cada minuto, não é? E quando eu fui presa em São Paulo, em 1973, teve um fator de total surpresa. Eu pensei assim: “Se isso pôde acontecer, isso pode voltar a acontecer todas as vezes. Eu não posso mais, não vou mais ter segurança, ter tranquilidade, não vou poder criar meus filhos, não vou poder”. E isso foi ficando, não sei, me desequilibrou realmente.
P/1 – Depois teve um período em que eu voltei pra faculdade. Entrei pra ECA – da USP. Nesse período aí, depois dessa última prisão, 1979, 1980. Eu ficava lá, via todo mundo se reunindo, todo mundo falando, criticando, levantando a mão. Eu falava: “Gente, o quê que é isso? Isso é um perigo”. Eu ficava completamente desentendida daquele ambiente. E já era esse clima de início de abertura, na verdade, né?
P/1 – De abertura da...
R – E já tinha uma organização dos estudantes e tal. Eu ficava desentendida. Aí eu falava assim: “Meus Deus, mas por tão pouco, por tão pouco nós fizemos”. Lógico que foi a soma de todos os esforços, alguns maiores, outros menores, que eu acho que redundou na pressão, que acabou acabando com a ditadura no Brasil, pelo menos essa ditadura, né? Essa. Porque existem muitas formas de ditadura, né? Mas, enfim, não acho que foi inútil o nosso trabalho, nem a nossa resistência, nem a luta. Não acho que foi inútil. Eu só acho que nós fomos... Quantos mortos, né? Quantos mortos. Eu penso em todos os companheiros mortos. Mortos sob tortura. Mortos sob tortura é um horror, porque você precisa ser muito torturado pra morrer. Entendeu? É um horror. Eu fui torturadissima e não morri. São mortes violentissimas, né? No fim das contas, você diz assim: “Poxa, mas a gente fez muito pouco, né? Hoje está aí, assembleia, discute. Não acho que a gente vive num regime maravilhoso, mas eu acho que, né, foi uma conquista necessária. Não tivemos como na Espanha, pelo menos, quarenta anos de Franco, né? Ou como Portugal, quarenta anos de Salazar. Eu acho que a resistência aqui conseguiu um certo resultado, pelo menos, senão... Eu acho que a gente não vive numa sociedade ideal, mas não é também a ditadura. Eu tinha uma amiga, quando eu estava nessas crises aí depois da prisão, né? Ela falava pra mim... Nadia, ela... Nadja. Ela falava assim: “Guida, você tem que melhorar porque daqui a pouco cai a ditadura e vão começar a estourar foguete aí, foguete. E você vai ficar assim Mas quê que é isso?”.
P/1 – Alheia, né?
R – Completamente alheia. “Faz favor, né? Vê se... Tenha dó, né? Melhora”. Não esqueço dela falando isso pra mim.
P/1 – Margarida, o que você sente que deu esse impulso pra você melhorar? Você falou que foi a situação do país...
R – Eu acho que isso melhorou...
P/1 – Mas teve alguma coisa, além disso, que você sentiu, assim, que deu esse impulso? E teus filhos, como é que era?
R – Meu filhos... Teve os meus filhos. Foram os meus filhos. Porque eu achava que eu não podia ficar naquele estado. Não podia. Uma vez quando o Caio, meu filho mais velho de barriga, tinha uns cinco, seis anos, ele virou pra mim, olhou bem assim pra mim, falou assim: “Mãe, você é louca?”. Isso cortou meu coração, cortou meu coração. Eu virei pra ele e falei: “Não meu filho, eu não sou louca, não sou louca”. Quando a Nana nasceu também. Eu com ela no colo e ficava assim: “Olha minha filhinha, eu estou assim, mas não é por sua causa. Não é por sua causa. Mamãe te ama muito. Eu te amo, eu te amo. Não é por sua causa que eu estou assim. Mas a mamãe está doente”. Então os meus filhos sem dúvida me fizeram melhorar, me fizeram... Me fizeram mesmo, porque... E foi um período também que eu tinha... Eu trabalhava na AACD nesse tempo, mas eu tinha dedicação exclusiva aos meus filhos. Não namorava, não saía, não ia a um teatro, a um cinema, eu achava que eu tinha que ficar com eles.
P/1 – Você estava separada?
R – Estava separada e pensava assim: “Eles já não vivem com o pai, então pelo menos eles têm que ter a mãe”. Não que o Chico faltasse. E não faltava. Via lá em casa, pegava os meninos, levava. Mas eu achava assim que tinha que ter algum ponto de estabilidade na vida dos meninos, sabe? E que esse ponto era eu. Então eu não podia ficar daquele jeito, que eu tinha que me recompor. E aí, não sei, foram muitos e muitos anos de terapia, muitos e muitos remédios. E muita e muita vontade de conseguir continuar, né?
P/1 – Apesar de todos os...
R – Meus pais também, meus irmãos. Meus pais sofreram muito, né? Então eles também foram... Porque eu não queria ser causa de tanto sofrimento. Pros meus irmãos também. Se eu telefonava pra alguém eu falava assim: “Oi, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Eu preciso ter alguém, tem que me segurar, me segura, me segura”. Se eu telefonava pra algum irmão na mesma hora estavam pulando o muro de qualquer jeito pra entrar lá em casa e pra me pegar. Entendeu? Então, lógico que eu queria, não podia, né, não podia, eu tinha meus filhos. Não podia ficar assim. É isso.
P/1 – Então, apesar de todas as dificuldades, desse período negro, assim, de tudo que você passou, qual foi a parte boa, positiva, que você viu nisso e que você acha que você transmitiu pros seus filhos?
R – Olha, eu acho que senso de justiça. Muito, muito amor à justiça. Muito amor a... Como que eu posso dizer? À justiça social, sabe? Realmente lutar por um... Poder lutar e ter que lutar por uma situação social melhor, por uma... Sabe? Pelo fim da pobreza, pela melhoria da sociedade... Tinha um companheiro, a gente morava esse tempo todo em subúrbio e tal, lógico, vivia o tempo todo com roupa dada e tudo... E ele falava assim... Ele me conhecia da faculdade. Ele falava: “Guida, engraçado é que você não parece de classe média, você parece alguma faxineira por aí”. E foi uma coisa assim que acho que eu realmente me identifiquei demais. Eu nunca me senti superior. Assim, querendo fazer... Nunca. Eu acho que esse senso os meus filhos também pegaram, não é? E também o seguinte, eu acho que hoje em dia, embora eu não tenha militância, embora... Eu até já participei de uma ONG, mas em educação. Eu tenho vontade de trabalhar como voluntária em alguma coisa. Preciso fazer isso... Mas, ficou assim, eu acho que a luta, a luta vale a pena, você tem que lutar, tem coisa que a gente não pode engolir assim. Não pode. De alguma forma, não precisa ser diretamente, militando, sendo preso, morto, não precisa ser isso, mas de alguma forma tem que haver uma resistência. As coisas não podem ficar assim como se não resistissem. Então isso é uma coisa que me deixa contente. Eu falo assim... Bom, eu participei da resistência, né, não me arrependo disso. Eu gostaria que os meus filhos não tivessem pago o preço que eles pagaram.
P/1 – Teria algo que você tivesse feito? Você sente falta de algo que você não realizou? Não conseguiu fazer?
R – É... Eu tenho vontade de ter conseguido construir um casamento com o Chico. Tenho. Isso eu sinto falta. E acho que isso teria sido muito bom, né? Eu acho que eu não... Foi um castigo a mais que nós sofremos isso. Desnecessário. E eu acho que principalmente por minha causa, não por causa dele. Por minha causa. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Né? Sinto falta hoje de um companheiro. Embora ele não esteja mais aqui, né? Ter dado um lar mais estável pros meus filhos. Mas isso é o preço que se paga, né? Outras crianças também pagam preços muito altos. Pagaram. Pagam. Não é? Por causa das opções dos pais.
P/2 – Isso é uma coisa que você mudaria na tua trajetória de vida?
R – Sim. Sim. Sem dúvida. É... Cuidados, por exemplo, que eu não tive com a Heliana, sabe? O fato dela ter tido um atraso grande no desenvolvimento da fala porque não foi estimulada. E... Enfim, os filhos pagam o preço da vida dos pais, né? Eu acho que isso não tem jeito. Pode ser bom ou pode não ser, mas não tem jeito de não viver a vida dos pais, né?
P/1 – Mas você se cobrou isso um tempo? Houve uma cobrança da sua parte?
R - Muito. Muito.
P/1 – Como mulher? Ou como...
R – Como mulher, como mãe. Demais. A única coisa que eu acho é que eu, quando pude realmente, eu tinha dedicação integral a eles, tinha muita, muita mesmo. Podia ser que eu não fizesse as coisas melhores e tal, mas eu tentei fazer isso, né? Eu sempre achei que filho é responsabilidade dos pais, né? Eles não pediram pra vir ao mundo e a gente tem que... Não sei, não é porque eu achava isso, é porque eu sentia isso.
P/1 – Você acha que você tentou também, ou não, incutir pela tua experiência neles, eles serem engajados, eles participarem também de...? Ou você deixou isso...
R – Sabe que meus filhos... É o seguinte: o mais velho, que é o Chiquinho, que é do Chico, ele é um sambista de primeira, ele é um boêmio, sambista, trabalha, graças a Deus se sustenta, mas fora isso ele é do samba. Ele mora em Rio Claro atualmente e, enfim, não vou dizer que ele é muito bom, ele é ótimo como pessoa, com valores e tudo, eu acho que ele compartilha os valores dos pais dele, mas não tem nenhum engajamento. Eu acho até que se aparecesse alguma escola de samba. Ai, não posso falar isso do Chiquinho.
R/2 – Ele é muito forte emocionalmente e ele é muito justo. E é muito justo. O Chiquinho é muito justo.
R – Ele é... Ele é muito justo, ele é... Em termos de participação política ele pensa também nesse negócio de criticar. Jamais votaria no Russomanno, por exemplo. Mas... O Caio trabalha. Trabalha numa empresa. É casado, tem uma filha, não tem nenhuma participação política, mas também tem essas ideias, né? Eu não tenho nenhum filho que, por exemplo, faria um ato corrupto, ganhar dinheiro por vias não...
P/1 – Justas...
R – Nenhum. Nenhum. E a Nana que está... Agora foi fazer o doutorado no Rio e ela que me trouxe até aqui, né? Ela que me trouxe. Eu costumo obedecer bastante ela.
P/1 – Muito bem!
R – Nossa! É uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Cria o filho dela também, muito bem. Meus netos são uma graça, né? Eu tenho três filhos e três netos. Um de cada um. São uma graça. Quer dizer, eu acho assim, nunca a gente transmitiu verbalmente, eu acho que a gente transmite isso pela vida mesmo, né, pela atitude, também conversar... Não sei. Porque eu demorei muito pra contar pros meus filhos essa história. E até agora não contei alguma parte, mas tudo bem.
P/1 – Ainda falta, né?
R – Mas você se sente bem contando essa história hoje em dia?
P/1 – Olha, eu sempre falava assim... Quando eu voltei pra faculdade e falavam assim: “Ah, porque, ô, 1968, tal”. Eu sempre falei assim: “Olha, foi uma conjuntura diferente dessa que a gente está vivendo”. Eu não acho que a gente era herói, que “Ó”. Eu acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer naquela conjuntura. Não precisa imitar. A conjuntura hoje é outra. E eu nunca achei isso, sabe? Coisa fantástica. Eu acho que é uma coisa... Em Bangu, as meninas, antes de eu entrar lá, ir pra lá, elas escreveram assim na parede: “Triste fim de uma direção política”. Ninguém almeja ser preso, sair dessa vida, ninguém. Mas é por isso que eu acho... Acho que eu sou uma pessoa que viveu num certo tempo e que nesse tempo fez uma opção, né? Talvez eu pessoalmente tenha pago um preço mais caro por causa do meu desequilíbrio, né, que resultou em problemas pros meus filhos. Mas graças a Deus os três trabalham, os três são ótimas pessoas, ótimas pessoas. O Chico também, sabe, deu a vida também por essas crianças, por mim também indiretamente. Enfim, eu acho que foi uma história feliz, sabe? Eu acho uma história feliz. Feliz porque a gente é feliz quando faz aquilo que acredita. Eu não seria feliz se eu tivesse me formado direitinho na PUC em janeiro de 1970 não sei quanto, se eu não tivesse tido meus filhos. Talvez se não tivesse tido nas condições que eu tive,né, que nós tivemos, eu e o Chico. A vida é uma coisa meio sem rumo, né? Quando a gente vê, a gente tem que fazer algumas opções. A gente é levado pra alguma. É isso que eu acho. Acho tudo simples assim.
P/1 – A gente agradece essa história sua, é uma história importante.
R – Faria tudo de novo.
P/2 – O que você achou de contar sua história pro Museu da Pessoa?
R – Muito bem, sabe por quê? Porque é a minha história mesmo. Começou com minha família, meus pais, meus irmãos, onde nós moramos. Então foi uma coisa que fluiu bem. Não foi uma coisa que foi uma machadada no meu crânio, não é? Foi não. Foi bem legal. Bem melhor do que eu pensava.
P/1 – Que bom!
R – Foi ótimo. Vocês são ótimas. Obrigada!
P/1 – Você também. Obrigada!
R – Obrigada! Foi ótimo. Eu tinha bastante medo...
Recolher