Projeto Conte Sua História
Depoimento de Maria Cleta de Almeida
Entrevistada por Felipe Rocha e Luiza Gallo
São Paulo, 05/07/2018
Realização: Museu da Pessoa
PCSH/HV 689
Transcrito por Rosana Rocha de Almeida
Revisado e editado por Viviane Aguiar
P/1 – Obrigado, Cleta, pelo seu tempo e por estar aqui participando no projeto com a gente. A gente sempre começa a entrevista perguntando seu nome completo, local e data de nascimento.
R – É a data normal?
P/1 – Pode contar a história da data também.
R – Pois é, o meu nome é Maria Cleta de Almeida. Meu Almeida é do marido, era Lima antigamente.
P/1 – E a data e o local em que você nasceu?
R – Eu nasci no dia 26 de abril de 1938, numa quarta-feira, às quatro horas da tarde, segundo elas, relato da minha mãe.
P/1 – Mas você falou pra gente que o registro acabou ficando diferente, conta pra gente.
R – Depois, eu não fui registrada quando eu nasci. Por isso que, nos meus documentos oficiais, pra qualquer efeito, meu registro é do dia 24 de novembro de 1938, porque erraram quando foram fazer lá. Porque eu fui registrada depois de adulta, porque a gente só se registrava quando tinha ano de eleição e já tinha 18 anos. Porque eram os políticos que pagavam, que as famílias não podiam registrar os filhos. E minha mãe costumava, era uma pessoa que aprendeu a ler escondido, mas sabia escrever os nomes dos filhos e punha a data dos filhos, o dia, a hora que nasceu, às vezes, até a própria parteira, e ela punha aquela data e, quando fosse pra registrar, levava o livrinho pra mostrar lá. E, como era sítio, chegava lá e ia registrar o nome lá. Era num sítio, era uma vilazinha, abria lá, e a folha vai ser essa. “Quem vai ser a testemunha?”, a pessoa assinava lá, conversava: “Quando você nasceu?”. Eu não sei quem errou, se foi ele ou o filho dele, que era o escrivão, história na frente. Quem fez o meu registro foi o pai do Evaldo, que é aquele que eu te falei da história, que é o meu inesquecível! Mas tinha alguém que chegou... O testemunho era quem chegasse do lado. “Você quer assinar aqui?” E o filho dele, que chamava José Edmundo, ele que estava ali pra... Eu não sei quem errou. Passaram todos os anos, eu sempre fui de 26 de abril, sabia que meu aniversário era 26 de abril. Quando passaram todos os anos na minha vida, que eu vim morar em São Paulo, que comecei a trabalhar, aí começou a história de tirar o PIS [Programa de Integração Social], e eu cheguei aqui e segui a mesma reta. Por ali, eu tirei a minha identidade, por aquele documento, que tem outra história errada também no documento. Eu, quando cheguei em São Paulo, eu vim casada, mas eles não tinham mando, não me entregaram o documento do casamento civil, só tinha o registro de nascimento. Olha como as coisas eram! Eu e meu marido, nós tínhamos o registro de nascimento, nós não tínhamos... Fizemos, e ficou por lá mesmo. Aí, nós mandamos buscar lá no Ceará, foi uma cartinha, nada de telefone. Pedi porque nós precisávamos ter outra vida em São Paulo. Quando veio, vieram os dois, o meu e o dele, de solteiro e o de casado também, que era para nós tirarmos os documentos, carteira de trabalho, identidade, essas coisas assim. E com aquilo ali eu fui tirar, peguei o registro e fui tirar. Meu Deus, eu fui registrada, tirei a carteira de trabalho, que orgulho ter uma carteira de trabalho. Fui trabalhar no primeiro serviço, pra sair... Quem trabalha tem que pegar o PIS. E eu fui. No mês de abril, era mês do aniversário: “Não, você não é do mês de abril!”. Digo: “Toda vida, fui”. “Cadê seu documento?” “Tá aqui.” E eu tinha olhado lá a identidade e eu não me preocupei com isso, estava trabalhando. Quando a moça olhou, disseram: “Não, a sua data de nascimento é 24 de novembro”. Aí, eu passei a ter essa outra data e eu mudei. Só na igreja que eu sou (risos), sou perfeita religiosa. E respeito muito o meu 26 de abril. É tanto que, quando eu comecei a aprender negócio de internet, a professora, eu falei: “Não, minha data é essa!”. “Não, vai por esse.” Isso deu muita polêmica, minha irmã brigou muito comigo, que os irmãos, os parentes: “Ah, ela está mentindo!”. Nesse ano, eu tive que mudar, porque, até ano passado, o negócio do tal do Facebook, dessas coisas assim, ele mandava parabéns pra mim duas vezes por mês. Agora é o certo! (risos)
P/1 – E você comemora qual data, Cleta?
R – O de abril! Eu comemoro o de abril mesmo. Comemoro não, que nem gosto de comemoração. Eles fazem umas coisas escondidas, e eu já sei. É surpresa, mas não gosto de comemoração, não. Gosto da coisa bem real. É besteira.
P/1 – Vamos voltar um pouquinho. E o seu nome? Você sabe por que é Maria Cleta?
R – O meu nome é Maria porque as mães tinham muitas filhas. Quando tinham sete filhas, tudo era Maria Sílvia, Maria José, Maria... Maria com santo! É Maria do Socorro, Maria... Tanta Maria na vida! Mas o meu, minha mãe já era mais instruída, como ela aprendeu a ler, nós tínhamos na época um calendarinho. Não tinha essa folhinha grande, não. Que ganhava do pessoal da cidade, iam buscar na cidade, levava um calendário, só tinha direito a um. E tinha um cartuchinho, um pacotinho na frente, dos 365 dias, de janeiro a dezembro, cada dia era dia de um santo. Por isso que tem aqueles nomes assim: São Miguel, São Sebastião, São José, Hortência, alguma coisa. Quando chegou no bendito do meu dia, correram pra ver o papelzinho, tinha o calendário e o almanaquezinho, que isso era só pra gente rico. Quem não tinha nem o calendário, os amigos, os parentes, os compadres mandavam o nome. Aí, quando abriu: “Nossa, São Cleto!”. Minha mãe achou muito bonito o nome: “Vamos pôr o nome de Cleta?”. Mas todo mundo tinha dois nomes ou três, batizava com um nome, registrava com outro e ainda tinha um apelido. Isso era normal lá. Mas o meu ficou. Minha mãe, como tinha que ter Maria na família, apesar que, na minha, só tinha Maria eu. Eram três irmãs. Eram quatro, e uma morreu. Minha mãe falou: “Põe Maria Cleta, que bonito”. Meu pai era Francisco Tomé Gomes e minha mãe Cândida Alves de Lima, que naquele tempo não tinha troca de... Também não sei se eles eram casados, não tinha troca. Aí, pôs Maria Cleta de Lima. Todos os meus irmãos tinham Gomes de Lima, e eu sou Maria Cleta de Lima, fiquei Maria Cleta de Lima até casar, porque, quando casou, diz que tinha que trocar o nome. E eu também marquei bobeira, podia ter posto de Lima e Almeida, mas ficou com Almeida. E esse Almeida tem história também pra contar. Tem um livro, que eu estou pra receber esse livro de Almeida, da história dos Almeida. E aí foi, e eu não fiquei sabendo por que Cleta. Só que era dia de São Cleto. Passados todos os anos da minha vida, quando eu comecei a buscar e ser curiosa, aí eu descobri o Cleto. Cleto, naquele tempo havia muita religiosidade, por isso São Miguel, São Sebastião... Tinha muito filho com nome de santo, e Cleto é bíblico. Depois que estudei, que busquei, é de origem egípcia, e Cleto foi São Cleto, não existe Santa Cleta, até aqui eu não conheço. Mas, como tinha que mudar, não podia ser Maria Cleto, eu fiquei Cleta. Cleta é bíblico. E quem vai em missa sabe que o padre fala. Cleto foi um mártir que acompanhava os apóstolos. Aí, quando o padre fala: “Cleto, Lino...”, não sei mais quem, que foi um bocado de gente boa antigamente (risos). Porque hoje em dia, se a gente é politico, é doutor... Naquele tempo não. Gente boa e que faz... Tinha os donos da verdade, naquele tempo, e aqueles que eram bem bons mesmo. Depois, os religiosos tinham nome de santo porque foram bons. Eu até comparo com hoje em dia. Hoje em dia, quem ajuda um ao outro é quem tem dinheiro. Lá do outro lado, é quem reza muito (risos). E aí vai, o meu nome, de Cleto, a realidade é essa.
P/1 – Você falou que sua mãe anotava no caderninho até quando tinha parteira. O seu parto foi de parteira?
R – Foi de parteira, lógico, ninguém na minha casa... Foi de parteira e bem de parteira mesmo. Eu acho que a minha parteira foi, deixa eu ver quem foi. Foi Belisária, uma mulher que chamava Belisária. Quando a parteira ia, a mulher ficava... Chama doente. Não era pra ganhar nenê, era pra descansar. Mulher está doente vai descansar. E o marido ou mandava alguma pessoa: “Vai chamar a parteira”. A parteira vinha correndo e aí preparava uma coisa bem esquisita, eu ainda acompanhei isso aí, porque já era grandinha e vi meus irmãos nascerem. Ali, criança, moça, com 16 anos, só se tivesse 18 anos pra lá pra saber da história. Escondia todo mundo e entrava no quartinho lá, pra mulher descansar, ter aquela criança. E foi a comadre Belisária. Comadre por quê? A parteira que assistisse já ficava comadre. No caso, era comadre Cândida, minha mãe chama Cândida. E foi essa mulher. Minha mãe, quando melhorava, tinha uma história, uma dieta naquele tempo. Meu Deus, se eu for contar, vocês vão se assombrar. A história de quando ganhava nenê. Aí, fazia, deitava lá numa rede, punha a criancinha lá na outra rede. Tinha uma redinha pra criança também. E ali ia começar a matar frango, fazer caldo e beber as coisas. E minha mãe, a mulher só se levantava e saía daquele quarto depois de oito dias. E não tomava banho, não lavava os pés, se lavasse os pés, era numa cuia. Uma pessoa ia cuidar do resguardo. Ficar de dieta chamava resguardo. Ia sempre uma amiga, um parente, uma sobrinha pra ficar 29 dias lá. Nos 30 dias é que tomava banho. E minha mãe que sabia ler, aí, as comadres iam ver o nenê, ia ver a criança e ia procurar nome e ia conversar como foi. E minha mãe já tinha um lápis, não tinha caneta – tem até a história da minha primeira caneta, não era caneta, era pena! Aí, pegava um lápis, não tinha caderno, não. Esse que nós chamamos de papel almaço. As pessoas que eram mais cuidadosas, muita gente usava papel de embrulho, esses saquinhos de papel que ia, mas comprar, pegava uma folha de papel almaço, igual desses nossos, só era mais duro. Dobrava em várias vezes e fazia tipo um caderninho. Costurava com agulha de mão e amarrava e ali minha mãe anotava. Nasceu tal dia e tal hora. Chegou a minha vez! Cleta – não era o nome todo – nasceu em 26 de abril de 1938 numa quarta-feira às quatro horas da tarde. Essa eu li, porque eu aprendi a ler, e minha mãe guardou. Só não tem isso porque foi aquela história que eu contei. Meu marido sumiu, mas eu tinha aquele livrinho em casa até 2008. Foi quando eu viajei, em dezembro de 2007, e ele ficou com bronca porque eu tinha viajado. Quando eu cheguei, ele fez uma limpeza e jogou fora. Cheguei, e ele se orgulhou de ter jogado. Aliás, tinha uma carta da minha mãe pra uma amiga dela, que, se ele não tivesse jogado fora essa carta, tinha 80 e poucos anos agora, mais. A história é essa, minha mãe deixou, foi essa.
P/1 – Sobre o que essa carta falava da sua mãe?
R – A carta da minha mãe? Ah, como eu queria ter essa carta. Era uma história boba, mas era muito interessante. Minha mãe foi morar onde? Minha mãe... Tinha que ter história da família. Chamava gente colono, gente que, quando tinha seca, mudava de um lugar para o outro. As famílias e as amigas dela ficaram num lugar antigo, amiga dela quando era moça, jovem. Chamavam moças, era coisa muito diferente. E tinha uma história, que era prima, por corrente sanguínea, era irmã por corrente sanguínea, mas na fogueira de São João a gente tinha uma história lá que, quando acendia a fogueira, ia se tomar por primo, por padrinho e por mano. Por exemplo, eu era muito amiga de uma pessoa, minha mãe era muito amiga de Emília, desde criança e jovem, vamos tomar por prima! Pegava uma na mão da outra: “São João confirmou, você vai ser minha prima porque São João mandou”. E tinha mais uma palavras. E quem fosse padrinho: “Você é minha madrinha porque São João mandou”. “Você é meu afilhado porque São João mandou!” E, aí, ia. Esse de mana era raro, era uma coisa mais íntima. “Você quer ser minha mana?” Era como se fosse irmã, que na realidade é isso. E ela quis ser irmã, mana de Emília. E mantiveram amizade a vida toda, só que, quando ficaram adultas, mudaram de lugar pra muito longe, cidade, sítio, muito longe. E não se encontravam mais. Mandavam cartinhas as que sabiam ler. Dos 12 irmãos de minha mãe, só duas aprenderam a ler escondido. Minha mãe aprendeu escondido e ensinou pra uma tia minha, as outras não conseguiram. Minha avó não deixava as filhas aprenderem a ler porque, senão, corria o risco de mandar bilhete para o namorado. E naquele tempo quem fazia casais, quem concordava, eram os pais. Se eles gostassem, não eram o que os filhos queriam, e isso aconteceu. E, na carta, que eu li muitas vezes, falava das pessoas que elas conheciam, de roupa que elas vestiam, da camisa do namorado, do rapaz que ela conhecia. Era uma história bem diferente porque elas não tinham novidade. E era a vivência delas, era o lazer delas. A história era muito boa! Hoje, nós temos o comunicado por internet e tudo, naquele tempo uma carta pra chegar de onde uma morava passava um mês. Porque as pessoas moravam no sítio, mandava essa carta pra cidade, pra colocar no correio. O correio levava para aquela cidade e, do correio, no nosso caso, passavam 18 quilômetros até chegar no sítio. Só conseguia pegar essa carta quando alguém ia na cidade, ou na caminhada, ou a cavalo. Naquele tempo, ninguém tinha carro e nem caminhão. Quem tinha cavalo, jumento, burro, ia a cavalo, que ia para os negócios, comprar alguma coisa na cidade. Tecido pra fazer roupa, que ninguém comprava roupa feita. E assim que essa carta chegava. Ou, então, quando uma pessoa da família voltava naquele lugar, era uma oportunidade pra mandar uma carta. Aquilo era uma vitória. Eu recebi uma carta! E minha mãe guardou essa carta por bem mais que 60 anos, infelizmente, o meu querido marido jogou fora (risos). Estava numa caixinha que eu guardei, eu viajei e tudo que tinha ali ele destruiu. Muitas coisas que seriam importantes pra mim hoje eu só guardo na lembrança. A história da carta é essa.
P/1 – E você sabe como seus pais se conheceram, Cleta?
R – Eu não sei bem. É mais ou menos assim. Meu pai é de uma família com risco até de eu ser parente da Luiza Tomé, em outro sítio longe. E minha mãe era bonita, até hoje vejo foto, e era uma pessoa bonita, era bonita. Foram trabalhar, chamavam colonos, foram desse lugar, porque acontecia assim, lugar que havia muita seca. Chegou a haver três anos de seca, tem uma história linda do meu bisavô. Tem história do meu bisavô. Nesses três anos de seca, nos tempos de seca, o pessoal mudava de um lugar para outro. Já tinham passado os três anos de seca, teve a seca de 1877, mais outra e outra. Tinha uns lugares em que chovia e outros não chovia. Seca era onde não chovia, as famílias tinham que mudar. Os pais pegavam toda a família e mudavam pra outro lugar, pra lá os homens trabalharem e as mulheres ficarem em casa, pra cozinhar as comidas, pra poder sustentar a família, senão, ia morrer de fome. Posso até interromper. O meu bisavô, foram dez irmãos, nove morreram de fome na seca de 1877. Morreram mesmo. E eu sei da história, eu ouvi contar a história, conheci meu bisavô. A última que morreu foi a mãe dele, quando não tinha mais recurso nenhum. Foram morrendo ou saindo mundo afora. A última irmã do meu bisavô, a última pessoa da família do meu bisavô que morreu foi a minha... Era a mãe do meu bisavô. Das dez pessoas que saíram para o mundo, ela morreu de fome. Quando amanheceu, que ele viu que ela estava morta, ele ficou sozinho. E as mulheres andavam com um paninho, não tinha nada pra levar. Ele pegou o paninho, pôs na casa dela e saiu. Não teve enterro, não teve nada. Foi em 1877, foram três anos de seca. Quando acabaram todos aqueles tempos, que começou a chover, ele escapou da fome, no ano seguinte. Aí, quando choveu, apareceu folha, água pra ele beber, porque meu bisavô, quando ele saiu com a família, não tinha mais recurso. Aqueles tempos eram de muita dificuldade, foi no outro século. E eles contavam. Ouvi muito contar história, por ele mesmo. Chupava... Sabe o que é torrão? Pedaço de terra onde tinha um rio. Podia estar úmida, e ele chupava pra sugar alguma coisa. Sabe madeira que tira a casca pra ver se tem alguma umidade? Por exemplo, mufumbo, é aquele que mostrei na foto, é uma madeira que fica muitos anos porque ela é úmida e ela resiste a muitos anos, dois ou três anos de seca. Você corta ela e sai aquela aguinha. E ele cortava, chupava, foi assim que ele foi sobrevivendo. Casca de pau, alguma coisa, mas quando secou tudo... E ele não morreu. E ficou caindo, dormindo com fome! Aí, em seguida, o inverno começa em janeiro, lá no fim do ano de seca, começou a chover. Ele se alegrou e sobreviveu, foi como uma planta que só ficou a raiz e depois ele brotou. Aí, ele ficou feliz da vida. Choveu, e ele bebia muita água e a água sustenta. Logo que chove, passam muitos anos de seca, isso eu já vi, nasce muita plantinha! Molhou a terra e nasce tudo que é planta. Ele viu folha e já se sustentava, comia mato e ali sustentava. E foi andando, e foi andando. Até que passaram dois meses. E aí nascem as coisas principais, nasce pé de abóbora, que lá chama jerimum, e a pessoa já cozinha e come. Nasce coisa, tinha um matinho que nós chamávamos mato azedo, ele é azedinho. Aquilo eu comi muito na minha vida. A gente comia porque saía pra brincar e achava. Ele é azedinho. Se a ciência descobrir, vai vender muito, porque eu penso nisso, ele é azedinho, você come e se sustenta, bebe água... E ele foi vivendo do que achava. Quando começou a chuva, que ele foi comendo, ele sobreviveu assim, e começou a andar e já se sustentou! Acabou aquela fome, ele não foi mais morrer de fome, ele tinha o que comer. Ele tinha água pra beber, ele tinha mato pra comer, nasce frutinha, tinha uma bendita de uma frutinha que chama maria-pretinha, aqui em São Paulo eu já vi, é uma bolinha pretinha. Ela nasce das primeiras chuvas, e ele comia isso. Tudo que ele foi vendo, foi comendo e sobreviveu. Mas, andando sozinho, sem rumo, porque, quando as pessoas não tinham pra onde ir, iam para as matas, para as caatingas, porque lá era onde podia encontrar. Tinha uma descida onde era um rio ali, era mais fácil sugar alguma coisa. E ficava andando. Mas morreu um, morreu outro, morreu outro, e ele via. Quando morreram os irmãos, ele tinha dez anos, dez anos de vida nesse ano da seca. Em 1877, ele tinha dez anos, quando saíram de casa. E os outros, tudo pequenininho, isso significa que tinha dez irmãos. Porque era assim, se tinha dez, o outro tinha um ano e meses. E não tinha mais jeito, o pai dele já tinha morrido, não sei como, a história do pai dele eu já não sei. E, quando ele foi morrendo, sempre, como a gente diz, a corda quebra do lado mais fraco, os mais novos eram mais fracos e morriam, eram crianças e não sobreviviam. E ali onde morria um, ele juntava os matinhos e deixava ali. Sabia que enterrava, às vezes, cavava um buraquinho, punha ali e cobria e saía sem destino. Até que ficou ele e a mãe dele, a mãe dele com a fé de sobreviver. A mãe chorava muito, e era uma coisa que a gente sabe, eu sei. Quando morria uma criança, chamavam anjinho. Deus chamou e vai rogar por mim no outro mundo. Eu penso que essa minha tataravó pensou assim: “Deus, morreu e vai rogar pelos que vão ficar”. E foi ficando, foi morrendo, e onde morria eles deixavam e iam caminhar mais. Não podia ficar num lugar só porque sabia que não tinha recurso. Quem sabe, caminha mais um pouco, acha um pedaço de pau pra chupar, acha às vezes uma fruta seca, uma coisa que estragou. Já com três anos de seca, era coisa muito difícil. E eles chegaram só os dois, e ela estava muito fraquinha. Anoitecia, eles não iam andar mais, era escuro, era treva mesmo! De dia, tinha o sol, mas de noite tinha que parar ali. E foram dormir ele e a mãe dele. Quando amanheceu o dia, ele chamou a mãe dele, foi olhar, ela estava morta. Essa história eu ouvi ele contar. Porque, quando ele morreu, eu já tinha mais de dez anos, eu já sabia até ler, de muito Papai Velho contar essa história.
P/2 – Onde foi isso, Cleta?
R – Nessa mesma casa do Monte Alegre. Ele morreu pertinho da minha casa. Porque eu não contei o resto das outras casas lá. Lembra que eu falei que, quando voltei pra tirar foto lá daquela casa, que eu mostrei as fotos, já não tinham as casas? Já não tem nada dessas casas. Tem o pé de juazeiro que eu e meu avô ficamos... Bisavó, debaixo desse pé de juazeiro. Essa história da vida ainda existe. Já tem mais de 100 anos esse pé de juazeiro. Na casa do meu bisavô, tinha uma árvore que não existe, hoje lá é uma mansão, foi passando de donos pra donos, hoje lá é uma casa muito linda e tem na descida, que tem uma descidinha assim, tem um embarque de gado. Quem comprou é fazendeiro, negócio de leitaria, essas coisas. E tem embarcação de gado, onde eles põem os bois pra subir e entrar dentro de um carro, caminhão, e daí pra vender lá fora. Eu conheço isso daí, tem foto disso aí também. E tem, nessa casa, já acabou. Era uma casa de taipa, como eu falei, uma casa muito grande. A área da frente chamava alpendre, a casa era toda de barro. Tinha acho que uns dois quartos, cozinha, o quintal, que a gente chama terreiro, e no fundo tinha onde eu brincava com minhas primas e meus irmãos. Um pé de tatajuba. Eu tenho que saber o que é tatajuba, eu até já fiz um cursinho de negócio de jardinagem, mas eu vou descobrir. Existe essa árvore ainda lá, ficava nos fundos da casa. Como dá umas folhas bonitas, fazia sombra, nós, crianças, brincávamos, e o Papai Velho, a história de Papai Velho. Ele morreu, ela morreu, e ele saiu caminhando. E passavam os tempos, e começou a chuva. E ele ficou vivendo no mato, como qualquer bicho, mas ele ainda tinha esperança que ia ver gente. Os bichos também morrem quando não chove, morrem de fome e sede, mas ficam, sabe o que é lagartixa? Que ela tem um ovinho? Aquele ovinho seca, mas pela natureza mesmo nasce um bichinho dali. Lagartixa tem gente que até come, porque pela história tem gente que antigamente comia. Sabe o que é lagarto? É aquele bicho que parece camaleão. Lagartixa é dessa família, mas é pequenininho, é daquele jeito mais ou menos. E ele começava a achar bichinho, aqueles bichinhos mais grandinhos. E ele descobriu, ou já sabia por alguém, que bater uma pedra na outra saía fogo. E ele foi vendo folha e queimava. E dali ele tirou fogo e queimava e assava, sem sal nem nada, do jeito dele, mas pra não comer cru, ele descobriu, naquele tempo. Eu ouvi história, vi minha mãe fazer um saquinho com a tampa do vidro, e o cara pegava uma pedra, encostava ali, batia uma pedra na outra. Aí, tinha um negocinho de algodão e ali pegava fogo e dali fazia qualquer fogo. E o meu bisavô... Bisavô não, tataravô. Era bisavô de meu pai. E, quando uma bela noite, uma madrugada, ele viu uma luz. Luz pra nós era lamparina, lamparina tipo um fogareiro, pega um pavio... Já tinha planta, já tinha nascido algodão, talvez ele encontrou coisa de algodão, que é muito fácil de pegar fogo, porque do algodão que sai o pavio, sai a luz, essas coisas. E ele, andando de noite, já tinha mato, ele avistou um claro e onde tinha claro era sinal que havia gente morando ali. Porque, se não tinha, como saía fogo ali? E ele rumou uns dois ou três dias até se aproximar daquele lugar. Teve gente que talvez tenha escapado com cachorro, não sei se tinha, teve outra coisa assim. Escutaram um barulho, e ele caminhou, caminhou, até que percebeu que ali era uma casa, porque ficaram as casas no meio do lugar, onde havia residências, a casa não come, a casa ficou. Casa velha, ali tinha casa, ali tinha gente abrigada. Aí, numa noite, ele percebeu que tinha gente morando ali, mas ele já estava meio bicho, ele tinha medo de chegar lá e quererem matar ele, acharem que ele era índio, talvez – estou pressupondo isso. Aí, ele via que tinha tipo uma árvore ou quintal, uma cerca – tem cerca de faxina e cerca de lado, que chama cerca de vara. É uma cerca que você pode pular de um lado para o outro, pode subir nela, é uma cerca bem trançada que os homens faziam. E serve pra pendurar as coisas. E ele ia de dia, escondido, pra ver como era. E ia comendo os matos dele lá. E ele percebeu que, à noite, já tinha chovido, já tinha fruta, talvez tivesse melancia, jerimum, abóbora, que é jerimum. E a gente lá, não é como hoje, que semente de jerimum é dos ricos, que faz os petiscos deles! Só tirar aquela tripa, aquele meio, jogava fora pra ali cair e nascer outro tempo. Aí, cozinhava a abóbora, por sinal muito gostoso, principalmente quando é novo assim. E cozinhava e comia e ali punha no lixo. Aquele lixo servia pra quê? Pra ficar de lixo mesmo, por isso que nascem muitas coisas, e a gente nem sabe de onde veio. Aí, ele viu de dia que eles estavam pondo aquilo ali. Uma noite, ele foi, viu que a lamparina estava clara lá, e foi buscar lá, foi catar coisa pra ele comer. E tirou aquelas tripas gostosas, é adocicado, cru, mas é adocicado. A gente come semente de abóbora, é um alimento, tem muito óleo, faz até óleo de semente. E ele estava sustentando. Só que uma bela noite não deu certo. Ele subiu e caiu, se machucou e gemeu. E alguém da casa percebeu e correu atrás dele. E ele, machucado, com muito medo, saiu correndo machucado. E era noite, no meio do mato! E as pessoas conseguiram pegar ele, ele com muito medo das pessoas matarem ele. Quando pegou, ele falou: “Não, eu estava com fome, eu vi que tinha semente”. “Não, ninguém vai lhe fazer mal.” E aí ele contou a história. Foram três anos de seca, a gente pressupõe que no último ano que se acabou tudo e que não tinha mais jeito, porque se chovia todo ano, até os dois anos teve água, teve mato, algo pra comer. Como não tinha nada industrializado, o recurso era sair comendo no meio da mata e foi o caso dele. Aí, levaram ele e criaram ele, ele tinha dez anos, talvez já tinha 12, mas estava doentinho, estava com a perna quebrada. Eu conheci ele, não era bengala, era um pauzinho bem... E ele gemia, ele aprendeu a gemer a vida toda porque não foi feito tratamento nenhum. E talvez doesse e ele fazia assim “hum, hum”. Conheci muito Papai Velho, ele era um senhor branco. Eu ouvia falar que ele era descendente de italiano, porque meu pai tinha assim uma aparência, ele era forte, gordo e branco. E contava, não sabia ler. Ele contava história dos antigos, e essa história ele contava para os netos e bisnetos já grandinhos, contou pra muita gente. E eu ouvi contar essa história por muitas vezes. Aí, essa família criou ele e também, quando criava, que ficou moço, ele foi trabalhou e ficou gente. Virou gente, trabalhou, e esse povo, ficaram donos de propriedades. E tinha outro amigo dele, naquele tempo, eu não sei como escaparam aqueles que tinham melhor condição de vida. Porque talvez teve algum jeito, mas eu sei que ele parou lá e, quando ele ficou adulto, os amigos de quem criou ele, chamavam pai de criação, tinha outra família que tinha criado também uma menina que chamava Perpétua, que era minha tataravó. E fizeram o casamento dos dois. E esse lugar, onde ele parou, perto do Iguatu Ceará, é uma cidade que fica meio distante, mas é a cidade onde eu vivi, onde eu convivi, onde eu tenho parente morando lá. Mas era mato esse lugar, ficava próximo, mas era mato. E de lá ficava próximo de outro sítio, onde era sítio de fazendeiro de antigamente, chama Sítio Tipis. Essa Perpétua era de uma família de lá. Trouxeram ela, naquela época, amigos iam a cavalo muito longe na casa dos outros. Acabaram casando. Era mulher branca, que eu não conheci, tenho uma pequena lembrança, ela morou por lá, mas eu me lembro muito de Papai Velho e Mãe Perpétua. Eu vi, mas não tenho lembrança de história, sei que ela existiu. Chama Mãe Perpétua, porque meu pai chamava Papai Velho e Mãe Perpétua. Papai Velho era meu avô que se chamava Augustinho, e eles casaram e moraram lá. E, aí, Mãe Perpétua teve minha avó, que se chamava Mãe Teresa. Essa era mãe do meu pai. Não sei, sei que o pai dela era Papai Velho Augustinho e a mãe era Mãe Perpétua. Já minha avó não era uma mulher branca, não sei por quê. Eu lembro muito dela, cabelinho amarrado, o meu cabelo é encaracolado, é que vai ficando velha vai alisando, mas o cabelo dela não era muito liso. Parece que estou vendo, ela amarrava. Criou nós. As avós ajudavam a criar, vi muito Mãe Teresa, conheci muito Mãe Teresa. E essa Mãe Teresa, naquela época, há havia sem-vergonhice também. Mãe Teresa casou com meu avó José Tomé. José Tomé, eis a história que eu falei da Luiza Tomé. Era de um sítio meio distante de onde morava minha avó. Minha avó era moça bonita, descendente de galegos, de gente branca, alvos dos olhos azuis – tempo de racismo! Minha avó era branquinha, branquinha do cabelinho liso e preto. Chamavam ela “negra”, porque os outros eram tudo loiros. Família dos Leal, família branca, racismo, ninguém podia casar preto com branco. Mas foi passando de família. Minha mãe já era morena, as irmãs eram brancas. Tinham poucos morenos na família, tinha ela, tia Clemência, parece que as outras eram tudo brancas, e os tios, que uns eram claros, outros eram três irmãos, filho da minha avó, e minha mãe viveu por lá. E era moça bonita, acho que teve algum namorado, inclusive, minha mãe conta de um namorado que nunca esqueceu. Do tempo dessa carta, que ela morreu já falando besteira, mas não esquecia daquele cara. Não casou com ele, mas foi morar e nunca mais viu. Mas sabe aquela pessoa que, como eu, nunca esquece? Ela nunca esqueceu. Ela ficou velhinha já, que não servia mais pra nada, sempre falava daquele. Tinha uma voz muito linda, cantava valsa, gostava de dançar! E ela casou. Eu ouvi dizer que ela casou com meu pai porque ele era um rapaz bonito e trabalhador. Trabalhador era homem que ia pra roça, pegava na enxada e dava conta e fazia isso, suava e não tinha preguiça de trabalhar. Esse, os pais deixavam as filhas casarem, porque sabiam que ia sustentar a família. Porque finalmente minha mãe só teve dez filhos, mas tive uma tia que teve 21 filhos, outras, 14, 13. Minha tia teve 21 filhos e criou 11. As outras criaram seus 14 filhos. Tia Cristina criou 13. Minha mãe teve pouco, dez achavam até que era doente! (risos) Mas a história da minha mãe era que casou com esse cara pobre, que as mães queriam mais que casasse com quem tinha alguma propriedade. Mas ele era pobre, de família pobre. E essa aí de meu pai, porque de minha avó, minha avó teve três filhos com três homens já em 1900 e antigamente! Vê que meu pai nasceu em 1907, depois veio madrinha Odete, tia Jesus logo em seguida, e depois... Jesus era o nome da minha tia. Madrinha Odete, que era tia Odete, teve três filhos, mas um de cada pai. Dizia minha mãe que meu avô chamava José Tomé, de família mais ou menos branca, e meu pai era um moreno bem claro. Dizia que era italiano, aquele homem gordo, de cabelo liso. E meu pai tinha 13 anos... Deixa eu ver como é que foi. Não! Meu pai era pequenininho, era menininho pequeno, minha avó... Naquele tempo, já havia traição. O meu avô descobriu que ela estava traindo ele, mas era feio ser corno naquele tempo, ser traído. Quem não queria sumia no mundo pra ninguém ver mais, sei que contam muita história. Não conheci meu avô, conheci os irmãos dele, a família dele. Que, quando meu pai estava com um ano e pouco e ele descobriu que minha avó estava traindo ele, ele foi embora. E até hoje ninguém soube. E deixou ela pra criar aquele menino. Em seguida, ela arrumou outro homem, que teve outra filha. Não sei quem é mais nova ou mais velha, deixa eu ver. Eu acredito que foi tia Jesus. Esse homem, ouvi muito falar que chamava... Ah, não lembro o nome dele. Eu sei da outra minha tia, que chama Joaquim Clemente, agora, de tia Jesus eu não sei. Tia Jesus, esse marido, esse pai que ela arrumou pra essa menina, já era moreno, porque a família de tia Jesus eram só dois filhos e são pretos. Já teve aquela história mais diferente. Aí, meu pai ficou e em seguida essa tia Jesus nasceu. Depois, não sei o que aconteceu, o pai de tia Jesus foi embora, e minha avó arrumou outro marido, esse Joaquim Clemente, que teve tia Odete, a caçula. Meu pai ficou pequeno... Olha, como é fácil, meu pai morreu em 80, se meu pai morreu em 80 com 70, minha tia tinha 60 anos e meu pai com 70 e pouco. Ah, podia ter feito essa conta em casa, mas, mais ou menos, quando nasceu minha tia mais nova, o meu pai já estava com dez pra 12 anos, porque, quando esse outro marido que eu não sei como sumiu, eu não sei dessa história, mas podia ser curiosinha, talvez eu ainda saiba. Quando chegou essa história desse outro marido, meu pai tinha 13 anos e assumiu a paternidade. Minha avó com três filhos, ele com 13, uma com não sei quantos anos lá e outra pequenininha. E, talvez, não sei se ela quis trair ele, ele foi embora. Daí, ela virou gente e ficou com duas meninas e um menino pra criar. E meu pai, com 13 anos, assumiu a responsabilidade de pai. De trabalhar na roça, isso foi meu avô! É, isso foi meu avô, com 13 anos, assumiu a responsabilidade de casa. Ele ficou trabalhando na roça, pôs aquelas meninas pra trabalhar na roça mais ela, a mãe pra trabalhar na roça, viviam muito bem pra época. A gente comia feijão e milho, tinha pouco arroz, mas tinha de tudo um pouco. Chegava o inverno, tirava... Chamavam mantimentos de legumes. Tirava que dava pra guardar até o outro ano e começar a chover, era uma vida de paz. Melancia, feijão, tinha muita fruta que pegava sem plantar mesmo. Nascia um pé de manga ali, ou você plantava, de tudo tinha. E meu pai era muito trabalhador, desde criança, eu sei a história porque falavam. Só que lá se vem história. Eram três irmãos, meu pai, tia Jesus – o nome era Jesus mesmo, não sei por que puseram o nome de Jesus – e a outra era Odete. Tia Jesus ficou mocinha, mocinha nova, começou a namorar, acho que ainda menor. E tinha família lá de muitos rapazes, e meu pai criou elas. Tinha que respeitar muito, respeitar como pai! Essa tia Odete, até morrer, respeitou ele como pai. A filha de madrinha Odete, a primeira, essa que teve 14 filhos e criou, essa, pra pôr o nome da primeira filha, foi consultar com ele. Era assim, era coisa muito rigorosa. E tia Jesus era mais velha, madrinha Odete ainda era menina, ficou mocinha e começou a namorar com esse cara. Era uma família de muitos irmãos, família dos Paulinos. Era negra, era família não de negro, parecia índio, mas era assim, chamavam “negros dos Paulino”, rapazes trabalhadores, moço que trabalhava na roça. Começou a namorar com tia Jesus, meu pai deixou, concordou, deixou porque era um rapaz trabalhador, pode namorar pra casar. Só que a bendita engravidou, aquilo foi a maior vergonha da família, apesar de que a avó já era assim. Tia Jesus engravidou, naquele tempo, ou casava ou matava ou ia preso. Tinha essas três opções. Se a família fosse bem ruim, matava, porque engravidou tinha que matar. Se não fosse, meu pai já era mais bonzinho, chamava casar na marra. Eu vi muito essa história de ficar preso! E tinha até uma piada assim: “É tão bom ficar preso pra casar com quem a gente gosta”, porque, se dissesse que não casava, ia preso. Quando cansasse de ficar preso, voltava e casava. A opção era essa. Engravidou, casou. Meu pai fez eles casarem na marra, esses casamentos que não casavam civil. De três em três meses, ou quatro meses, tinha uma missa pertinho lá, nesse lugar que eu amo de coração, Isidoro. É a minha vida, minha história. Eu nasci no Monte Alegre junto com Isidoro, Isidoro é onde todo mundo é meu irmão lá. Aí, teve a missa, marcou o casamento, foram lá e casou. Casou já grávida, teve o filho, o Zé, mas logo em seguida engravidou, porque a regra era essa. Com dez meses ou 11, já tinha outro filho, engravidou. E Ciço Paulino bebia muito, o marido da minha tia. E começou a judiar com ela e xingar e brigar e batia nela e não sei o quê. E desconcordaram e tiveram que separar. Naqueles tempos, separar, mulher separada era uma vergonha pra família e tinha que ficar escondido. Tinha que ter muito cuidado com isso, ainda mais com dois filhos e uma menina! Ciço Paulino se separou e não teve jeito, não aguentou mais. E ele estava lá batendo nela, punha pra trabalhar, ele bebia, não era que ele era muito ruim, quando bebia, ele era alcoólatra. Meu pai também foi alcoólatra. Mas a família falou: “Já que se apartar...”. E se apartaram, e foi viver um para um lado e outro para o outro. E ele não assumiu mais a paternidade, não tinha como. Só podia assumir paternidade morando junto, que os dois iam trabalhar junto. E ele ficou, ficou rapaz, um rapaz por sinal... Conheci muito esses Paulinos, mas eles nem se falavam. A família ficou de mal. Onde chegavam, eles não podiam se ver. E a menina ficou com dez anos, e o menino com 12, nós crescemos juntas. Marieta, esqueci a foto, essa era importante. Ela tinha dez anos, eu tenho foto dela com dez anos, e é uma história interessante. Tia Jesus ficou trabalhando na roça mais aquelas duas crianças, pra plantar milho e arroz. E meu pai ajudava pra poder comer e não passar fome. Plantava-se algodão. No fim do ano, quem plantava algodão, pagava as pessoas pra colher o algodão. E, com aquele dinheirinho, mandava uma pessoa na cidade comprar pano pra fazer uma roupinha pra cada um, que ninguém... Quem tinha três vestidos era rico! Era vestido ou saia. E os homens, calça e camisa. Menino até 12 anos usava o que chama short, chamava calça curta, porque o dinheiro não dava pra fazer calça comprida. Era muito calor, então, camisa de manga curta, e eram duas ou três roupas que tinha, no máximo. E tia Jesus tinha essa família de história de nome de Elefante, depois eu vou falar que meu pai tem nome de Elefante. É uma família dos Tessina, quando eu falei do exército, foi esse Neneu que pôs o nome de Elefante, que ajudou para meu irmão ir para o exército. E, como eles já eram pessoas mais ricas, considerado rico, o genro dessa Tessina quem criou meu pai, ajudou criar. Minha avó foi muito ajudada por essa família Tessina. Dona Tessina, que era melhor de vida, tinha sítio, tinha isso e tinha aquilo. E ela lavava roupa, cuidava da casa deles como escrava, para criar os filhos. Por isso que ela conseguiu criar os três filhos. Por isso que meu pai ficou um rapaz bom, porque foi criado por pessoas que tinham mais educação e tinha uma segurança, tinha um suporte, se precisar, eles ajudam. Mas tia Jesus, que era ajudada pelos Tessina, que tinha casa na cidade, o genro dessa Tessina era ourives, mexia com ouro. Naquele tempo, existia isso em cidade, em lugar pequeno. Tinha casa na cidade, falou: “Jesus, invés de se matar aqui, vai morar na rua!”. Ninguém chamava cidade, quando era Afonso Pena: “Vai morar na Afonso Pena, que lá você consegue trabalhar, mulher lá pode pagar pra lavar roupa, pra limpar casa e você cria seus filhos melhor que aqui, aqui é muito sofrimento pra você”. Ela tomou o conselho e foi. Arrumaram umas conhecidas lá, e ela foi. Arrumou uma casinha de taipa bem pequenininha, a cidade era bem pequenininha, poucos habitantes. Cidade rural, e tinha aquelas casinhas que ficavam encostadas da rua, e gente bem pobrezinha de casinha de taipa, com dois cômodos. E ela foi morar lá, não paga aluguel nem nada. A pessoa dava, doava aquele lugar pra ela morar lá. “Vai morar lá que eu te ajudo.” E dali ela foi lavar roupa pra mulher, passar roupa, naquele tempo ferro na brasa. Para o médico, para o advogado, se existisse, todo mundo, a passadeira era ferro na brasa. Não tinha nada de eletricidade, não. Aí, arrumaram pra tia Jesus trabalhar num... Chamava café, era um restaurantezinho, numa esquinazinha lá, onde o povo vinha do sítio, almoçava. E ela, muito habilidosa, a mãe ensinou a cozinhar, cozinhava galinha do nosso jeito, que é muito gostosa. Cheguei lá e foi a maior felicidade quando ela fez uma tapioca com pedacinho de galinha, feito por ela. Pediu à patroa lá se podia dar aquele lanche. O lanche não era quase pão, não tinha pão, era tapioca. E tia Jesus foi morar ali, só que, na cidade, tinha um médico, dois médicos, o juiz, Doutor Cândido, a polícia militar, alguma coisinha pouca assim. Quando o juiz soube que tinha uma mulher separada de marido, criando uma filha na cidade com dez anos, é regra da casa, é lei da cidade, tomou a menina da mulher. Aquilo foi muito doído pra tia Jesus. Criou até dez anos. Eu podia ainda ter trazido a foto de Marieta, acho que tenho em casa. Marieta, uma menina bonita, parecida assim comigo, eu acho que tenho ela aqui no zap, se não estivesse carregando, eu mostro pra vocês. Ela está velha agora, ela com a mesma idade minha, ela nasceu em fevereiro, no dia 17, e eu, em abril no dia 26. Nós criamos de engatinhar no chão junto pra separar, pra ir pra cidade. Ah, como foi triste! Foi pra lá, tia Jesus dava um jeitinho no fim de semana, que não tinha trabalho. Ia “de pés” lá pra nós brincar, pra ela contar como era a vida na cidade. Nós aprendemos a ler por lá, com as tias. Eu fui pra escola primeira vez com dez anos, mas Marieta acho que aprendeu umas com as outras e sabia escrever alguma coisa. E, quando Doutor Cândido, que era o juiz da cidade, descobriu, ficou sabendo que tia Jesus, a minha tia, tinha uma filha de dez anos pra ela criar numa cidade, imagina! Essa menina vai ficar com ela, vai ficar perdida! As leis da cidade tomaram essa menina e doaram pra Doutor Tibúrcio, que era o doutor da cidade, o médico da cidade, apesar de ser alcoólatra, mas era o médico conhecido da cidade. A mulher dele, mulher, muito autoridade, Dona Murinha, a mulher rica da cidade, mandava na cidade. Tomou mesmo, não teve lei. Meu pai tinha que ir lá, mas o que meu pai podia falar? Tomou! Ninguém tinha isso na família, só nesses interiores, acho que nem sabe. Já tinha descendência de saber que a minha tia era filha de mãe solteira também e ela aprontou, como chamava naquele tempo, teve filho antes de casar. Tudo ia ser pra perder aquela menina na vida. A menina bonita, a menina morena, do mesmo jeito de mim. Brincava, já tinha começado a saber ler. Se fosse, ia se perder, morando naquele lugar que seria hoje favela. O certo mesmo seria favela onde ela morava. Aí, tomaram a menina, teve que registrar a menina e tomaram, foi morar mais o Doutor Tibúrcio. E a gente, e eu, com 11 anos, comecei a ir na cidade. Ela ia me ver, mas, quando eu ia pra cidade, quando eu fui pra cidade a primeira vez que eu me lembro, foi em 1949, eu estava com 11 anos, sou de 38.
P/1 – Mas, Cleta, eu queria voltar um pouquinho, desculpe interromper. Por que seu pai tinha apelido de Elefante?
R – Ah, é essa! Tá bem juntinho. Família Tessina, que era quem ajudava minha família. Por isso que meu avô deixou casar, porque era um rapaz trabalhador, ligado a quem tinha propriedade. Quem tinha propriedade só morava com eles, só era trabalhador deles quem fosse pessoa que enfrentasse a vida da roça pra ajudar. Quando meu pai era pequenininho, menino de seis, oito anos, e Neneu, filho dessa Tessina, que criou meu pai. Neneu e meu pai eram irmãos de criação. Neneu Tessina, porque filho da Tessina. Morava no sítio, na Boa Vista, juntinho do Monte Alegre, dá pra gritar e chamar. Aquele lugar era a Boa Vista dos Tessina, dos Macedo, Macedo era o ourives. À noite, eles iam brincar, meu pai, Neneu tinha a mesma idade, que se considerava irmão, e talvez dessa família Paulino, que morava também pertinho, do outro lado do riacho. E à noite os compadres se juntavam no claro da lua, na noite de lua cheia, ficava aquele claro da lua, sentava no terreiro, não é macumba, não! A frente da casa chama terreiro. Sentavam, os compadres iam conversar e os meninos. Criança não tinha muita liberdade, tinha um reservado assim no terreiro pra eles. Ficavam sempre em frente à casa das pessoas, pegavam cadeira, se não tivesse cadeira, punha uns banquinhos, e os meninos ficavam brincando ali e os pais olhando se não estavam fazendo muita arte. E o meu pai era o mais gordo, fortão, e derrubava todos os outros meninos. Pega brincadeira de correr um atrás do outro, pega pra derrubar, meu pai sempre foi vencedor. Esse Neneu: “Mas, também, ele é um elefante, tem o peso de um elefante, ele cai por cima da gente!”. Eis a razão, meu pai se criou sendo Chico Elefante. Viveu a vida toda, quando os amigos, na década de 40, vieram embora para o interior de São Paulo, quem mandava carta, chegava copiado: Chico, vulgo Elefante. Tinha que ter o Elefante. Hoje em dia, a minha família é dos Elefante. Meu irmão tinha uma bronca, porque é família Braga, família Moreira, e nós, por que ficou sendo Elefante? Mas Elefante é uma família famosa. Eis a razão dos contadores de luz, os responsáveis lá daquele setor: “Qual é o seu setor?”. O setor onde tem aquela telha, aquela casa, é a ladeira de Elefante, por sinal tem uma ladeirinha. É a casa onde eu nasci e me criei, porque, quando casaram, foram morar nessa casinha. E depois em seguida meu pai fez aquela casa em terreno dos outros, mas naquele tempo era liberado. Ele era um rapaz trabalhador, e a casa é no pé de uma ladeira, a ladeira de Elefante. Eis o nome de Elefante e por toda vida vai ser. Teve um velório, nós temos jazigo na Quarta Parada, em São Paulo, meus amigos, meus primos, meus colegas de infância, primos daquele Evaldo lá, Isidoro – Isidoro é o doce da minha vida, Isidoro é uma parte da minha vida. Não é a toa que eu peguei um avião e fui a uma festa de conterrâneo lá. Tenho a camiseta e o canequinho. Buscamos coisa de antigamente lá, convidaram, mandaram convite e eu fui nessa festa de conterrâneo. E eis a história, porque, quando sepultaram lá, e agora vamos, foi num jazigo perto do nosso: “Vamos no jazigo da família de Elefante”. Família Gomes de Lima na telha, meu irmão foi, é jazigo Família Gomes de Lima, quando chegou lá que Waldemar falou: “Mas quem é Francisco Tomé Gomes?”. “Chico Elefante!” “Eu nunca imaginei que o nome de Elefante fosse Francisco Tomé Gomes.” (risos) O pessoal chama de Chico Elefante e acabou. A história é essa.
P/1 – Você estava falando de Isidoro, Cleta. Fala um pouco como era a região quando você era criança, como era lá no Monte Alegre, o Isidoro? O que você gostava de brincar? Como foi a infância lá?
R – Isso era bom demais, meu filho! Porque eu comecei a brincar de boneca de sabugo com três anos e meio a quatro. Tinha minha casa, a primeira casa do Monte Alegre era a nossa. Tinha o Monte Alegre de baixo e de cima, o de cima era dos ricos. De quem tem gado, que tem vaca. O de baixo era o nosso, de gente pobrezinha, que a nossa casa era na propriedade dos outros. Como o dono da casa, porque deixaram construir e era de muita confiança. Era de uma família de Antônio Severino, a propriedade grande, que ele deu lugar pra fazer a casa e meu pai, casado de novo, rapaz trabalhador, fez casa e lá eu morei. Nasci lá e morei até quando me casei, ou melhor, entre aspas, sai de lá para o casamento. Mas nossa vida de criança, eu costumo falar que era feliz e não sabia. Três a quatro anos, eu sempre fui curiosa, eu sempre gostei de ouvir os outros conversar, e era proibido criança. “Vai pra lá, sai de perto!” Aquele pé de juazeiro é a história da minha vida. Esse pé de juazeiro ainda tem ele lá, sabe o que é pilão? Pilão é um tronco que cava um buraco lá. E lá tinha um pilão, onde a gente pilava. Nós não tinha, tudo era pra vir da roça e cozinhar na lenha. O primeiro fogão, como eu comi minha primeira alimentação, não era fogão. Chamava trempe, três pedras triangulares, com a panela de barro em cima, feito na “loiceira”, que fazia... Tem até uma piada assim: “Prato de barro não se quebra”, porque o que quebrava era o prato de louça dos ricos. De barro durava muito tempo, porque era bem feito. Minha primeira alimentação. Olha que conversa bonita, o começo da minha história. Minha primeira papinha não era como hoje da Nestlé, não. Fazia papa de goma, goma é o polvilho, que também as mulheres raspavam, e era feito perto de casa. A minha primeira papa de goma foi feita numa trempe. O fogão eram três trempes, pegava a panela e punha em cima, ou o papeiro, o papeiro era feito de barro também. Era de um jeitinho que parecia uma tigela, era uma coisa que, quando a mulher ia ganhar nenê, já mandava fazer um papeiro pra não fazer junto com as comidas dos outros. Essa foi minha primeira alimentação. O chá era numa chaleira, a chaleira também era feita de barro, não era da Penedo e nem Tefal, não! Tudo era à base de barro. E, lá, a água era no pote, o que é o pote? É uma vasilha, uma vasilha bem grande, um pote, parecido com o que a gente chama hoje de pote de alguma coisa, um frasco grande, mas que ele é grandão, cabe bastante litro d’água. Tinha o pote da cozinha e o pote da sala, o que significa? O pote da cozinha era água pra cozinhar, na sala, numa cantareira, num negócio que chama cantareira, primeiro forquilha. Na minha época, nascer era uma forquilha. Forquilha significa um pau de gancho que se achava no meio do mato assim, ele ficava em três. Furava no chão e punha o pote lá. Quando as pessoas iam melhorando de vida, fazia a cantareira, cantareira, umas de um pote e outras de dois potes, já era mais decente. Foi quando o homem passou pra dar o nome de Joatã, o pote já tava na cantareira, porque era assim, era um pote só pra começo de vida, era um pote pegado na mata. A natureza já fazia, ia no meio da mata, e pegava e colocava o pote lá e enchia de água. Pra encher aquele pote de água, já tinha higiene. Sempre a gente tinha pouca coisa, mas já tinha um paninho de saco, de alguma coisa, pra, quando despejasse a água no pote, já entra coada lá, era o filtro nosso. Em cima do pote, cuia. Sabe o que é cuia? Punha uma cuia em cima, porque prato, pra pôr lá, era muita coisa. Então, punha uma cuia lá e cobria. Aí, foi minha primeira alimentação, foi feita em trempe, vasilha de barro. E eu fui ver, fui crescendo, engordei. A minha história de vida. Ah! Tá vendo que eu sou caolha? Esse olho aqui, olha pra mim, esse olho é diferente desse. Esse olho eu enxergo nele, mas tenho uma lesão nesse olho. Eu não consigo abrir ele igual a esse, eu até enxergo, mas não consigo. Pode perceber, ele não levanta. E ele, se eu olhar bem, se ficar olhando bem, a pessoa diz: “Você tá olhando pra alguém? Tá olhando pra mim?”. Lá, chamavam “zanoia”, acho que a pronúncia é caolho, alguma coisa assim. Mas eu era “zanoia”, palavra que eles arrumam lá. Sabe por quê? Porque olha só como começou a minha vida, quando eu tinha... Vê que, no dia que meu irmão Joatã nasceu, eu fiz um ano e três meses. Significa que, quando ele nasceu, o outro, anterior, quando eu nasci, ele não tinha um ano e três meses ainda, não. Era assim. O Joatã demorou, mas o meu irmão antes de mim, eu sou a terceira filha, ele fez... Ele nasceu no dia 14 de janeiro e em abril eu tinha um ano e três meses. Era um atrás do outro, eram três filhos. Minha mãe estava grávida do terceiro, e eu estava no colo. E o outro andando pouco e já tinha a mais velha, já era o quarto filho. Eu era o terceiro filho e já estava no quarto filho quando eu tinha meses. Pulando das comidas, que eu já falei, quando as crianças tinham quatro meses, que a mãe já estava grávida, às vezes nem precisava tanto tempo. Acabava a gravidez e no outro mês já estava grávida. Era quarentena, mas não chegava a isso não! (risos) Não tinha outra coisa pra fazer na vida também. Aí, lá se vai o tripé outra vez. As mães, pra cuidar do que tava atrás e o próximo e fazer feijão, pilando tudo, pilando no milho, não tinha moinho pra moer, não. Era tudo à base de muito trabalho, debulhar o feijão, debulhar o milho, era muita coisa pra fazer e dar conta, só por Deus. E ela não ia dar conta mesmo, aquela criança que já estava com quatro meses, já estava se aproximando, já punha, já estava durinho, pegava no colo: “Esse já tá durinho”. Fazia uma rodeira. O que é uma rodeira? Lembro muito disso, eita. Ajudei muito meus irmãos. Pega um tripé, vai no mato, pega uma lenha – era cozinhado com lenha as comidas. Assopra, pega um pau melhor, corta no machado, foice, facão, o que tiver. Enfia em sentido tripé, assim, mais ou menos, um tripé, três pontinhos. Amarra um pano velho, que as roupas eram muito pouco, mas sempre ia juntando de tempo uma tira de pano, ou então fiar. Eu fiei muito na minha vida, fazer o algodão, pegar o fio e fazer a linha e dava um jeito de fazer um cordão. A gente fabricava em casa mesmo e pegava um pedaço de calça velha, que não servisse mais e arrodeava aquela rodeira. Ficava a posição onde a criança se sentasse. Amarrava como se fosse isso aqui, desse jeito aí! Punha três desses, só que era reto, não era fazendo cume. Ficavam os três retos e amarrava os panos lá e chamava de rodeira. “Ah, vamos fazer uma rodeira hoje pra fulana!” “Vou ajudar fulana a fazer, que o menino já tá em tempo de rodeira.” Colocava ali pra poder ficar sossegada pra cuidar dos outros. Quando a criança era danada de chorãozinho, era um trabalho. “Ah, vai lá, põe a chupeta.” Quem não podia... Muitas crianças do Nordeste chupam dedo, porque não podia comprar chupeta. Chupa dedo. Meu irmão chupou, que ficou até doente de chupar o dedo. E minha mãe me pôs lá na rodeira, fez a rodeirinha dela. Era furado no chão fundo, pra criança não cair. O chão era de terra! E não tinha fralda, não, era cueiro. Sabe o que era cueiro? Pega uns retalhinhos de quem era costureira e fazia uns quatro paninhos, que não tinha muito, emendado na mão. Ou quem tivesse máquina, e os homens, com muito sacrifício, tirava... As amigas... A razão de existir fralda é que, naquela época, pegava pedaço velho de camisa, emendava e chamava fralda. Fralda era o pano, cueiro era uma coisa, fralda era outra. Amarrava como se amarra uma fralda, eram aquelas que tinham três cantos. E ali amarrava e quando fazia aquele negócio da rodeira, o chão era puro lá. Por quê? Aquilo lá amarrava de um jeito por baixo que ficava tipo... Como se fosse isso aqui, as tiras, corda. Podia fazer com corda também, podia amarrar com corda, porque tinha um mato que chamava malva que tirava aquele mato, punha de molho – eu ajudei a fazer aquilo ali – fazia corda com aquilo ali, umas cordinhas macias. E fazia um jeito que a criança sentava e ficava sentada e não ia bater no chão, porque tinha que fazer xixi e, se fizesse com a bunda no chão, ficava tudo melecado! Era pra água correr no chão e o cheiro ia pra dentro de casa, mas ninguém se importava com isso, não! Quando fizesse cocô, lá no fim da tarde, aí trocava, mas por enquanto ficava ali. A criancinha ficava no tripé e, como tinha lugar pra ela pôr o braço, ela já ia acostumando a pôr o braço aqui. Esse da frente ficava entre a perna e não saía do lugar, porque era enfiado no chão. E, aí, até quando ela ficasse com seis meses, que ia ficando de pé ali mesmo, pra ensinar a engatinhar. Tirava dali quando visse que estava mais durinho, tentava e já punha pra engatinhar. Engatinhar todo mundo sabe o que é, é sair se arrastando. Essa história foi assim da minha vida. Só que tinha uns irmãos meus, que, inclusive, a parteira deles, que foi outra pessoa, foi a Felícia, diz que ele era muito chorão. Fui passear lá esses tempos, e a filha dela: “Ah, conta a história que minha mãe contava?”. E eu, sempre diz que foi quietinha, nem parece que falo tanto agora!
P/1 – (risos)
R – O meu pai falava que eu era mais boazinha. Quando acabava de comer, a gente comia bem muito: “Eu quero mais, o meu foi pouco!”. E o meu, se tivesse, sobrasse da comida, eu pedia. Se não sobrasse, frase do meu pai: “Pai, eu já comi, estou com a barriga cheia”. “Minha filha, dê graças a Deus”, ele falava isso. Mas eu fiquei lá na minha rodeira, e minha mãe cuida do que tá na barriga, lava roupa, pilava. Era um sofrimento que meu Deus do céu! E o outro que chorava atrás, que era o Adeneto, o mais velho. A outra, já com três anos, já estava ajudando. Com três anos, já ajuda a olhar esse, já ajuda a balançar. Punha na rede e ia balançar um pouquinho, todo mundo já era útil naquele tempo. Diz minha mãe, ouvi muito essa história, que ela esquecia de mim, de cuidar dos outros, esquecia. A mãe só dava comida quando chorava, era sinal que estava com fome. Se chorou, estava com fome, dava. Mamar no peito não era muito, o outro já estava perto de nascer e já cortava a mama. E ela ia cuidar quando passava as horas, já de tarde: “Ah, eu não fui dar comida pra Cleta, não fui dar comida pra menina”. E era assim, estava no quintal, estava por ali. Quando ela chegava lá, eu estava dormindo. Isso aqui é psoríase, é minha companheira, doença que a ciência diz que não tem cura. Quem sabe? Pra Deus pode ter, se não tiver, eu acho tão bonito psoríase. Quando perguntam, eu conto a história, vejo na internet, tem muito isso aí. Eu me trato na Vila Mariana, não tem médico que descobriu o que é. Lá onde me trato tem médico, tem advogado, tem tudo, mas ninguém sabe o que é isso. Tem tratamento, custa oito mil e 500 reais duas ampolas, que eu já passei um ano tomando. Mas, como sou velha, se eu tomasse, morria do coração. Prefiro ficar viva! Mas é assim, diz que é hereditário, a ciência não descobriu, acham que é hereditário. E pelo jeito é, eu lembro, quando era menina, já tinha. Conclusão: psoríase. Talvez nesse lugar aqui, mais ou menos nesse braço, minha mãe falou que eu caí assim e que mordia o braço e fazia assim no ombro. E o povo ficava: “Tira esse cesto dessa menina!” – chamava cesto – “Senão, ela vai ficar cega”. “Ah, mas quando eu volto ela tá desse jeito.” Aí, quando deram fé: “Não falei? A menina já tá com esse olho diferente! Tá ficando vermelho já, não sei o quê!”. E o braço, diz minha mãe, virou um tumor, um tumor e uma cicatriz, de tanto morder. É claro que ia ficar alguma coisa, ia puxar isso aí. E diz que formou aquele caroço, aquele tumor, aquela ferida. Aí, teve que fazer uma promessa, não tinha médico, não ia no médico. O médico era Mané Miguel, que morava perto de meu Deus do céu. Era um farmacêutico, por conta dele mesmo. Os médicos se faziam por si próprios e não tinha remédio. Aí, começaram a fazer promessa e lá se vai Nossa Senhora (risos), São Francisco das Chagas. Sei que ela fez uma promessa, se eu melhorasse e aquele braço sarasse, não sei como ela falou a promessa, mas ainda tinha assim. Faz a promessa e eu carrego a cruz. Eu carreguei a cruz. Ela fez a promessa e valeu a promessa. Eu parei de mexer no olho e o braço melhorou. Quando eu fiz a promessa, eu fui melhorando, ela foi pondo emplasto, passando folha, mentruz, não sei o quê, amarrava com pano e, quando foi, sarou. E sarou e ela puxou meu rosto para o outro lado e eu não mordi mais o braço. E eu fui crescendo, e o pessoal foi notando que eu era assim. A razão de ser caolha, uma das coisas de antes de saber o que era o mundo na vida. Eu digo que lembro das coisas de três anos, mas essa eu não lembro, mas lembro da história, foi uma delas. Três anos pra lá, vamos pular, se não não vai se acabar mais nunca! Aí, eu nasci em 38, tenho um irmão que nasceu em 41, outro que nasceu em 39, é claro que tenho um que nasceu em 40, porque, se o Gomes nasceu em julho de 39, em 40 o Lima deve ter nascido, porque em novembro de 41 nasceu o Valfrido, nesse meio tempo, não sei em qual mês, porque também sumiram. O bendito do meu marido jogou fora, que tinha o registro desse menino! Registro não, a data que ele nasceu, nesse livrinho. E minha mãe, quando esclerosou, não lembrava mais. E eu nem sei quem foram os padrinhos dele pra saber, mas esse menino diz que era um menino muito bonito, branco, gordo. Criança engordava à toa. Pilava milho, dava fubá e milho, engorda. E as crianças ficavam gordas, diz que era um menino muito bonito. Era branquinho, tinha os morenos, e ele era branquinho. Olha como me lembro de besteira! Aí, com dez meses, ele morreu, nove meses mais ou menos. Era normal. Dava... Como é essa doença que tá dando? Ela tá dando mais, já tem cura... Desidratação! De ficar desidratado. Não tinha recurso, fazia um chá, e as mães já diziam: “Vai morrer!”. Às vezes, com dois dias, afundava os “zoio” e morria, porque não ia no médico. Aquilo dava infecção intestinal, você sabe que mata mesmo, e ele foi um desses. Morreu ainda gordo, muito bonito. Aí, vem a madrinha. As mocinhas... As mães achavam bom porque ia um anjo para o céu para rogar por elas. E os rapazes e moças achavam bom porque tinha sentinela. Sentinela era um velório, pra ficar ali em volta, contando piada, fazendo besteira, brincando. E a gente gostava de ir porque namorava. Não saía de casa, era um jeito... Tinha que enterrar no outro dia. Às vezes, não ia no cemitério, não. Tinha uma casa que fazia um quintal e tem muitos enterrados lá. Chamava Os Anjos, lugar dos anjos, sem registro e sem nada. Chegava lá, morreu, põe numa caixa, põe nas coisas, na valinha, e pronto. E tava todo mundo. Veio a madrinha do meu irmão mais velho, que era uma moça nova, bonita, e essa minha tia Odete era moça solteira ainda. Estavam as mocinhas de 14 anos, tudo junto pra namorar, pra arrumar namorado. Enquanto as comadres estavam tristes, contando história da vida, os moleques pequenos iam brincar, e eu ali pelo meio. Minha tia Odete aprendeu a ler porque meu pai sempre, os filhos dele tinham que estudar. Tia Jesus não aprendeu a ler, ele aprendeu a ler. Estudou 15 dias, sabia ler, escrever e as três operações de contas. Estudou só 15 dias e lia muito bem. Tinha leitura, não sabia nada de ortografia. E madrinha Odete aprendeu a ler. E madrinha Odete era muito arrogante, só ela queria saber mais do que os outros. E sabia as palavras. Ela viu uma palavra, e ela deduzia que aquela palavra servia pra acompanhar outra. E só ela que sabia fazer. Aí, essa minha prima, aquela menina da foto, Maria Luiza, é a mãe Maria Luiza, estava lá, muito bonita. E ela estava com alergia no braço, uma coisa vermelha que apareceu lá, e a gente não chamava alergia. Alergia eu vim saber depois que estudei muito. Chamava brotoeja, não sei por quê. Porque eu me lembro que a gente chamava brotoeja lá, vou procurar ainda. Eu lembro das coisas conforme acontece. A partir de hoje, eu vou saber o que é brotoeja. Eu não sei por que eles inventaram essa palavra pra lá. Aí, estava lá e chega um rapaz por lá, alguém que queria namorar. Onde tinha uma moça, os moços, para o povo não ver muito, já ficavam de olho ali, se aproximar, pelo menos uma olhada tinha que dar. E alguém perguntou pra Marianana, pra minha prima: “Nossa, você caiu, se machucou?”. E a outra minha tia já de olho porque queria pra ela e tinha que fazer alguma coisa pra fazer birra. Aí, perguntou: “Você caiu, se machucou, foi uma queda?”. Ela falou: “Não, é ‘bertoeja’” – porque a minha prima não sabia ler, e madrinha Odete já sabia alguma palavra. Quando Marianana, ela já querendo o outro, falou: “Não, isso aqui é ‘bertoeja’”, ela, pra se mostrar, falou: “Não é ‘bertoeja’, é brotoeja”. Eu também não sei qual o nome certo até hoje. Eu só sei que aquilo foi uma vergonha, decepcionou a outra. Ela ficou com vergonha na frente do rapaz e do povo. Pra ela era um tapa na cara, e eu tinha três anos e meio, porque, se meu irmão nasceu em 40, pelo meio de 40, ele morreu antes de uns sete, oito meses. Eu, que nasci em 38, estava com três anos e alguma coisa, isso. Jota nasceu... Valfrido... Não! Isso já foi em 41, porque, se ele tinha dez meses e Valfrido nasceu em 41, eu talvez tivesse três anos, três anos e mais, mas eu lembro dessa palavra. Não tanto pela palavra, mas pelo comentário, que fofoca naquele tempo chamava fuxico. Mas ali no outro dia era uma vergonha. Falou pra comadre, falou pra filha de fulano: “Viu o que ela falou no meio do povo?”. (risos) Isso aí eu lembro, tinha três anos e pouco.
P/1 – Cleta, eu ia perguntar...
R – Você vai morrer perguntando! (risos)
P/1 – Você falou que aprendeu a ler antes da escola, como você aprendeu a ler?
R – Ah, agora é a historinha. O meu pai e minha mãe, minha mãe, como eu te falei, ela aprendeu a ler escondida num quarto com um pedaço de carvão. Pegava lá da panela, quando queima o carvão, um papel... Sabe um papel marrom que chama papel sulfite, hoje? Papel de embrulho, que alguém podia conseguir, não era muito, mas tinha sempre. E ela queria aprender a ler. Justo essa mana Emília, que tudo ela sabia, alguma colega sabia ler. Minha avó não podia nem imaginar que ela queria aprender a ler, porque era Deus o livre. Ela se encontrava com as colegas, com as manas, as primas, que também tinha a história de São João. “Se é minha prima que São João mandou!” Aí, chamava prima, comadre, não era lá da igreja, era da fogueira de São João, tinha isso. Tinha aquelas ideias de jogar pra arrumar namorado porque ia casar, mas ela e mana Emília tinham vontade de aprender a ler, mas minha avó não deixava. Aí, tiveram essa ideia: ela pegar um carvão e conversar com Emília, escondido, quando a mãe fosse pra roça ou quando a mãe saísse de casa. Quando o gato sai, o rato faz a festa! Quando a mãe saía, as colegas, algumas que tinham confiança, ficavam na curiosidade pra falar de rapaz. “Olha, como é que a gente lê?” “Ah, a letra é essa...” Aí, minha mãe escrevia num papel o nome das letras. Vi muito minha mãe falar isso. Quando minha avó não estava em casa, ou que tinha folguinha, ela entrava pra dentro do quarto, fechava a porta, isso no escuro. Quarto não tinha vitrô e nem nada. Às vezes, tinha uma janelinha pra clarear, mas não podia ser uma coisa pública. Ela fechava a porta, pra que, se batesse, desse tempo de esconder. Se a avó ou a mãe chegasse: “O que você tá fazendo aí?” – que tinha muito isso, saber o que você tá fazendo, saber o que você tá conversando. Foi coisa de antigamente. Duas moças conversando, a mãe tinha que saber qual era o assunto. E minha mãe se escondia lá. Levava um pedacinho de carvão, às vezes, uma tábua, um pedacinho de tábua, alguma coisa, e um papelzinho e se sentava no chão! Cadeira nada. Sentava no chão e falava: “Emília, fulana, mana Emília, prima não sei o quê, falou que ngela...” – tinha uma amiga que se chamava ngela, mas, como não sabia ler, morreu chamando ngela. Porque era ngela, mas não sabia que tinha acento. Aí, ela falava: “ ngela falou que o nome dessa letra que faz assim é um ‘a’, essa...”. E assim ela conheceu todas as letras. Vem a segunda etapa. Se ela sabe que o “b” com o “a”, pula pra cá e fica “ba”. E assim ela foi aprendendo e assim minha mãe aprendeu a ler e escrever. Eu tenho a caligrafia dela ainda em algum canto. Eu tenho a carteirinha dela. É que isso aqui foi muito de surpresa, eu não via a hora que me chamassem aqui, estou ficando velha, tenho que fazer as coisas logo. Ficando não, já fiquei, mas as outras coisas, o espírito não tá tanto assim, não. Aí, eu não busquei umas coisas mais precisas, eu ia no meu irmão pegar. Minha mãe aprendeu a ler e escrever, escondido de toda família, toda, toda. E ela aprendeu a ler e escrever. Caligrafia linda. Aí, com muito tempo, veio a Carta de ABC. O que era Carta de ABC? Era uma carta que talvez hoje se encontre aqui em São Paulo. Tinha a Carta de ABC e a tabuada, que eram uma livrinhos pequenos assim. Ali, tinha todo o alfabeto, maiúsculo, minúsculo e manuscrito, maiúsculo e minúsculo. E minha mãe, muito curiosa, aprendeu a montar as palavras. Não de uma vez, mas na oportunidade que tinha, falou, e, muito inteligente, ela aprendeu. Ela tinha uma irmã que chamava Clemência, eram duas almas num sabugo, como chamavam, duas almas irmanadas mesmo. E ensinou ela também escondido, foram as duas únicas que aprenderam. Minha mãe, quando ficou esclerosada, que não sabia mais nada, ela só chamava “Mência, Mência...”. Ela não sabia chamar outra pessoa, não sabia o que estava chamando. Mas diz que é assim, quando tá próxima de morrer, quando ficou esclerosada, ficou mais de um ano deitadinha. E a gente ouvia a voz dela: “Mência, Mência...”. Porque, desde criança, e as duas únicas que aprenderam a ler e escrever foram essas. E aí foi. Aí, minha mãe, os professores, pra ensinar a ler e escrever eram em casa, os pais iam na rua, que era cidade, 18 quilômetros, no cavalo ou “de pés”. A mulher ficava em casa, e ele ia comprar aquilo que não tinha na roça. Era pano, açúcar. Eu vim ver açúcar na minha casa, eu já era muito grande! Era rapadura mesmo, tinha engenho, não tinha açúcar, não. Sal vinha da cidade. Eu admirava ouvir a história do sal quando era menina. Comprava o sal, o pano, linha... Minha mãe era costureira, muito inteligente. Minha mãe foi uma pessoa muito inteligente. E as coisas de primeira necessidade, eles iam na rua e compravam. Aí, comprava para os menininhos que estavam com seis, sete, oito anos, meus pais não foram como os avós, queriam que a gente aprendesse a ler e escrever. Levavam uma Carta de ABC pra eles mesmos ensinarem a ler. Depois que aprendesse, compravam tabuada, porque não dava pra comprar tudo. Nós éramos em... Deixa eu ver. Até ter uns cinco anos, nós já tinha três que podiam aprender a ler: a minha irmã, meu irmão e eu, que já tava de quatro pra cinco anos, quando minha irmã, com sete pra oito anos, isso mesmo, foi pra primeira escola. Só que meus pais compraram a Carta de ABC pra nós. Não podia comprar pra todos. Comprava pra um, e eles iam riscando num papel, “a”, “b”, “c”, “d”. A gente começava com “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, e a gente, os que não tinham carta, iam aprendendo num papelzinho. Pra eles saberem que a gente – eu fui dona disso –, saber que a gente tinha realmente conhecido aquelas letras, pegava um papel qualquer, uma coisa, fazia um buraco e cobria aquela letra, ou seja, o início, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, quase cantado. Aí, quando você decorava, não era só decorar, eles queriam saber se realmente você sabia que era o “a”, que era o “b” e assim em diante. Eles, por exemplo, “a-b-c-d-e”, o “d” estava pelo meio, junto com o outro, o que eles faziam? Pegavam aquele negócio furado e punha ali, deixava só o “d”: “Que letra é essa?”. Eu sempre fui boa, de cara: “É o ‘d’, o ‘a’, o ‘b’”. Ia complicando conforme ia mais pra frente e, quando ele via que a gente estava sabendo muito, só cobrindo, aí era tempo de furar o papelzinho. Mas de cara a gente pegava bem. Parece, não sei se sou nata nisso, eu ainda me lembro que naquela época eu já tinha dedução. Se eu falava “a-b-c-d-e”, eu sabia que era o último e ia pela que estava mais perto. Se o “d” tá perto do “e”, “a-b-c-d-e”. Quando eu cobria o último, já sabia qual era a segunda. Se era cinco, eu sabia que tava no meio e foi assim que eu fui aprendendo. Mas eu fui aprendendo as letras e era mais difícil pra ensinar, tinha muito o que fazer. Um “b” com “a”. Não, depois que você aprendia as letras, eles vinham com “beabá”, “beebé”, “beebi”, “beobo”, “beobu”. Fiz muito isso na minha vida. Muito não, porque aprendi. Tem um irmão que teve a maior dificuldade de aprender. Eu aprendi rápido. Aí, quando já sabia alguma coisa, meu querido Isidoro, meu amado Isidoro, um pedaço da minha vida, porque era assim, o Monte Alegre era um sítio, o Isidoro tinha uma capelinha de São Miguel. Ainda hoje tem, foi onde eu fui à festa de conterrâneo, que tem mais de 100 anos a capelinha. Isidoro, porque apareceu um homem suicidado lá, pendurado debaixo de um pé de oiticica, ainda existe esse lugar, e o homem tinha o nome de Isidoro. Era mato e aí fizeram. Primeiro, começaram a rezar terço e depois fizeram a capelinha e puseram o nome de Isidoro. Só que, por via não sei o quê, é São Miguel, a Capela de São Miguel. Foi onde eu me batizei, fiz primeira comunhão, fiz catecismo, foi tudo lá. Isidoro. Eis a razão que em Monte Alegre eu só nasci e teve aquela história de mamadeira, de não sei o quê. Mas minha vida mesmo, de vivência de criança, de brincar com mais criança, foi no Isidoro, foi por lá. Não aprendi a ler lá porque não pude ir pra escola lá, porque eram seis quilômetros de casa. Porque, como eu estava na primeira casa do Monte Alegre e a última era na divisa do Isidoro, e a divisa do Isidoro não tinha casa, e onde tinha a capelinha você ainda andava mais de um quilômetro, bem mais longe, a escola era lá na frente. E, pra gente, ia “de pés”. Meus irmãos estudaram, iam “de pés”, mas não podia, que meus irmãos iam pra roça e as meninas não podiam ir só, porque ninguém podia sair só de casa. A mãe não podia levar. Aí, tinha Maria Nilza, a família dos Tessina. Maria Nilza era neta de Tessina, primeira professora que eu – não foi minha primeira professora – é a primeira professora que eu conheci na minha vida. Como eles eram ricos, tinha a cidade do Crato, que quem já fazia o que nós chamamos hoje de fundamental I, que é da quarta série, já era professora, já podia, os pais podendo, estudar na cidade. E depois ficava normalista. O que era ser normalista? Era se fizesse o segundo grau, o curso médio. Aí, era uma formação, era o médico de hoje naquele tempo. Família que podia, tinha família do marido dela, que de lá já tinha advogado, mas era família de gente rica. E Maria Nilza foi a primeira que eu conheci, moça muito bonita, muito amiga da nossa família, por sinal, meu pai era irmão de criação da mãe dela e com amizade. A gente pobre, e eles considerados como ricos. Ela era professora e foi dar aula no Isidoro, pago pela prefeitura, naquele tempo. Ganhava dois mil réis naquele tempo, dois mil réis dava pra comprar três metros de tricoline, três metros e meio pra fazer um vestido bem rodado e comprar uma sandalinha, que a gente chamava meia-lua, só dava pra isso. Aí, Maria Nilza falou: “Candinha” – minha mãe era muito querida – “você precisa por Betiza na escola”. Minha irmã chama Isabel, tem até foto dela, das três irmãs. Minha irmã chama Isabel, mas, como tinha dois nomes, chama Betiza. “Põe Betiza na escola, só assim em casa, você não vai ter tempo e eu sou professora.” Maria Nilza, pra ir pra escola, ia num cavalo muito bonito, eles eram donos... Montada naquele cavalo, cavalão do rabo muito bonito, parece que estou vendo. E era a oportunidade de Betiza estudar, ia na garupa do cavalo: “Eu levo ela e trago à tarde”. A escola era o dia todo, ia de manhã e voltava só de tarde. Comer, naquele tempo, tinha muita abundância. Comia por lá, nem me lembro mais como era isso. “Compra uma cartilha pra ela pra começar a escola”, ela já aprendeu na cartilha ABC. “E vocês compram cartilha”, trouxe o nome da cartilha. “E ela vai aprender agora, vai ser uma menina que sabe ler.” E um caderno. Caderno era uma folha daquelas que eu falei, a mãe costurava. Minha mãe já estava até chique, costurava na máquina. E ali era o caderno que tinha, não tinha capa, não tinha nada. E minha irmã foi pra escola com Maria Nilza. Todo dia de manhã a minha mãe fazia alguma coisa pra comer, chamava merenda, tomava o café da manhã, alguma coisa, cuscuz era o pão. Fazia o cuscuz na cuscuzeira de barro, tomava o café, e já podia se sustentar pelo dia. Lá se vinha Maria Nilza, parava aquele cavalo na rédea bem em frente da casa. Minha mãe com minha irmã trocadinha, eu ficava morrendo de inveja porque tiveram que comprar outra roupa pra minha irmã e eu só tinha um vestido. E a gente ficava, até quatro ou cinco anos, a gente ficava de calcinha porque não era pra gastar o vestido. E pra minha irmã compraram vestido, porque ela tinha que se trocar pra ir pra escola. E minha mãe fez um vestidinho ou dois pra ela, montava, e todo dia eu ficava: “Ah, Senhor, não posso ir!”. Quando minha irmã chegava de tardezinha, que Maria Nilza chegava: “Tá aqui a menina!”, descia do cavalo, desmontou, e aí ela ia contar as histórias da escola. “E eu aprendi isso!” E eu, com a bendita da Carta de ABC, que tinha em casa. Na Carta de ABC tinha o “beabá”, “beabi”, “beebi”, tinha tudo pra você juntar, e eu, na minha mente, todo mundo achava que eu era inteligente. Eu tinha essa fama de inteligente, porque se eu sabia que o “b” com “a” era “ba”, e eu sabia que o “l” tinha som de “ele”, podia ser “la”. E foi assim que eu fui aprender, mas juntar ainda não sabia muito, não. Quando chegava de tarde, que minha mãe tinha um tempinho: “Oh, mãe, eu aprendi isso, isso e isso”. E eu ficava escutando e ia aprender escondido. E aprendia mesmo! E aprendia! E a gente estudava era assim, “me-me-sa-sa”, mesa, “la-la-ta-ta”, lata. Soletrar era isso. E isso foi entrando na minha mente. Aí, o meu pai era Francisco Elefante, os compadres mais íntimos chamavam de Fantin (risos), aquela besteira. “Cadê Fantin, Fantin tá em casa?” Os colegas. Compadre Fantin. E eu me admiro até hoje, que levava a menina pra estudar e voltava. E eu ia vendo minha irmã falar: “Oh, mãe, aqui é assim...”. Aí, começou as sílabas com três letras, primeiro aprende com duas. Por exemplo: “efeeneafanteata”, “ceeneafanteata”. Aí, eu fui pegando aquilo lá, tinha aquela mudança. Quando chegou no “m”, a vogal primeira, aí eu me enrolei. E nos primeiros dias de escola eu já aprendi. Mas fui aprendendo ali na dedução e na curiosidade. E, quando eu dei fé, já estava lendo, e minha mãe vinha se admirando. Quando ela chegava, ou quando eu pegava a Carta do ABC, minha mãe via que eu estava lendo. Aí, quando era um dia eu falei, quando eles chegavam e falava Fantin, veio na minha cabeça, eu tô nascida do som! Eu não sabia o que era o som, eu sabia que “f-a-n”, “fan”, “f-e-n”, “fen”. Era bem assim que a gente falava. Aí, eu peguei na sigla do “t”, quando Maria Nilza chegou, que foi pegar a menina, eu falei: “Eu também já sei ler!”. E ela já estava na garupa do cavalo. “O que você sabe? Você não tá na escola! Mas o que você sabe soletrar?” Primeiro, sabia soletrar. Ela pensou que eu não ia falar, mas eu nunca me esqueço dessa frase: “É ‘f-a-n’, ‘fan’, ‘t-i-n’, ‘tin’, é Fantin, meu pai!”. Mas ela deu tanta risada. “Olha que menina sem vergonha, além de ela saber, é ‘Fantin, meu pai’.” Porque tinha tudo a ver, não é? E assim eu fui aprendendo a ler. Depois que minha irmã saiu da escola, não pôde mais ir, a escola era longe e não foi essa a minha primeira escola. Eu ia rezar, sou católica de ventre, minha mãe batizava os filhos antes de três meses, arrumava os padrinhos e andava 18 quilômetros “de pés” ou esperava que tivesse a missa. E, às vezes, levava até de dois pra batizar, tinha tanto padrinho na vida naquele tempo! Era madrinha de apresentação, de consagração, era de não sei o quê, era de batismo. E eu queria aprender a rezar, toda noite ia rezar o pai-nosso e tal, eu aprendi logo o pai-nosso. Rezava na hora de comer: “Bendito louvado seja o santíssimo sacramento, no céu viveu e na glória da terra, do pai, filho e espírito santo”. Ninguém almoçava sem fazer isso, hoje em dia ninguém almoça num restaurante e faz isso. Eu já sabia, mas queria aprender a ler a salve-rainha. Eu aprendi o pai-nosso, depois o ato de contrição, depois vinha profissão de fé, que era o credo, e depois vinha salve-rainha, umas coisas lá que eu até esqueço. E sou católica, participo, mas... Aí, eu queria aprender salve-rainha. Quando começava o inverno, as primeiras colheitas, a gente já estava sem mantimento e era raro ter arroz e as pessoas não comiam muito arroz. Os primeiros “arroz”, que chamavam arroz ligeiro, saía aquele cacho bonito, quando maduro, amarelinho, e cortava aquele arroz, batia e tirava a semente e torrava lá no fogo e estourava. Eu amava comer aquilo ali, parecia uma pipoquinha. Mas, antes de ir para o pilão, tinha que pôr um pouco no sol. Pilão pra bater e tirar a casca pra depois fazer. Mas se ele saísse dali, como vinha do fogo, ele estava úmido. Punha a mesa, o pessoal sempre tinha uma mesona de madeira lá, tirava pela porta da sala, botava no terreiro na frente da casa e punha um pano em cima. E o sol muito quente, sol do Nordeste é quente mesmo! Aquele sol de 11 horas até à tarde, porque, quando ele vinha do sol e ia para o pilão, tirava a casca rapidinho. Do contrário, não ia tirar. Mas as crianças, eu já tinha uns seis ou sete anos, por aí, talvez uns seis anos, mas, conclusão: como era uma menininha maior, as crianças tinham que ficar pastorando o arroz. Por que pastorando o arroz? Porque as galinhas subiam e comiam o arroz. Ou, às vezes, tinha passarinho, rolinha, alguma coisa. Mas o que subia mesmo eram as galinhas, e as crianças tinham que ficar em volta pra não subir e, se deixasse, apanhava! Se a mãe visse de lá, apanhava, porque não prestou atenção. E minha mãe era costureira, fazia roupa pra todo mundo. Para os homens que trabalhavam... Ninguém comprava roupa feita, mandava ela fazer. E a máquina da minha mãe era uma maquininha que rodava assim, na mão, chamava máquina de mão, rodava assim, e punha os pés. E a tesoura, eu tenho a tesoura, está no teatro, tem mais de 80 anos. Essa está no teatro, se precisar, eu trago a tesoura da minha mãe. Aí, de noite, a sequência da reza. E eu quis aprender salve-rainha, eu vou aprender. “Mãe, eu quero aprender!” “Vai aprendendo.” E eu, pastorando o arroz. A mesa é uma tábua grande com quatro pés. Como todo mundo sabe, feito manual mesmo. E, embaixo da mesa, eu tinha que ficar ali, debaixo da mesa pra, se as galinhas viessem, eu tanger e sair correndo. Eu peguei um carvãozinho e falei: “Mãe, eu quero aprender salve-rainha”. “Não, é só de noite!” “Pois, mãe, fale duas palavras que eu aprendo.” “Salve-rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa.” Eu contava cinco palavras e riscava lá. Quando eu decorava: “Mãe, eu já aprendi”. Falava do jeito dela lá. “Como você aprendeu?” “Salve-rainha, mãe de misericórdia, vida e doçura.” E já deixava o risquinho lá embaixo, pena que essa mesa não existe mais. Foram cinco palavras e eu aprendi. Qual foi a primeira que aprendi? Se eu aprendi cinco, eu sei onde foi que eu parei, na setinha do meio. E isso eu não sabia ler, eu era pequenininha mesmo, eu pastorava arroz. Talvez eu tivesse uns sete anos, não me lembro bem. E assim eu aprendi salve-rainha e não demorei, não. Acho que nuns dois dias minha salve-rainha, e de noite eu digo: “Já sei”. E ela admirava, porque a gente não ia dormir sem rezar também. E, aí, eu aprendi, foi assim que eu aprendi a rezar salve-rainha, pai-nosso, foi minha mãe que ensinou. Aí, eu sabia. A cartilha da minha irmã tinha uma frase assim, eu te falei lá embaixo, e ela, quando chegava, eu pegava escondido. E o que ela lia, como eu já estava aprendendo, eu lia aquilo ali também. Aí, eu aprendi, não sabia o que era escola, mas tinha uma frase assim: “Eu já sei ler, nos livros, nos jornais e nas revistas”. Depois tinha outras coisas, mas isso aí eu aprendi. Mas eu não apenas decorei, eu aprendi o que era a palavra livro, porque “l-i-v-r-e”, “l-i-v-r-o”. Agora, eu estou dando aula e tem gente que faz isso. Gente nordestino, eu dou aula pra uma pessoa com 86 anos. Aí, assim, se tá na família do “veravrá”, e essa palavra é livro, não tinha figurinha, não, era pra gente aprender mesmo. O livro do “la-le-li-lo-lu”, com “vro”, é livro. E eu aprendi essa frase, primeira frase que eu aprendi a ler foi essa. Então, eu ficava falando essa frase pra todo mundo, não tinha como não decorar. Aí, passaram os anos, minha irmã saiu da escola, eu já estava mais velha. Saiu, eu tinha uns sete ou oito anos, ficamos só lendo em casa, meu pai pondo de castigo, meu irmão era muito difícil! Ah, o meu pai forçava o coitado do meu irmão, esquecia... Tinha palmatória! Palmatória na mão. E meu irmão, coitado, como eu tinha dó do meu irmão. Ele era difícil de aprender. Ele não decorava – meu irmão antes de mim. E outros mais fácil. Minha irmã já se vendia caro, aprendi a ler, fazia bilhete pra namorado. Minha irmã pegava escondido e batia nela. Já minha irmã estava com uns 13 anos, a coisa já tinha evoluído muito. Aí, no Isidoro, era muito difícil pra gente estudar lá, porque eram seis quilômetros. Tempo de chuva, tinha que atravessar riacho, riacho com água que, às vezes, dava na cintura. Tempo de sol, não dava certo, não era de confiança, era muito longe pra estudar lá. A escola não era numa casa, a escola, a prefeitura pagava a professora e aqueles mais ricos, que tinham casa grande, davam uma sala disponível. Aí, minha mãe resolveu a eu ir pra uma escola também, já que minha irmã mais velha tinha ido e eu nunca tinha ido na escola. E os meus irmãos, que já estavam maiorzinhos, podiam estudar no Isidoro porque era menino. Meninos iam mais os rapazes que iam para o lazer da noite. Lá, tinha uma igrejinha e, pra arranjar namorada, os outros lá, namorada e conversar por lá. Ele acompanhava aqueles, ia pra escola e voltava com eles. Mas as meninas... Deus o livre, menina sair de noite assim mais os homens. Nunca! Aí, tinha um sítio chamado Joá e uma professora – essa tem a história do meu primeiro namorado! Uma professora que foi dar aula no Joá, ela foi convocada, sei lá, fez o curso lá, foi na prefeitura e a escola dizia pra onde ia. E ela era do Isidoro, esse pessoalzinho mais rico, essa já tinha primo que fazia faculdade naquela época. A gente nem sabia o que era a palavra faculdade e ela foi pra dar aula na casa do seu Frutuoso, um homem rico, que tinha gado, vaca, tinha casa grande e tudo. E, como a casa era grande, a prefeitura, o prefeito, conhecia os mais ricos e escolheu a casa dele. Ele deu uma sala lá pra gente estudar. Separou, tinha um alpendre bem grande, uma área e ali pôs uma escola. E aí que a coisa pegou. Eu tinha nove anos, ia fazer dez anos. Pra mim, eu subi no mundo, só que não dava. Lá era mais longe ainda que o Isidoro, mas tinha minha prima, que era uma prima de coração. Ela, no nosso jazigo, deu briga, porque pra mim ela é como irmã, é uma prima que, quando nasceu o meu quarto irmão, cada um ia cuidar do resguardo, dos 30 dias, ela foi lá, uma prima, como irmã. Minha mãe falou: “Como Hilda gosta muito de nós...” – pediu pra eu ficar lá durante os dias de escola. Ela era casada e tinha o primeiro filhinho. E, como ela me queria muito bem e eu queria muito bem a ela, ela aceitou que eu ficasse na casa dela. E não era tão perto da escola, era talvez quilômetros, era uma caminhada boa, não sei como comparar. Talvez, daqui ao Paraíso, sei lá, não sei comparar, mas não era tão perto, não. Porque nós estávamos na Tataíra, e era no Joá. Era um sítio perto do outro, mas ficava nós no começo de um, e eles no fim do outro, não era tão perto. E Hilda me aceitou na casa dela. Minha irmã mais velha, que já sabia ler, mas queria aprender mais, e meus pais concordaram. Porque a gente já ajudava em casa. O que minha mãe, santa mãezinha aceitou? Que nós já ajudávamos, eu com nove anos, minha irmã com 12 já era braço forte. Mas ela falou: “Eu prefiro cuidar de tudo em casa e vocês passarem a semana toda lá e no fim de semana vocês vêm pra casa me ajudar”. E ali tudo era feito em casa, lavar roupa, remendar, cortar, tudo. Aí, pois, a minha irmã mais velha foi pra casa da minha tia, a mãe dessa prima que eu fui, que também era perto, ficava mais longe um pouquinho, mas era perto. Atravessava o riacho e era do outro lado, porque as filhas da minha tia, as minhas primas mais novas, também iam estudar lá e mais outras pessoas lá. E eu fui pra lá, aquilo foi... Quando eu saí de casa, muita gente achava um horror: “Mas como é que ela manda as filhas morar mais os outros? Só pra aprender a ler? Mas isso é besteira!” – achavam que minha mãe aceitou isso. Mandou minha irmã pra casa de tia Cristina, que essa que nasceu em 1901, e eu fui pra casa de Hilda, Nanã, filha de tia Cristina, começar aquelas aulas. Parece que estou vendo aquele primeiro dia de aula da minha vida! Só que teve um problema. A prefeitura pagava a professora, dois mil réis. Era dois mil réis mesmo, muito pouquinho, mas era só aquilo ali. A gente tinha que levar o caderninho, a Carta de ABC, a cartilha. Eu, quando fui, já tinha condições de ir pra cartilha, porque alguns iam pra cartilha de ABC. Aqueles que tinham mais filhos, tinha uns que nunca tinham estudado, que moravam mais próximo. E eu levei a minha cartilha, o meu lápis. Quando eu aprendi a ler, também tinha isso, isso antes de eu ir pra escola: a gente não tinha caneta, não. Não sabia o que era caneta, não. Era pena. Inclusive, quando tinha uma pessoa que era muito sabido: “Fulano é sabido pela pena”. O que era pena? Era um pauzinho parecido com uma caneta e tinha o bico da pena. As pessoas sabiam, procura na internet e vê. É um negocinho, que você enfiava aquele pauzinho, já vinha adaptado para aquilo ali. Você enfiava aí e era a pena. Porque primeiro você escrevia com lápis. Eu aprendi “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, e eu mesma fazia com lápis num papel. Só que, pra manusear, pra eu pegar prática, tinha um vidrinho aqui... Ah, meu Deus, se tivesse. Eu vou lá e não acho mais. Um vidrinho quadradinho, desse tamanho assim, talvez ele tivesse uns cinco centímetros de quadrado lá. E na boquinha dele tinha a tampinha. E esses vidrinhos tinham uma tinta azul. E você, com todo jeito, isso era um pra cada família, porque o dinheiro não dava pra comprar muito. Pegava aquele vidrinho, os pais que podiam compravam uma caneta pra cada um. Na minha casa, não era pra todos e depois que fizesse “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, de lápis, molhava o bico da caneta e ia cobrir, cobrir as letras. Enquanto você cobre as letras, olha a mão. Você ia aprendendo a ler. E, aí, já sabe escrever. E também a prática com a caneta, aí, você sabia escrever com tinta, que tinha gente que não sabia escrever com tinta, porque não teve oportunidade de ter a tinta e a pena e não aprendeu até hoje. E ficou velho. Minha mãe foi uma dessas. Meu pai não teve oportunidade de aprender com caneta, tinha gente que só sabia escrever com lápis, foi com lápis que aprendeu. E essa história foi passando de geração pra geração, e a coisa foi evoluindo. Quando nós tinha lápis, quem tinha um lápis era aquele lápis que tinha uma borrachinha. O pai, caprichoso, comprava um lápis, uma borracha, um papel pra fazer caderno, e aí estava todo o seu kit, estava aí. E a cartilha, que era uma das principais. E acabou apontando com faca. Minha irmã estava mais evoluída, como ela estudou lá na primeira escola, que ia na garupa do cavalo, já tinha gente que já fazia até faculdade naquele tempo. Era família que gente rica lá, que já contava história, e ela ouviu falar lá em apontador, só que a conversa que ela chegou e falou foi assim: “Olha, o povo lá de Metton” – Metton era o Doutor Metton, mas ele não era – “Falaram que as filhas de Metton têm uma maquininha que faz a ponta do lápis”. Isso, eu tinha uns sete anos quando ouvi falar isso, e estou lembrando até agora. “Olha lá, Aldenor falou que a filha de Metton, ela não faz a ponta com a faca, ela faz com a maquininha.” A maquininha é esse apontador que a gente tem hoje. Mas eu vim conhecer isso já estava velha.
P/1 – Você falou que o primeiro dia praticamente vem à tona. Como foi esse primeiro dia que você estudou?
R – O que vem primeiro é isso, eu estava falando de como ia pra escola. A prefeitura não oferecia nada, os pais tinham que levar. Se tivesse cinco na escola, cada um tinha que levar uma cadeira e todos moravam longe. Se fosse mais perto, tinha aqueles mais aproximados, tinha muitos que levavam e traziam todo dia a cadeira. Outros só deixaram as cadeiras uma em cima da outra. Só que nós morava muito longe e era muito pobre. Juntou eu e minha irmã, dois, Alaíde e Luís, a Neta, era cinco. Duas da minha tia. Nós éramos oito alunos, mas só o pai do Luís mais Alaíde que tinha condições, se fosse pra levar cadeira. Mas era muito longe, porque era no nosso famoso Monte Alegre, e minha mãe era mais esforçada. Depois vinha a família de João Alves e depois vinha Tataíra, pra chegar lá no Joá. E também ninguém tinha cadeira em casa. A não ser a família de João Alves, que tinha mandado. Minha mãe teve uma ideia: tem banco! Banco é a mesma história, vai na mata, pega um pau com gancho de dois pés e faz bem bonitinho lá, corta de faca, do jeito dele, que todo mundo era artesanal, era artista. E pega um pau de aroeira, sabe o que é aroeira? É uma madeira bem forte mesmo, é uma madeira firme. E, com machado, facão e faca, lavrava aquilo ali e faz o banco que cabia nós, umas cinco ou seis pessoas, um banco pesado mesmo, mas a madeira é pesada mesmo. O finado Zé Raia, Seu Zé Raia, que era muito curioso, muito criativo, tinha as criatividades dele, fazia banco. E minha mãe pagou pra ele, não com dinheiro, que não tinha dinheiro, com rapadura, com alguma coisa. E pagou pra ele fazer um banco. Porque ia comprar uma cadeira pra cada? Imagina! Não podia. E o banco não gastava, ia no mato e pegava o pau, a madeira lá. A madeira, um tronco assim, partia e fazia aquilo ali. Era gente inteligente mesmo. E fez o banco. E era um banco estreito assim pra nós sentar. E pra levar esse banco? Esse banco foi levado, acho que meu pai, não sei quem levou esse banco com muito sacrifício, do Monte Alegre pra Tataíra, que talvez fossem uns cinco quilômetros ou seis quilômetros. Só que, da Tataíra pro Joá era mais longe, era uns seis quilômetros também. E quem ia levar eram as crianças, porque ninguém se responsabilizava pra levar. E nós, se nós não tivesse aquilo ali pra sentar, não tinha, cadê as cadeiras? Os outros já estavam sentando, nós ficava de pé lá. Aí, chegou o banco lá. E passava um riacho. Riacho é um rio que, quando chove a água, dá por aqui e nós tinha que atravessar esse riacho. Ali, foi um sofrimento, eu e Luís Alves. De todos esses alunos, só tinha um menino, era o mais velho, mais velho do que eu. Ele tinha uns dois ou três anos mais velho do que eu, Luís Alves. O pai dele era considerado rico. A irmã dele, Alaíde, e a Neta. Eu só não tô lembrada se a Neta estudava. Eu sei que a Alaíde ia, eu e a Alaíde. E nós fomos pra essa escola, eu, Luís, e nós fomos, um bocado de menino. Mas não tinha quem levasse o banco. E foram os pais, alguém foi levando. Ainda bem que tinha pouca subida. Tinha um chão de terra assim, a gente ia, passava primeiro o riacho, atravessava, tinha uma subidinha, aí descemos, passamos o riacho, atravessamos o riacho com água dentro mesmo! Não tinha. Os meninos era calça, short, calça curta era só Luís, Luís já podia. E as meninas iam com vergonha de subir a saia. Nós tinha que atravessar aquele riacho, dois riachos com aquele banco. E era pesado, porque era madeira. Quem sabe o que é aroeira? É um tipo... Ah, meu Deus, eu não sei qual que é. Aroeira é uma madeira fina, como esses “coiso” que põe madeirada, essas coisas, que tem em linha de ferro, uma coisa bem pesada mesmo. É uma madeira marrom, firme. Parece que o banquinho eu tô vendo, lisinho. E ele tinha aqueles... Lixar nada, que tinha lá lixa nem nada! Fazia, raspava e era do jeito que nós sentava lá. E subimos. Quando chegou no riacho da Tataíra, tinha o Carrapato e a Tataíra, quando era pra atravessar a Tataíra, o Jacu era o outro. Aí, tinha uma subida, caímos naquele riacho. Mas chegamos! Chegamos e subimos, subimos, aí foi a última subida. Depois, planejou. Tem essa casa, ainda nós vamos fazer uma festa lá, ainda existe essa casa. A primeira escola! Mas o primeiro dia de escola, eu não tô lembrada, tô lembrando da história do banco. Primeiro, foi um paraíso aquilo ali, eu ir pra escola, vai a história da letra pra te falar. Aí, nós subimos, foi um sofrimento pra descer, pra chegar lá. E, chegando lá, todo mundo virou: “Mas judiação com essas criança!”. Alguém passava e ajudava um pouquinho. Chegamos e pusemos nosso banquinho lá. Tinha os filhos de uma família Arara, que hoje tudo é doutor, é muita gente famosa. A família Almeida, a família do meu marido, mas que já tá na décima quinta geração. Tem um livro, existe já o livro dessa família, eu tô pra receber ele. E eles levavam cadeira, até uma cadeira com forro de assento de couro, eram ricos. E os deles eram com cadeira, e o nosso era banco. O Adenete, o nome do meu irmão é o nome desse menino. E queria ser mais do que eu, porque os tios dele tinham riacho, açude, tinha de tudo. E nós era pobrezinha, não tinha nem casa, era chamado morador dos outros. E as meninas sentavam de um lado, e os meninos sentavam do outro, também era assim, era tudo separado. Aí, quando chegou a hora de eu ir fazer, estudava, começava na escola: “O que você sabe?”. Aquilo ali era o tanto que desse. Você faz só a primeira folha do livro, a cartilha. Eu li, li, li, li. “Você vai ler desse tanto.” Quando eu já decorava ou aprendia, ia lá na mesa da professora ler pra ela ouvir. E, quando ela ouvia, ela reprovava, se estava certo ou não. Se tivesse certo: “Parabéns”. Se não tivesse: “Vai ficar de castigo e estudar de novo”. Quando eu aprendi sozinha, eu aprendi ler “mimam”, não sei o quê. Mas, quando eu cheguei em “m-a-m”, eu me confundi muito. E, quando eu fui ler, nunca esqueço, a professora pôs até a substituta, porque já sabia ler e era muito aluno, não tinha contado, eram os que fossem. Luísa, que era filha do dono, já sabia ler. “Vai, recebe a lição de Cleta aí, vê se ela sabe.” Gente, quando eu cheguei, tão fácil, “embira”, embora e não sei o quê. Mas eu tinha que falar assim: “mi”, “ma”, “mei”, a palavra que nunca saiu da minha cabeça. Em vez de eu falar “m-e”, “b-o”, “r-a”, eu falava “me-mi-mei”. Foi aí onde eu fui reprovada pela primeira vez, eu não falei “m-e”, eu falei “me-mi-mei”. A menina que não era professora foi muito boazinha e cochichou, não é? E aí eu aprendi essa sílaba com... Ainda é viva essa Luísa, tá velhinha, mas é viva. Ela já era moça grande, e eu era menina novinha. Essa sílaba eu não aprendi em casa, não. Essa eu confundi. E foi o primeiro dia de escola. E aí a gente estudou e, quando foi com seis meses, a Dona Alaíde, que era a professora, já estava noiva. Aí, nós começamos em fevereiro, mais ou menos, essas épocas que começa aula mesmo. E, quando chegou o mês de junho, acabou as aulas. Não fazia prova nem nada, aprendeu a ler, já sabe. Tinha até alguma atividade, tinha ginástica naquele tempo. Mas, aí, Dona Alaíde ia parar de dar aula porque o casamento dela estava marcado, acho que pra maio. E, em junho, e o resto dos dias era a irmã dela, Alaíde, que ainda é viva. Gente, aquele tempo a gente não tinha outra opção, ou você ria ou chorava. Não tinha revista, não tinha nada na vida, não podia escutar a história do mais velho, que os mais velhos estavam conversando: “Criança, sai fora!”. Não podia brincar muito porque era perigoso. Se os meninos iam brincar, ia ver se as meninas estavam perto. Era assim! Mas aquilo foi um chora-chora, foi o dia que eu chorei mais na minha vida (risos). Eu não sou de chorar, não. Meu marido morreu, não chorei, não. Meu pai morreu, não chorei. Meu irmão morreu, não chorei. Mas naquele dia eu chorei muito. O choro, sei lá porque a gente chorava tanto, não tinha outra coisa pra fazer. E a gente criou amor, porque a professora, você tinha bênção, e a gente criou amor. A Dona Alaíde, moça bonita! Mas ela ia casar. Foi o dia que todo mundo chorou e, que eu me lembro, foi o dia que eu chorei mais na minha vida, a não ser chorar de raiva. Mas chorar de emoção, eu chorei muito quando Dona Alaíde foi embora e também eu não fui mais estudar. Todo mundo parou e acabou a escola, entrou as férias. A irmã dela que foi dar aula lá e minha mãe não deixou mais nós ir. Era muito longe, era muito sacrifício, ficar pra casa dos outros. O banquinho ficou por lá para os próximos e nós ficamos sem estudar. E depois, passou uns anos... Essa daí não minha, foi dos meus irmãos. Era a próxima escola que eu fui, dessa daí.
P/1 – Você voltou a estudar só quando você fez o curso de costura, então?
R – Não. Aí, eu tinha dez anos, foi quando eu tirei aquele retrato, aquela foto. E o orgulho, que ninguém pode mandar fazer a farda! Algumas, só os mais ricos. E minha mãe, como era costureira e muito caprichosa, comprou aquele paninho branco e aquele pano azul pra fazer uma saia de prega e ainda tinha a gravatinha com três listinhas, você via que tem aí. A manga tá até assim, olhe, tá até abertinha assim quando eu tirei. E, aí, parou, ninguém foi mais estudar. E existiam os ricos, aí, parava, não tinha uma escola pública. Quem morava próximo, minhas primas ficaram estudando lá, os outros. E nós que não tinha escola próxima, paramos de estudar, eu e minha irmã. E os meus irmãos já deu um jeitinho de estudar de noite, porque de dia ia pra roça. E tinha uma escola, sei lá como foi. Aí, tinha um professor, antigamente era difícil, Cazuza Santos. Pessoa muito inteligente, muito intelecto mesmo. E esse professor foi uma pessoa de família rica, filho de como é que chamava? Rei. Não é Rei, não, era... Aquelas pessoas que eram dono das ações, dono de tudo lá, os coronéis, aquelas pessoas bem ricas. E ele foi um filho dessa pessoa nas décadas de... Isso aí já foi na década de 50, essa minha. E, nas primeiras décadas, talvez ele era um professor de uns 30 anos, mais ou menos, umas três décadas antes de mim. E ele, já havia faculdade, porque eu tenho uma história no meu trabalho de uma faculdade de 1870 e alguma coisa. É a história de meu trabalho mesmo. Aqui já havia faculdade. Como gente rica, naquele tempo, já podia ir pra outros países, e ele não era lá do Estado. E ele fez faculdade. Começou, fez faculdade. Mas quem bebesse, filho que desse desgosto pra família, fosse alcoólatra, aquele tempo acho que a droga que tinha era álcool mesmo ou cigarro. E ele se tornou alcoólatra. E o pai dizia: “Põe pra fora”. O pai abandonou. Se um filho desse um desgosto muito grande pra um rico, riquíssimo mesmo, senhores de engenho, assim que chamava, aquele não era mais filho, deserdava. E ele foi embora de mundo afora. Com toda aquela inteligência que ele sabia, ele era bem intelecto. Aí, ele arrumou uma mulher pelos mundos aí, ele andava com uma mulher que chamava Raimunda. E ele, aquele dom que ele tinha, ele foi pra outro Estado. Ele não era cearense, eu não sei se era pernambucano, era de outro lugar. Na época, eu sabia, agora eu não lembro. Ele tinha uma caligrafia, a coisa mais linda, a coisa mais pedagógica. Aquele homem era tão inteligente, era uma coisa fora de série! Aí, ele se oferecia de um Estado para o outro, pra ele dar aula particular para os ricos. O meu irmão tinha um padrinho, o povo pobre gostava de tomar os sujeitos pra ser padrinho pra poder ajudar. Tinha um padrinho que era poderoso, podia, casona grande, sala ampla. Queria que os filhos dele estudassem em escola particular, porque não tinha escola pública pra estudar, tinha que sair pra muito longe. E, como não tinha escola pública, as pessoas punham uma pessoa. E criou fama, ficaram sabendo. Aí, esse homem apareceu por lá, professor Cazuza. A primeira escola onde foi, na casa do padrinho desse meu irmão. Só que era muito longe de casa. Pra começar, ele saía de casa às oito horas da manhã e chegavam às cinco da tarde. Saía as oito pra chegar lá às 11 horas do dia, 11, dez horas. Sempre as escolas tinham uma história de começar às dez horas. E eles saíam de casa sete e meia, oito horas. E, aí, meu pai falou: “Vou pôr o Adenete estudar lá”. Foi meu irmão mais velho, a primeira escola dele foi essa. Aprenderam em casa alguma coisa, na casa de compadre Leônidas. Aí, compadre Leônidas aceitou muito bem: “Pode ficar na minha casa”. Ele foi morar na casa de Leônidas. Lá não pagava nada, era gente rico, era leite, queijo, tudo. E eu tinha uma prima minha, dessa mesma, que eu fui estudar na casa da irmã dela, madrinha de fogueira, madrinha Cisa, que morava perto. Lá, o sítio chamava Jurema, o nome da escola. Tinha um sítio assim perto, chamava Mariquita. A minha prima casou com um rapaz e morava lá. Minha mãe, muito interessada, e eu pedindo pra ir pra escola também, conversou com ela, foi lá fazer uma visita, se ela aceitava eu ficar na casa dela. E ela estava grávida: “Eu acho bom”. Porque ela estava grávida do segundo filho, e o marido ruim que era uma peste! Judiava dela demais. E eu fui morar com ela pra poder ir pra escola, que também não era tão perto, era bem mais de um quilômetro, era longe pra ir, subia e descia ladeira. Mas pelo menos não fazia com os outros. Aí, foi meu irmão pra casa do padrinho dele, eu pra casa da minha madrinha Cisa. E ficou minha irmã mais velha, que queria estudar, essa quis estudar mais, o namorado dela, que ela já era moça, já estava com uns 15 anos, e ele já com 16 pra 17, que era vizinho. Nunca tinha estudado, quis estudar, aprendeu a ler assim com a gente, sem saber. E eu acho que meu irmão Joatã e o Valfrido, eu não sei, eu sei que uns dois ou três, Valfrido, acho que Joatã, a Betiza... Os três, eram o Joatã, a Betiza e um vizinho chamado, ainda é vivo, tem mais de 90 anos, Salustiano, padrinho meu também. Aí, porque minha irmã quis ir, porque o namorado dela ia e era uma viagem, era pra andar e nem era muito interesse de escola. Ele é muito inteligente, esse Salustiano, pessoa que aprendeu ler. E foram, saíram de manhã de casa. Minha mãe, de madrugada, socava no pilão o milho, fazia a comida com cuscuz ou angu, que é polenta da vida, pra eles almoçarem oito horas da manhã, sair de casa oito e alguma coisa e ir caminhando até dez e meia. Parece que era dez e meia pra chegar lá na hora da escola. Mas isso, olha, saía do Monte Alegre, passava Várzea Redonda toda, passava num lugar que chamava Socó, outro que chamava Torrão, pra chegar na Jurema. Olha como eles passavam de sítio. Tudo isso eles faziam depois das oito da manhã, almoçava umas oito e meia, que era a comida lá, não tinha mistura, era o que tivesse. Matava o porco, tinha toicinho, comia e ia. Ali, passava o dia, vinha comer em casa de noite quando chegasse. Não levava nada, não. Lá, se aquele povo da casa quisesse, ou outro levasse alguma coisa, comia. Eu mesmo não levava merenda, não. Almoçava e, quando chegava, comia. Aí, eles iam o dia todo, e lá eles estudavam. Aí, esse homem não podia ficar muito tempo, porque ele era alcoólatra. Pra começar, ele morreu asfixiado com álcool. E, na escola, sempre as casas tinham álcool, porque dava injeção. Meu pai era o melhor, sem nunca ter, sabia ler só e escrever, mas era o melhor... Como é que diz? Farmacêutico do mundo, enfermeiro. Aplicava injeção, ia pra esse lugar “de pés” dar injeção. As casas das pessoas mais organizado, tinha álcool em casa pra quando precisasse. Levava um kitzinho assim e pegava e punha o álcool e punha aquela seringa dentro, riscava com fósforo pra desinfetar. Toda casa de pessoas mais ou menos tinha que ter álcool. E o finado Cazuza não podia ficar em casa que tivesse álcool, porque ele só vivia bêbado. Onde tinha um botequinho que fosse, ele saía da escola e ia beber. Tinha dia que ele não podia dar aula, quem dava era Dona Raimunda, deve ter morrido, que ajudava. E eu sempre na fama de inteligente, sempre na fama de inteligente. Quando eles me viram, nos primeiros dias, eles já descobriram que eu era uma menina inteligente. E puxava por mim. Tinha aquelas palavras que tinha que completar e ia todo mundo estudar: “Vem aqui você, fulana, vem aqui”. Aquele que errasse, o que acertasse, palmatória redonda nas mãos. Era assim que a gente estudava. E já tinha matemática, que nós não chamava matemática, era aritmética. Era assim. Já se falava algarismos arábicos e romanos, mas era uma coisa que não sabia muito. Isso tinha na cartilha. E eu fui estudar lá, já fui muito bem aprovada. A mulher dele tinha a maior bronca de mim porque o professor puxava o saco de mim. Parece que eu tô vendo. Ela tinha ciúme! Eu era uma menina, esse tempo eu tinha 11 anos. Mas ela morria de ciúme, ela queria morrer porque achava que ele me protegia. Não é, porque ele queria ensinar, quando tinha uma coisa mais difícil: “Vem aqui” – ele me chamava e eu respondia. Só que ele inventava um método lá assim. Lá, tinha algumas que estavam começando, os filhos do homem da casa eram tudo analfabeto, só a mais velha, a Maria. Os outros começou do “a”, e tinha uns que morriam e não falavam. O Totó, não sei se está vivo, ele morria e não falava “bra”, ele falava “ba”. Ele não falava “bri”, ele falava “bito”. Não sei se aprendeu até hoje! E era um povo difícil. Mas os meus irmãos, Luís Alves, esses daí que estudou comigo na outra escola... A filha do Macedo tinha dinheiro, esses não, não precisou ir pra casa de ninguém. Tinha os pais que tinham aqueles cavalão, e cada um montava num cavalo, ia na garupa e já iam de cavalo. Mas nós não tinha, porque era um lugar longe, mas eles podiam ir na hora, saía e montava. Aí, quando foi um belo dia, o finado Cazuza, Cazuza Santos, professor, gente muito inteligente! Ele falava de faculdade, e eu já pensava, eu sempre quis alguma coisa na minha vida. Só que eu não entendia o que era faculdade, eu não sabia a palavra faculdade. Ele falava de altos estudos. Hoje que eu sei que ele falava de faculdade, que ele estudou em altos estudos. Hoje é que eu descubro que altos estudos, que faculdade naquele tempo... Depois foi que eu descobri, ele nunca falou curso superior, falava altos estudos. E eu só sabia que era uma pessoa que tinha estudado muito. Aí, o método dele, eu vou só passar porque é muita coisa. Ele falava assim: a palavra, por exemplo, quantas letras tem a palavra, vamos supor, dominó. Tantas. Aí, ele misturava a matemática com o português. Ele pegava uma palavra e perguntava a um sentado nessa fileira: “Quanto tem essa palavra?”. E, com tanto mais tanto, e a outra palavra. E a gente ia multiplicando ou somando. Pra quando chegar no fim, saber as letras com os números, quantos eram. Por exemplo, dominó tem seis letras, com bola, dá dez, com tanto e aquilo complicado. E, às vezes, ele invertia, quando ele via que a gente estava mais esperta. E o último que não soubesse, um respondia pelo outro. O que acertasse passava para o outro, o que errasse apanhava. Eu e Luís Alves, ficou um do lado do outro, eram os dois mais inteligentes. Quando chegou em Luís, ele errou. Era um menino bonito, um menino muito inteligente, a gente era muito amigo. Quando chegou na minha vez, que errou, aí era eu que tinha que dar. Não, foi ele que errou primeiro, eu que tinha que bater nele pra depois ele bater em mim. Tem algum negócio... Não, ia contando as letras, quem soubesse mais. Aí, quando ele passou, eu que tinha que dar, eram seis bolos. Chamava bolo porque a palmatória era... Mas era de madeira boa mesmo. A palmatória era redonda, chamava bolo, acho que por isso, eu deduzo que é isso. Quando ele me deu a mão, e tinha gente que era ruim mesmo, dava forte. Eu peguei e dei seis bolos nele bem devagarinho, era amigo! Quando chegou na minha vez, que passou a outra rodada, que ele tinha que bater em mim, menina, ele deu aqueles seis bolos que eu nunca vou esquecer. Minha mão quase racha, ficou vermelha (risos)! Essa é uma das coisas que eu não esqueço da escola, da minha segunda escola. E na minha terceira escola, só fui em três escolas, eu entrei aqui, fiz curso superior, mais de um, mas, pra eu estudar, eu nunca fiz primeiro, não sei o quê. Eu entrei aqui, fui num canto ali, fiz um teste, passei e fiz o ginásio. Naquele tempo que eu estudei, era ginásio. Foi assim que eu fui na minha vida, não foi indo pra escola, esse ano é tal ano. Minha coisa foi diferente. Aí, depois disso, teve uma escola perto da minha casa, a Dona... Esqueci o nome da bendita agora! Não sei o quê Ferreira. Foi da cidade, as coisas foram se aproximando, apareceu uma escola pertinho da minha casa. A família Batista, tem uma história muito bonita a família Batista, um sítio pertinho do nosso, emendando assim, que a gente ia rezar de noite pra ver se namorava. O rapaz ia buscar e trazer, que era de confiança, mas não era nada de rezar! Aí, teve a escola, eu ainda era menina. Carmélia! Uma professora muito bonita, lourinha, professora da cidade, que as professoras normalmente eram do sítio. Mas essa vinha da cidade, tinha que ter mais respeito. E nós fomos estudar. Lá se vai Luís Alves de novo, Salete e Luzanete, aquele mesmo pessoal que vinha acompanhando. Esse Luís Alves, que ajudou a levar o banco, as irmãs dele, meus irmãos. Também era seis meses, passou seis meses, ia embora. Aí, eu fui estudar. Foi muito bom eu aprender mais, só que aquele tempo era muito cívico. Ih, o civismo naquele tempo! Você, quando entrava na escola, tinha que cantar o hino nacional. Ou o hino da bandeira, ou não sei o que lá. E, quando saísse do fim da escola, lá se vai o hino nacional de novo. E você almoçava, porque não podia ir com fome, nove, dez horas a gente almoçava. Ia pra escola, tinha o recreio, o horário do intervalo pra gente brincar, e depois tinha um pé de cajarana muito gostosa. A gente ia no mato lá para comer a cajarana. Eu sempre tinha minha diversão. E, naquele dia, a gente tinha que ficar, nisso era muito bem organizado e muito respeito. Fazia uma fileira, duas fileiras, parece que duas meninas e dois meninos, pra cantar o hino nacional. E o silêncio, e o respeito. Na hora do hino, acabou tudo. E a professora ficava prestando atenção quem está indo bem, quem tá errando. Acontece que tinha eu e Luzanete, que era filha desse povo lá do Tessina, gente que já tinha irmã estudando em Fortaleza, no Crato. E eu pobre. Mas a gente era amiga. E Luzanete estava atrás de mim, e assim mais ou menos, pela altura, Salete, Luzanete e eu. Salete era a mais alta. E a gente tinha que ficar sem bater um no outro. Acontece que, lá pelo meio do hino, Luzanete me empurra, foi aquele empurra, empurra a outra, atrapalhou tudo, começaram tudo de novo. Aí, quando parou tudo, acabou, eu e Luzanete tivemos que cantar o hino nacional 20 vezes por castigo. Imagine duas meninas só cantando (risos)! Aquilo eram umas coisas muito rigorosas. Parece que eu tô vendo onde eu estava. Era uma casa, era não, ainda existe essa casa, diz que vão fazer um museu. Inclusive, um neto dessa família lá morreu, saiu nas redes sociais, morreu sozinho lá. Mas disse que ia fazer um museu. O alpendre é uma área bem grande, e a escola era num quarto. Eles dispunham um quarto pras pessoas darem aula lá. E tinha a porta que saía. Acabou a aula, debaixo daquele alpendre, naquela área, a gente ia cantar, saía, cantava o hino no começo e no fim. Às vezes, não era no começo porque chegava atrasado, mas no fim era indispensável. E essa vez eu cantei o hino nacional 20 vezes, eu e Luzanete. Luzanete já morreu, eu é que tô contando essa história que muita gente já se foi e eu aqui.
P/1 – Cleta, você estava falando que tem uma professora que está relacionada com o seu primeiro namoro. Como que foi isso?
R – Vixe Maria! (risos) Quando a gente tinha 11 pra 12 anos, as meninas começavam a ficar assanhada, mas ninguém podia saber, imagina! Aí, já começou a evoluir a coisa. No Isidoro, famoso Isidoro, a gente ia. Já tinha o Doutor Uchoa. O Doutor Uchoa é como irmão. Doutor Uchoa foi o seguinte. Ele também queria estudar, e o pai dele, Deus o livre: “Esse filho de uma égua, esse filho de uma rapariga, vai pra roça!”. Era assim que tratava. E ele era apaixonado por outra moça meio rica lá que tinha, ainda hoje existe a casa, tipo um sobradão, tinha o sótão lá em cima. E, quando o pai dele vinha da roça, esse Doutor Uchoa, vinha de tarde da roça com ele, tinha que passar lá em frente, que os pais eram compadres. E ele, apaixonado por aquela moça, ele tinha 14 pra 15 anos e ela tinha uns 13. Ou ele tinha de 15 pra 16 e ela de 13 pra 14. E ela ficava olhando lá da janela. E os pais conversando, e ele tinha que ficar de cabeça baixa pra não olhar pra ela. E olha a cabeça dele: pegava a enxada, porque vinha da roça, e se escondia detrás da enxada pra olhar pra ela (risos). A enxada cobre só o olho, que o cabo da enxada você conhece. Essa história é história da vida real (risos). Ainda tá viva Francisca Raimundo, Doutor Uchoa morreu. Mas todos os irmãos dele, quase todos fizeram faculdade. Só que Pizeca: “Deus o livre que esses cabras-machos, esses sem vergonha pra estudar na roça! É pra trabalhar na roça, aprender a ler pra quê?”. Eles são o fundamento dessa São Miguel. A família Miguel, por isso que tem a igreja de São Miguel. Aí, Doutor Uchoa e Pizeca vieram morar no interior de São Paulo, em Rancharia, e trabalharam na roça. E, aí, pronto, porque lá estava ruim, volta pra sua terrinha. Passaram dois anos e foram viver lá de novo. Eles vieram porque a coisa estava ruim, mas eles tinham açude, eles tinham a casa mais ou menos boa, casinha de três cômodos de tijolo, que ter uma casa de tijolo é a melhor coisa. E tinha uma bodeguinha, sabe o que é bodega? É um botequinho, uma coisinha assim, pra vender rapadura, farinha. A gente ia lá, comprava um litro de farinha, não era quilo. Uma banda de rapadura, uma caixa de fósforo, sabão em barra. As coisas necessárias só tinham na cidade, mas as pessoas mais velhas tinham uma bodeguinha e ali tinha duas bodegas, era a de Pizeca e a de Baraba. Pizeca era o mais velho do lugar, e o mais velho era o Chico Uchoa. Aí, ele falou que ia estudar para o pai dele, e ele: “Deus o livre!”. E ele aprendeu a ler e escrever também por lá mesmo, nessa mesma escola lá da... A escola do Isidoro, a primeira, foi na casa da minha primeira professora, só que minha irmã que aprendeu a ler. Eu já fui com ela. Aí, Doutor Uchoa – depois eu chego na minha... Doutor Uchoa, o Chico Uchoa tinha a bodega e tinha mesinha, tudo era moeda naquele tempo. Meu pai mesmo achava uma latinha de manteiga, enchia de moeda. Era manteiga em lata. O povo tinha o dinheiro, era guardado em moeda. Eu ainda cheguei a ver vintém, é porque hoje eu não encontro mais. Tenho moeda antiga, mas vintém não tem, não. Aí, vendia. Quando era de noite, deixava as moedas na gaveta. E a bodeguinha, agora tá uma vila lá cheia de casa, mas só tinha uma rua. Duas ruas. E uma carreira de casa que não tinha frente, só era onde tinha umas cinco ou seis casas, que era justo a casa do pai do Doutor Uchoa, que naquele tempo era Pizeca, tudo trabalhava na roça. E tinha a igrejinha no meio, e a casa de Baraba só e mais na frente, tinha uma ruazinha, talvez dez casas. Ainda existe do mesmo jeito lá, que era rua mesmo, casa de um lado e de outro da calçada. E no meio da ruinha tinha as duas bodega, um quartinho assim, era de Pizeca e de Baraba. Só que eles vendiam de dia, os compadres trabalhavam na roça, de noite, ia lá contar as histórias, fumo de corda. Nossa, quem é que não tinha um fumo de corda lá? Cigarro ninguém nem conhecia. Fumo de corda, papel, aqueles que eram um papelzinho que comprava pra fazer o cigarro, quando não fazia na palha de milho. E, aí, o Chico Uchoa falava que estudava, e o pai dele: “Deus o livre”. Quando foi uma noite, ele sabia que o pai dele tinha a bodega e era trancado. Tinha deixado as moedas na gaveta, ele se levantou da rede – que ninguém tinha cama, eu vim conhecer cama já era grande –, se levantou da rede, escondido, quando todo mundo estava dormindo, no escuro, porque tudo era lamparina. Foi na gaveta com a roupa do corpo, chinelo no pé, foi na gaveta com um saquinho na mão, os bolsos, roubou todas as moedas do pai dele, que ele já sabia mais ou menos que eram as moedas da semana. Foi três légua “de pés”, 18 quilômetros pra Acopiara, chegou lá, pegou o trem maria-fumaça, foi pra Fortaleza. E, quando Chico Uchoa sumiu, Pizeca foi chamar o Chico, porque ele vinha da roça de tarde, mas, de noite, aquela noite, ele quis fazer foi isso. Ele saiu de casa fugido, roubou as moedas. E, aí, foi morar em Fortaleza. Só que, aí, o menino sumiu. E procura, procura. Aí, viram ele na Acopiara, viram ele tomando um trem. E, com os tempos, ele mandou uma carta que estava morando em Fortaleza e não ia voltar mais, que ele ia estudar. “Como aquele filho de uma égua” – ele gostava muito dessa frase – “vai estudar? Aquele filho de uma égua, ele tem que vir é pra roça!” E Chico Uchoa não quis mais voltar. E sabia ler e escrever. Aquele tempo, você sabia ler e escrever, você fazia, não era o vestibular. No meu tempo era assim, se você soubesse ler e escrever, você fazia o curso de admissão ao ginásio. O ginásio era aquele, quinta, sexta até a oitava série. E, se você aprendeu a ler e escrever, seja com quem for, você já tinha condições. Porque fazia como uma prova, era o curso de admissão ao ginásio. Se você fosse admitido e passasse, você subia na frente. Aí, quando tinha o ginásio, já era doutor, que era muita coisa na vida! O irmão dele, Miguel, que já morreu também: “Todo mundo sabe, já tô na quarta série!”. Conclusão, lá ficou o Chico Uchoa estudando. Morando na rua. E ele mandava carta. Ele dormia na praça, aquela famosa, quem conhece Fortaleza, aquela do ventinho, a Praça do Ferreira, aquela do ventinho bom. Ele dormia na praça, ele trabalhava pegando as coisas por aí, ganhava, já ouviu falar um tostão, 200 réis, um tostão, um cruzado? Ele comprava 200 réis de farinha de mandioca, que talvez um quilo fosse um mil réis, que podia ser um real hoje. Duzentos réis equivale acho que a 20 centavos. E ele mandava isso nas cartas. Comprava três tons, que é 300 réis de coalhada, porque, naquele tempo, até nas capitais, ia muito leite e o pessoal vendia em boteco. Hoje em dia já não existe isso. Vendia coalhada. Hoje, existe iogurte, mas naquele tempo não existia essas coisas. Como compra iogurte, ele comprava um valorzinho de centavos de coalhada e misturava com a coisa e comia sentado na praça e ali dormia. E assim o Chico Uchoa foi ficando por ali e arrumou emprego, e arrumou trabalho. E ele queria fazer Medicina, era o sonho dele, o pensamento dele. A gente não tem sonho, ele pensava em fazer Medicina. Só que aí foi estudando e foi criando mais valor. E o pai dele sempre contra, sempre não quis. Aí, nas férias, ele já ia lá pra outra pessoa, com outra visão, e viu nós tudo, aquela meninada criada mal sabendo ler. Era tempo de Carnaval, ele fazia uma festinha de Carnaval para as crianças lá. Eram férias, eu lembro, a gente já fazia gincana naquele tempo, cordão, palavra em palavra e a gente acompanhando. Quem passasse, o vitorioso era quem sabia mais palavras. Aí, um tempo, eram umas férias, ele inventou, eu tinha 12 anos. E o irmão dessa minha primeira professora que eu já conhecia... Eu acho que eu tinha 11 e ele tinha 12 pra 13. Aí, fizeram, a coisa evoluiu muito, fizeram um grupo escolar, uma escola lá no Isidoro, porque era uma vila, morava mais gente, tinha uma igreja. Tinha até uma história, onde eu fui registrada, que era numa casa, mas era o cartório onde a gente registrava. Na casa de Lela, que era o sogro do meu irmão, morreu com 104 anos esse daí. Uns 15 filhos a família formada. Meu pai estudou com ele 15 dias, só isso e ele morreu sendo tabelião. Era com filho dele, que hoje é muita coisa na vida. Nossa, o filho dele tem muita formação e como ele falou, no papelzinho lá: “Meu pai teve a faculdade da vida”. Porque ele foi muita coisa, trabalhou na roça, trabalhou de fazer rapadura, foi muitas coisas. E nessa casa era o cartório. Tinha uma casa lá que era a casa de Pizeca, que era a delegacia. E de tudo ia da cidade, aqueles mais ricos que conhecia, já punha um cargo pra cada um. Aí, resolveram com o prefeito lá que já era meio parente, foi numa época que era Afonso Pena, ou já era Acopiara, fizeram um grupo. Afonso Pena não tinha, fizeram um grupo. Escola pra todo mundo. Eu não estudei lá, não, o sonho da minha vida. Eu ficava doente que minhas colegas podiam, mas eu não podia ir só. Eu tinha inveja disso, de estudar. Aí, conclusão, o Chico Uchoa foi numas férias fazer uma festa das crianças, como hoje em dia faz o Dia das Crianças. Não foi Dia das Crianças, foi tempo de férias. Para as crianças se divertir, pra dançar, inventava que iam dançar, inventava, fazia entrevista com as crianças, fazia pergunta e era uma festa das crianças. E ele mesmo dava alguma coisa pra comer, acho que dava balinha, alguma coisa. E aquilo foi um paraíso pra todo mundo! Só que nessa festa das crianças, os adultos inventavam que as crianças iam namorar. E as crianças já estavam tudo mais assanhadinhas, alguns já pensavam que estavam gostando. As meninas, o bendito desse Isidoro, que era um lugar mais evoluído, esse Isidoro, as meninas já falavam uma com a outra, que gostavam daquele menino, gostavam de outro, gostavam de fulano. E inventaram, nesse dia a festa, era sempre no domingo. Uma professora, irmã dessa minha primeira professora, muito linda, eu amo ela até hoje, amo de coração. Ela ia dar aula também noutro lugar, que era bem longe, noutra vila, que já tinha grupo e casa. Eu não sei se ela dava aula no grupo ou se era em casa, era em grupo também. Noutro lugar, que era bem mais longe. Eram uns dez quilômetros, talvez. Só que eles podiam. Do Isidoro, passava na frente da minha casa, e eles não tinham carro, não tinham caminhão, não tinham nada naquele tempo. Mas ela ia de cavalo, porque eles tinham os cavalos. Só que ela ia pra passar a semana lá, dormir na casa de alguma pessoa, porque não podia ir dia a dia. E um irmão dela, o mais velho ia levar ela, ia na garupa do cavalo, deixava ela lá. Quando fosse no sábado de manhã ou na sexta de tarde, ia buscar e era assim que funcionava. Aí, teve a festa no domingo. Foi aquela coisa mais linda, doutor... o Chico Uchoa, chamavam ele de Chico Uchoa, Doutor Uchoa, mas costumava chamar de Chico Uchoa. Eu nem falei, porque ele não fez Medicina, ele fez Direito, porque, quando ele foi fazer anatomia, ele não teve coragem, ele viu sangue lá e saiu fora. E ele queria que o irmão dele fizesse, e o irmão dele morreu com 22 anos. Ixi Maria, ele tem uma história assim que eu fui lá em Fortaleza. Ele foi lá, é uma história bem... Esse povo ainda são amigos até hoje, ajudam muito. Aí, tudo gente pobre, pobre do nada, era gente assim. O mais rico era esse Doutor Uchoa, que o pai não queria que ele estudasse. E ele foi com as moedas roubadas. Aí, no outro dia, todo mundo arrumou namorado. O meu irmão foi namorar com Cecília, não sei quem foi namorar com a outra. E fulano foi... E eram aqueles namoros arrumados lá: “Ah, você vai namorar com fulano”. Não tinha, antigamente, arrumado? “Você vai namorar!” E essa professora, que é irmã da minha primeira professora – essa ainda está viva, minha primeira professora morreu agora há pouco tempo. O irmão dela era esse menino que ia levar. E ela escolheu, ela e o povo lá, de ele ser meu namorado. Mas era namorado, só que a gente não conversava. “Você agora é namorado dela.” E a gente já ficava bem animadinho, achava que estava namorando mesmo. Eu fui muito curiosa. Tinha essa professora, a Aurenise, irmã dessa outra professora que levava minha irmã. E eu já ficava escutando: “Eu tô namorando com fulano e namoro fulano”. Eu já via que, naquele tempo, as moças tinham dois namorados e falavam. E eu era muito curiosa pra saber isso. Aí, me arrumaram esse namorado. Tinha o outro menino, que arrumaram outra namorada pra ele, mas ele era o que tinha que namorar comigo. Inclusive, ele morreu já, mas depois foi cunhado de meus dois irmãos. Filho do bendito do tabelião que me registrou. Aí, mas tudo menino mesmo, nada gente grande, não. Era tudo menino. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, se a aula lá começava dez horas, logo cedo ele já passava. Saía do Isidoro pra ir para o Monte Alegre. A minha casa, bendita casa que eu não trouxe a foto! Eu trouxe foi da outra, mas eu tenho a foto dessa casa, tem mais de uma em casa. Vocês vão ver como é interessante, aquela casona grande de taipa com aquela porta lá e a janela do lado. E o prazer das pessoas era passar na casa das pessoas que gostava mais. A pessoa que era mais amigo da família era a casa da minha mãe. E nós, a festa tinha sido de noite, Helena, muito descontraída, uma moça muito bonita, tinha que passar na minha casa. E, quando ela passou na minha casa: “Ei, Candinha, tu não foi ontem, foi muito bom, os meninos tudo namoraram. E por que tu não foi?”. “Não, não pude ir.” Tinha os pequenos em casa que não podia levar, só foi os meninos, o pai levou. O pai levava, e a mãe ficava em casa. E aquilo foi muito bom. Aí, Vanier, que é o irmão dela, sentado na garupa do cavalo. Tinha uma roça bem grande na frente. E eu, escutando aquela conversa, já via que aquilo ia tocar em mim. Aí, minha mãe chamava Cândida e na intimidade chamava Candinha: “Oh, Candinha, tu não sabe de uma. Cleta tá namorando com Vanier!”. Isso, Vanier ficou morrendo de vergonha e virou a cara para o lado da roça e ficou xingando: “Vão tudo pra merda!”. E ele, morrendo de vergonha, e eu também lá dentro. A casa tinha a sala, ela ficava com o cavalo, a cavalo, eles não desciam do cavalo, era só pra bater papo e beber água. Bem pertinho da porta. E tinha a porta no meio, eu ficava do outro lado, na outra salinha que tinha, perto da cozinha. Mas não tinha porta assim no meio, não, você via o outro. Só que eu me escondia com vergonha de mostrar a cara. E o outro lá, morrendo de vergonha de mostrar a cara dele lá (risos)! Aí, mas olha como eu também já era sem vergonha, eu já ficava pensando quando ele voltasse, ele ia voltar só no cavalo. Menino, filho de gente rico, de gente mais ou menos, sabia cavalgar. Ele já ia pra voltar no cavalo, e, quando as pessoas passavam pelas casas, tinha aquela mania de pedir um copo d’água. Às vezes, não era por nada, é porque queria que a moça trouxesse, é porque queria olhar pra alguém, sempre tinha uma história de namoro e caneco d’água. E um rapaz lá de Santo Antônio, que ia para o Isidoro, às vezes, batia só pra pedir um copo d’água e não estava com sede, não. Aí, eu já ficava pensando, minhas coisas foi sempre sem falar pra ninguém. Ficava pensando aqui em mim: “Quando ele voltar, tomara que não tenha um adulto na sala!”. Minha mãe costurava numa cadeirinha, ficava assim na máquina de costura, ficava de costas pra porta. Mas era justo na hora que ela tinha que fazer a comida. Como ele ia voltar logo, aquilo na minha cabeça, eu já pensava: “Ele vai voltar e parar pra pedir um copo d’água, aí, é a vez de eu namorar!”. Eu olhar pra ele, já era namoro (risos). Caneco de alumínio pendurado num negócio que chamava copeira, não tinha Bombril, não tinha nada. Era com palha de arroz, aquilo brilhava! E tinha coisa mais prazerosa que você dar um caneco d’água, um caneco de alumínio num copo bem limpinho, tirado do pote? Era assim. Tinha o caneco com a coisa de pegar aqui, punha lá dentro, pegava o copo com a outra mão, tinha o copo e o caneco. E entregava. Aquilo era um paraíso, nada de copo de vidro. E aí foi meu primeiro namorado. Só que as coisas passaram, e aí criou uma febre, todo mundo deixou e todos os meninos namoravam. Quando tinha novena no Isidoro, 31 dias de novena no mês de maio, mas eu só podia ir no domingo. As meninas, minhas colegas, minhas grandes amigas, minha maior amiga, que era Helena Pereira, ainda existe aqui em São Paulo, ia na semana, mas eu não ia. Porque o meu pai ia levar, e os meninos, que já eram meninos, chegavam da roça, tomavam seu banhozinho, jogavam água, trocavam a única roupinha que tinham e iam pra lá assistir a novena e brincar. Aí, brincava de passa anel, brincava de “o que é, o que é”, mas eu não podia ir porque era menina, e o pai não ia levar menina de noite. E as minhas colegas, que nós já sabíamos escrever e ler – Aldeci está muito doente, coitadinha, lá na Lapa, lá em Pirituba. Aldeci, Maria José, a Preta de Elizeu, Helena Pereira, nós éramos assim. A Letícia era umas colegas, mas Aldeci, Maria José, a Preta de Elizeu e Helena Pereira, nós éramos umas amigas que, quando chegava, tinha aquele negócio. Quando era muito amiguinha, ficava só junto ali pra falar nos meninos. E a gente já ficou assim, quem ganhou o namorado, o que fazia era isso, escrever o nome dele. Como a gente não tinha muita caneta nem lápis, tinha uma madeira que chama jucá. Se você riscar ela com prego, você escreve bonitinho. E é lá onde eu escrevi o nome de Vanier. E você escrever o nome de um menino, já era um namoro firme, pra casar. E tinha o outro menino, que era quem queria namorar comigo. Só que o outro menino ficou sabendo, e ele queria namorar comigo. E ia comprar louça, aquelas panelas de barro, e passava na minha porta. E ele tinha um menino, o irmão dele, já era pequenininho e ele levava o menino pra comprar louça lá. A mãe dele mandava ele comprar, mas ele ia mais era pra passar lá pra achar que estava namorando comigo. Como era o jeito dele namorar comigo, levar o menino e pôr o menino pra conversar comigo. Eu perguntava como era o nome, era um menininho pequeno. Perguntava como era o nome, o que ele queria, essas conversas mesmo, que era coisa de antigamente. Só que eu não sabia, eu achava muito bonito esse que levava o menino, era lindo e queria namorar comigo. Eu sabia, porque já corria conserva e um falava para o outro, falou na escola. Mas eu gostava mesmo era do bendito do outro. E ficava entre os dois. O que eu fazia? Pegava carvão, tinha umas tábuas lá, umas coisas lá por dentro do quarto, e eu escrevia Everaldo, que era o nome daquele outro, e Vanier, o nome dos dois. Porque eu via as outras moças dizer que tinham dois namorados, eu também podia ter. Só que a coisa estava na pendência, esse meu irmão, que era difícil, até hoje ele é difícil, ele aprendeu a ler. E alertava meus pais: “Cuidado nessa menina, cuidado na Cleta, que ela tá escrevendo em todo canto Everaldo e Vanier”. Como ele falava enrolado, ele falava Juaniê! Parece que eu tô vendo: “Todo canto, agora eu vejo Everaldo e Juaniê, e é a Cleta que está escrevendo, cuidado na Cleta!”. E era uma das coisas que passou na minha vida naquele tempo.
P/1 – Cleta, só retomando, a gente estava falando dessa questão dos namorados, você estava entre o Vanier...
R – Vanier e Everaldo.
P/1 – E, aí, você escolheu um deles, como foi?
R – Não, a história foi a seguinte. Porque, aí, tinha as coleguinhas, como eu estava falando. À noite, eu não podia ir na semana, eu só ia no domingo. A chance de eu olhar pra ele ou saber que a gente estava em algum lugar que fosse próximo ao outro era no domingo. Mas, na semana, tinha as novenas também e, como eles moravam lá na vila, as meninas iam encontrar com eles. Tinha uma menina muito bonita, como eu te falei, ainda está viva agora, está com câncer, mas está, a Preta. E ela era daquelas meninas que, desde menina, ela foi mais saída e ela começou a namorar com ele. E as outras meninas, pra ver eu sofrer, mandavam um bilhetinho: “A Preta está namorando com Vanier”. Ai, que sofrimento, meu Deus! Ai, que sofrimento pra mim. Saber, eu pensava logo que era bonita, quando eu ia lá no domingo, também não sabia o que tinha acontecido. Mas, às vezes, tinha oportunidade de ver ele, mas também não era muito, não, nos tempos passados a gente não ia muito. E foi uns tempos, só que depois... Eu não gosto muito dessa história aí não, nem sei por que eu toquei ela. Porque nós nos vimos nessa época, aí, passaram uns dois anos e teve ano que não choveu, e a família dele, que era mais ou menos, resolveu ir embora. E eu passei mais de cinco décadas sem ver Vanier, muito mais, quase seis décadas. Porque ele foi embora para o interior de São Paulo. Depois, ele veio morar em São Paulo. Depois, por lá eu casei, e passaram meus tempos, eu não esquecia, mas também tive até outro, que quis casar comigo e eu não quis. Eu não era aquela pessoa que gostava de namorar, não. Namorinho meu era se desse, não desse. Teve um que era pra casar comigo, não casei porque eu não queria casar jovem, é história minha também. Mas, depois de adulto, esse aí também foi, ele mandou aquele Evaldo, ele, pra sair de lá. Ele teve que servir a Marinha, ser aprendiz de marinheiro, e por lá ele foi e casou. Acabou e ninguém se viu mais na vida.
P/1 – Mas o Evaldo não foi o que quis casar com você? Evaldo era o grande amigo?
R – Não, Evaldo era o grande amigo. O irmão dele também não quis casar, era até menino quando a gente pensava que namorava.
P/1 – O Evaldo era o seu melhor amigo?
R – Esse era, e está no outro mundo, mas nós ainda somos amigos! (risos)
P/1 – Mas qual a lembrança mais querida que você tem do Evaldo?
R – Aquela história que eu estava começando do livro que a gente... Todos, porque ele, o que acontecia, a gente podia conversar, não tinha segredo naquele tempo. E depois ele foi ficando mais instruído e tudo, o que ele aprendia ele passava. E a história daquele livro, parece que era Núpcias, Noiva e o Sexo, ou era outra palavra. E aquilo foi muito escondido. Quando descobriram, quando ficaram sabendo que Evaldo tinha levado esse livro, Helena Pereira era tia dele, só que era mais nova do que ele e do que eu também. Mas os três eram muito amigos, e nós duas sabíamos desse livro. E outras pessoas ficaram sabendo, que ali era uma fofoca. Essa é uma lembrança. E muitas! Coisas pra esquecer de Evaldo é tudo na vida, porque... Lá, naquela época, a gente juntava num domingo, nós já éramos adultos, já não tinha mais segredo, já não era mais criança, já passou a adolescência, já passou tudo. Já eram pessoas adultas. Inclusive, quando foi pra eu casar, ele morava já em Fortaleza, acho que talvez já estava noivo. Mas, quando ele soube, ele foi lá saber, me explicar a vida de casado, como é que eu tinha que fazer. Ele tinha aquele amor por mim, que explicava: “Você acha que vai dar certo mesmo?”. Antes, eu namorei com um primo dele, que tinha servido o Exército lá em Fortaleza e foi lá passear e nós namoramos. Mas, quando ele soube, ele foi lá pegar no meu pé: “Como é esse namoro? Você namorou Vagner?”. Eu encontrei esse Vagner também depois de 60 anos, mora em Fortaleza, já fui duas vezes na casa dele. Agora, aquele outro, quando eu encontrei, tinha muitos anos. Ele morou em São Paulo, e eu morei em São Paulo. E eu queria saber notícias dele, mas também eu não podia, eu era casada, eu nem podia. Mas sabe quando uma coisa não sai da cabeça? Eu sabia que ele morava em São Paulo, eu sabia que nunca deixei de ter vontade de ver ele, nunca esqueci, mas era uma coisa, aquela coisa que é impossível, deixou. Ele também falava de mim e lembrava da nossa história de criança. Inclusive, ele só teve duas namoradas nesse lugar, fui eu e essa menina que, enquanto eu não ia lá, ele namorava com ela na semana, mas eu ficava para o domingo. Coisa de criança também, não era namoro, era coisa de criança. Ele veio embora também criança, veio embora tinha 12 anos. A minha neta fala assim: “É o de 12”. Porque, quando passaram muitos e muitos anos, eu nunca esqueci, eu tinha que lembrar dele. Olha, veja, já tinha passado acho que mais de 50 anos, era bem mais, eu fui na festa de 100 anos do pai do outro. Veja bem! Teve uma festa muito grande, e eu fui. O outro, duas irmãs dele são cunhadas minhas, porque, naquele tempo, casava família assim. Eu tenho dois irmãos que são casados com duas irmãs desse outro. Eu gostava dele também e achava ele mais bonito do que o outro. E ele achava que era namorado... Depois que ele falou: “Tomaram a minha namorada”. Nós brigávamos, porque tomaram a namorada. Porque a história era assim. Quando eu não ia à noite, aí, quando era no domingo, a casa desse outro ficava, tinha a vila, um espaço assim de uns, meio longe, como fosse assim uns dois quarteirões ou três de rua, pra eu entrar no Monte Alegre. A primeira casa daquele outro era a primeira casa do Isidoro. Mas, pra chegar lá no alto, na igrejinha, tinha um espaço de uns três ou quatro quarteirões, se fosse aqui. E a gente tinha que vir caminhando. Mas as novenas, a gente ia mais nas noites de luar, porque não tinha luz. Se fosse à noite, não tinha luz, as mães levavam uma lamparina pra levar os filhos, e as filhas, pra ter cuidado, se estivesse namorando, ela ia na frente ou punha os meninos na frente e ia atrás. E, quando a gente voltava, aí, eu ia no domingo, era meu dia, às vezes, no sábado, não. E com certeza ele era apaixonado por mim e eu por ele, ninguém sabia, mas vinha aquele grupinho junto, saía da única ruinha que tem. Aí, caminhava um pouquinho a descidinha, quando chegasse assim no fim, passava para eu ir para o Monte Alegre, e entra num corredor assim, que era a última casa, era do outro. Vinha eu, o outro e mais um bocado de gente. A mãe dele tinha ele e mais três meninos mais novos, duas meninas, tudo mais novo do que ele, e uma mais velha e tinha ele. Que era mocinha, 15 pra 16 anos, que namorava com o irmão desse dito Doutor Uchoa, que todos se formaram lá, só não esse Ananias. E vinha namorando. Quando nós se despedia, separava, a casa dela ficava do outro lado assim, passava por cima da parede do açude, e eu seguia aqui com os outros. E o outro ia junto comigo até a casa dele, porque ia passar em frente da casa dele. Ele achando que estava namorando comigo e ele já era mocinho, os pais não estavam se importando muito. As meninas subiam e iam pra casa, que as meninas, inclusive, duas casaram com meus irmãos. A casa era assim pertinho da estrada e a casa ficava assim, elas entravam, mas ele achava que estava namorando comigo, ele ainda ia até mais adiante comigo e depois voltava. Isso não era conversando, era só junto, todo mundo ia junto e ele. E junto era namorado. Quando era na segunda-feira de manhã, eles iam pra escola, os meninos. Aí, o Everaldo, que era esse que... O que eu gostava menos, que era o mais bonito. Aí, quando chegava na hora da mulher entrar com ele, todo mundo pra frente. Aí, dava só uma olhadinha assim bem de longe, ele entrava: “Não, não, não!”. Ela tinha medo, ele até que queria me acompanhar mais um pouco, que ele podia até, se fosse igual o outro. O outro que ia acompanhado de pai e mãe, enquanto ninguém ligava pra esse, o outro subia comigo. Mas ela era viúva, e ele era o filho mais velho, já com 12 pra 13 anos. Naquela época, ele tinha 12. E ele quem toma conta, era: “Vamos, vamos”. Se ele fosse com outras pessoas, podia me acompanhar, mas ele ia com a mãe, e a mãe muito rigorosa, aquela mulher muito arrogante, pegava os três pequenos e as duas menininhas e iam tudo. Ainda ficava a outra namorando, ela tomando conta, e ia. E eu seguia lá. Olhando com aquela vontade de ver, ou olhar pra lá pra ver ele caminhar, alguma coisa assim. Ver caminhar pra mim já era alguma coisa. Mas eu não tinha chance nenhuma. O outro se aproveitava, e iam meus irmãos, aquelas pessoas que a gente ia de companhia com eles, que às vezes era vizinho, e passava em frente da casa dele. Ele vinha com as irmãs dele, as irmãs dele subiam pra casa. Meu irmão não namorava, era pequeno ainda, era tudo menino. E subia. Aí, quando era no outro dia de manhã, na hora da escola, o que o Everaldo falava para o Vanier: “Vanier, você é muito bobo! Sua mãe lhe levou, eu fui mais Cleta, eu fui namorando, eu fui até lá em cima na...” – não era esquina, tinha uma subida assim, um corredor: “Lá em cima do corredor”. Passava da casa dele, era subida. “Eu subi, fui até lá em cima com ela. Seu besta, quem tá namorando com ela é eu!” O Vanier chorava como um besta, até hoje a gente comenta isso (risos). Ele não tinha outra alternativa, a gente só chorava e ele chorava feito um bobo. Porque o outro tinha ido namorando comigo. Namoro esse que a gente não sabia se era namoro (risos). E saía era comentário. Aí, depois, ele foi embora, a mãe dele veio embora, parece que eu tô vendo. A mãe dele foi embora numa terça-feira, e a outra professora, que era vizinha dele, tinha um negócio de levar uma menina pra ir. Ela passava a semana lá, no fim de semana ia pra casa dela, e as mães deixavam levar uma menina. E a gente ficava lá, mas não se olhava. E a dor de eles virem embora. A gente ia no sábado, passava o domingo, na segunda-feira de manhã, a gente voltava. E eles iam embora para o interior de São Paulo na terça-feira, embora com tudo, já tinha vendido tudo. E ia passar um caminhão ali, que eles iam embora e ninguém sabia. Aí, perdeu o rumo mesmo. Mas eu ainda lembro das conversas naquele dia. Ele não podia olhar pra mim, ele fazia uma promessa, mas fazendo pra família. Lá tinha o negócio do choro, Aldenora, que era a outra professora: “Maria Francisquinha vai embora”. Aí, ele pra... Talvez, eu pressuponho isso até hoje, pra ver se eu me conformava: “Não, daqui a uns dois anos a gente volta, é só porque aqui não choveu, quando o tempo melhorar aqui, a gente volta”. Que nunca voltou! (risos) E passaram os anos, e eu queria saber notícias. Quando ia, naquele tempo, era carta. Aí, mandou uma carta, depois esqueceu de carta. Depois, passaram uns tempos, após, eu casei, vim morar em São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo, tudo gente da família, parente, outro que era criado, chamava irmão de criação, fui morar na casa dele. Eles são muito amigos da família, compadre e tudo. Aí, quando esses que vieram primeiro, que eu estava morando junto, comercial, eles no mesmo quintal, vieram e foram morar junto lá. Aí, começava a falar: “Olha, Vanier mora em Pirituba, mora não sei onde, ele ajuda muito a gente aqui”. Aquilo não tinha nem como fazer muita conversa. “A Ieda casou e mora aí e mora tudo aqui, Francisquinha.” O meu irmão, que já morreu também, que, quando ele vê as menininhas, meu irmão bem mais novo do que eu, as menininhas eram pequenas, começaram a se encontrar. Sabe como é São Paulo, vem do Nordeste, a gente se encontra, mora em tal canto. E fizeram amizade. Quando era no domingo, nós morávamos na Água Rasa. Meu irmão ia pra Pirituba pra encontrar as meninas, passear lá, mas o interesse dele mesmo era... Tinha encontrado as meninas pelo Brás, estava trabalhando numa loja, a outra na tecelagem. Essas conversas quando chega do Norte! E, quando ele chegava na segunda-feira, ele contava: “Gente, eu fui na casa de Francisquinha. Vanier, quando me viu, quase ficou doido perguntando por você, Cleta. Como é você, o que faz”. Aí, Vanier ia contar aquelas histórias de quando era criança, que nós namorávamos, e o que ele sentiu e o que sentiu quando veio embora e que ele só teve duas namoradas lá. Aqui, nesse mundo afora, eu não sei. E tudo quando era menino, não foi nada de adulto. Era eu e essa, que era bonita, que eu tinha ciúme, porque ela namorava com ele na semana, e eu no domingo. Acabou, e eu também nem pensar. Aquilo, quando meu irmão contava, eu preferia tirar da cabeça. Meu marido, aquele nordestino cearense, se eu fosse falar dele! Aí, eu tinha que respeitar, não porque era respeito, da vida mesmo. E, passados todos os anos, mas eu nunca esqueci de Vanier. Aí, eu fiquei, passaram muitos anos, já quase 40 anos de casada, não sei quanto, e eu aqui. E veio uma prima nossa, uma parente nossa. Parece que as coisas são uma tentação. E, do Nordeste, vinha muita gente pra esse lugar de Pirituba, Morro Doce, Jaraguá, aquele povo. No tempo do Canal 9 (risos), vocês nem lembram disso. Aí, a Zoraide era amiga nossa, assim junto, lá do mesmo lugar. E ela veio embora, casou com um primo também, os primos tudo da família. E como ela era amiga, ela quis passear na minha casa. “Cleta mora em São Paulo?” “Mora, lá em Itaquera.” E ela, morando lá perto, morava em frente ao Pico do Jaraguá. Aí, quando ela veio na minha casa aquele domingo, os maridos eram amigos e foi conversar. Aí, ela foi contar. Eles foram para o bar, os maridos saíram, ela foi contar: “Vanier é quem ajuda todo mundo. Se não fosse ele, nós chegamos aqui sem nada. Ele acolheu na casa dele”. Depois, olhando pra minha pia: “Arrumou um quarto pra nós morar do tamanho dessa tua pia! Mas foi ele que arrumou, hoje nós estamos trabalhando”. Aquilo ali já me tocava. Eu sabia que ele era uma pessoa acolhedora. Não sei por que tinha que falar no nome de Vanier. “Quem é Vanier?” “Ah, Vanier é assim.” O primo dele, Daladier, tudo tem esses nomes assim. Quando cheguei em São Paulo, a primeira visita foi dele. Chegou lá: “Sabe quem eu vi hoje? Vanier. Cleta, ela tá morando em São Paulo, fui visitar ele”. Mas eu não queria que tivesse assim uma notícia de um para o outro, não. Não esquecia, mas fazia de conta que tinha esquecido aquilo na minha vida. Passou, morre fulano, morre fulano, aí, eu comecei a saber que Vanier tinha mudado muito a vida, Vanier tinha ficado uma pessoa ruim, ele primeiro evoluiu na vida, primeiro foi muito acolhedor, e depois ele ficou muito galinha, ficou alcoólatra. E, aí, os parentes, os primos, quem podia passar uma notícia, mesmo sem eu perguntar: “Ah, você não sabe o que aconteceu com Vanier. Vanier, hoje, parece um doido, Vanier foi embora”. Já com 16 anos que eu estava morando em São Paulo, eu fui passear lá no Isidoro. A primeira notícia que foi: “Vanier passou aqui!”. Aqui, eu não sabia, não tinha notícia, onde que eu fui saber? “Olha, mas como que está Vanier?” Isso, nós já estávamos com nossos 60 anos pra lá. “Vanier, sabe o Sivuca? Ele é daquele jeito, uma barba branca, não sei o quê, parece um velho!” Aí, eu pensava assim: “Aquele menino tão bonito, será que Vanier ficou assim?”. Aquilo eu não acreditava, mas pulava pra não me lembrar dele, minha questão era não me lembrar dele. Fui embora. Passa tempo, eu sabia mais notícias dele. Nessa bendita festa de 100 anos, já passaram bem uns dez anos, e eu com ele na lembrança, mas não queria mais nem saber, nem perguntava a ninguém. Na festa de 100 anos, mataram dois bois, não sei quantas galinhas, tudo que tinha pra fazer. Uma festa pra 800 pessoas, pra juntar todo mundo da época. Com quem eu me encontro lá? Helena, a irmã dele, aquela professora que levava ele na garupa do cavalo. Quando aquela Helena, ela ainda é hoje uma pessoa muito descontraída, muito bonita, ela agora tem 80 e tantos anos, você pensa que ela tem 50. Muito linda, uma pessoa muito de cultura. Quando Helena me viu, ela passou e pergunta por esse, por outro. Eu: “Dá notícia de Dona Alaíde” – minha primeira professora, 49 anos que a gente não se via. “Alaíde está nessa festa.” Foi aquela alegria, mas eu não quis saber nada de Alaíde, porque Alaíde não tinha vínculo com a nossa primeira história. Aí, perguntei de Ieda: “Cadê Ieda?”. “Ieda mora na Penha, em São Paulo, na mesma casa que ela morou toda a vida.” Nunca encontrei com eles aqui, com ninguém da família. Tinha as irmãzinhas dele, tinha todo mundo, os irmãos já morreram os três. Encontrei com dois irmãos dele, na casa da minha mãe. Mas também não queria falar de Vanier. Mas os infelizes chegaram lá. E falou: “Sabe onde eu almocei hoje? Na casa de Elefante, Cleta estava lá.” Isso era pra ele se lembrar de mim. Mas eu não mandava notícia, eu nem perguntava dele. Aí, quando foi nessa festa, isso não faz muitos anos, não. Foi em 2007, dia primeiro de janeiro de 2007. Aí, Helena: “E tu lembra de Vanier?”. Eu digo: “Lembro. E Vanier ainda é vivo?”. Já tinham morrido os dois pequenos, os dois mais novos. “Vanier é vivo, bonito!” Que conversa é essa? Vanier é vivo! Aí, eu já fiquei mais interessada. Esse tempo, eu não sabia, mas o meu marido já estava perto de morrer. E meu marido era muito ruim, ele tem que estar no céu, porque, se estivesse aqui, me perturbava! Essa história do purgatório, ele não pode ficar lá, porque ele vem e me perturbava (risos). Ele era aquele danado mesmo. Eu fui a essa festa, mas meu marido estava já com outra, mas mesmo assim era chato, ciumento, era chato. Aí, eu já tive até um interesse. Como eu encontrei Helena, pessoa íntima, nós falamos de muita coisa. Aí, ela falou que Ieda morava na mesma casa, mas eu não sabia se... Não era pra eu falar dessa história de Vanier nessas minhas histórias, eu não queria, mas o que vai fazer? Ele não pode saber que eu tô falando dele também. Também ele já está velho agora, está todo mundo curado. Mas, aí, ela falou tudo: “E Ieda?”. Eu falei: “Nunca vi Ieda em São Paulo. Aliás, nunca vi ninguém, vi Joaquim e Firmino na casa dos meus pais uma vez”. Aí, ela: “Ele mora no Pará, tem filho formado, não sei o quê”. Até aí, tudo bem. “Cleta, um dia, tu vai ver Vanier, mas como não tem jeito.” Mas eu nunca esqueci, eu queria ver Vanier. Aí, passaram uns anos. Ela falou onde Ieda morava, e Ieda mora aqui na Penha. Muitos anos, passaram 40 anos de casado. Nesse tempo, ela já tinha... Ela veio morar no interior e casou, não sei, e morou aí toda a vida. Aí, tinha uma amiga, vizinha deles lá, irmã dessa outra professora que eu tô falando, que morava aqui em São Paulo, perto de mim. E falava também de Vanier. Aí, eu ia na casa dela, e nós tínhamos perdido contato, elas com Ieda que mora na Penha. E eu, tudo é comigo, quando precisa de uma coisa, vai na Cleta que ela... Tem umas histórias, aí que é engraçado, a Cleta descobre. Aí, eu, conversando com Adália, ela falou: “Cleta, eu sei mais ou menos onde Ieda mora. Tem a Rua Caquito, tem uma descida, vai ver”. Eu cheguei a ir num dia de sol, andei, andei, andei e não encontrei. Mas as pessoas ficaram curiosas pra saber notícia de Ieda, as primas, uma que já morreu agora há pouco tempo, fazia uma festa todo ano na casa dela. O aniversário dela e do marido era no mesmo mês. E elas ficaram interessadas em saber notícia de Ieda, que estava morando na Penha, e eu não sabia. Muita gente estava querendo saber, mas ninguém... Ieda foi uma pessoa assim mais metidinha, naquela época. Como ela tinha já se formado, as irmãs tudo eram professoras, Ieda já... “A Ieda é meio boba, será que ela vai aceitar?” Aí, eu fui visitar a Adália, que morava perto de mim, não era muito longe. A Adália me deu todas as dicas: “E eu também quero ver muito Ieda, o que nós fazemos?”. Aí, não achava, não achava. Eu sou muito curiosa, eu consegui o telefone da prima dela e prima de Vanier, desse povo, que mora em Pirituba. Como eu consegui é que eu não me lembro. Foi passando de conversa a conversa, eu consegui. Que eu queria saber o telefone de Ieda, e ninguém sabia. Quando foi um dia, Maruzinha, uma pessoa... Ah, essas que moram em Pirituba, falou: “Quem deve saber é Maruzinha”. Eu liguei pra Maruzinha. Maruzinha falou: “Eu não tenho, Cleta, mas eu sei o da Maísa, e a Maísa tem o telefone de Ieda, porque é irmã”. São tudo primos legítimos, nós tudo do mesmo lugar, criado junto. Aí, quando foi uma noite, eu estava lá já deitada, minha neta chegou: “Vó, telefone pra senhora, Marizinha”. Aí que eu lembrei, Maruzinha. Quando falei: “Ah, Cleta, ouvi falar que você quer o telefone de Ieda, já veio lá de Pirituba, e eu tenho, eu peguei com Maísa” – que mora na Freguesia do Ó. Aí, eu fiquei cheia! Ficou entre as primas e as colegas, a Adália falava: “Liga pra tu saber”. Não, as duas lá, que era muito amiga, vizinha e prima, aliás, essa outra era madrinha dessa, uma coisa muito familiar. E ela falou, ninguém queria porque tinha medo de Ieda não aceitar o contato. Tantos anos, ela mora assim, se ela não procurou contato, ela também não aceitava. Aí, ficaram assim: “Manda Cleta ligar”. Eu falei: “Liga você, Maria”. Ela: “Faz o seguinte, se ela ligar e não aceitar, tudo bem, você se cala. E vamos ver”. Que ela ia fazer a festa e queria convidar pra festa. Olha que oportunidade, que eu ia ver a irmã dele outra vez. Aí, eu criei coragem, liguei: “Quem é?” – você não imagina – “É você, Ieda?”. “Quem tá falando comigo?” “Você lembra de Cleta de Elefante?” “Lembro muito!” Aquilo foi a maior surpresa pra mim! Lembrou de infância, lembrou de coisa. Ela, naquele tempo, era orgulhosa, não queria saber, mas lembrou de tudo, das festas que a gente ia, das coisas de lá e aquilo foi muito bom. Aí, tudo bem: “Um dia, a gente vai se encontrar, eu moro perto de você”. Eu morava em Itaquera, ali perto da Arena, e ela morava na Penha. Eu digo: “A gente mora quase vizinha”. Avisei pra minha colega e avisei pra Adália, que ficou toda feliz: “Só você mesmo Cleta!”. E a Maria ficou toda feliz. Aqueles tempos, a Maria ia fazer a festa de aniversário. Já fez convite, e lá nós encontramos. Eu vi Ieda, que fazia mais de 50 anos que a gente não se via, eu vi a filha dela, conheci muita gente, gostaram muito de mim, passou. Quando passa o ano, isso foi em agosto, mas eu nem toquei assunto de Vanier. Ficou só na lembrança, mas eu que não esquecia. Isso foi em agosto. Quando foi no começo do ano, a Maria, essa que é do Carrão, ligou pra mim: “Cleta, vão fazer uma festa na casa de Ieda e disse que você não pode faltar. Que quem vai vir, é uma festa, que se formou de Direito, o filho de Vanier, e essa festa vai vir muita gente do Isidoro e você não pode faltar”. Já tinha uma combinação delas lá, das primas, vai ser uma oportunidade pra Cleta ver Vanier. Só que eu não sabia se Vanier casou, como era a vida. Eu sabia que ele tinha um filho advogado, tinha três filhos, um advogado, tinha morrido um filho dele. Helena falou, morreu um filho dele adulto. E, sei lá, estava parado até aí, congelou aí. E essa festa era da formatura, porque termina em dezembro e se forma em março. Aí, era pra ser em março. Mas foi passando, eu estava fazendo uma reforma em casa. E já convidaram, avisaram pra Adália também, que era pra nós se encontrar. Adália já vai falando: “Olha, nós, em São Paulo, se não fosse Vanier, Vanier foi quem arrumou trabalho pra Raimundo” – marido dela – “Arrumou lugar pra nós morar”. Eu falei: “Eu vejo falar que é uma pessoa muito acolhedora”. Só que eu não demonstrava nada que eu estava me lembrando dele. E se vai aquela conversa danada. E chegou março. Não foi em março, essa história foi no dia 9 de abril. Só que parece um castigo. Quando foi numa quarta-feira, a Maria me liga. Eu estava fazendo uma reforma e eu saía muito. “Cleta, onde você está que Ieda está lhe procurando em todo canto, que vai ter a festa lá e é pra nós todos irmos, todos os parentes, primos, e vai ser na casa dela.” E eu não sabia onde era a casa dela, não tinha ido lá ainda. “É na casa dela na Penha, mas eu tenho o endereço, e agora nós vamos e é pra você ir sem falta. E Adália, e vai juntar todo mundo. E ela não encontra você nem Adália, quem atende na sua casa é um homem que diz que é o pedreiro e nunca te acha em casa.” Eu falei: “Tá bom”. “E é pra domingo você ir lá, você não falta.” Aí, o mundo se abriu pra mim! Nisso, passaram dez minutos, toca o telefone. Olha as coisas do mundo como acontece, a ironia do destino. Era Maria de novo: “Cleta, você não sabe o que aconteceu, a Ieda tá procurando você e Adália. Assim que ela desligou daqui, ela ligou pra casa de Adália, que uns dois ou três dias ninguém responde. Quando ela ligou, quem respondeu foi a filha dela, desesperada, chorando que a mãe dela tinha morrido”. Adália tinha morrido às cinco horas da manhã. Olha as coisas como acontecem. Eu falei: “Mas Adália queria tanto que a gente se encontrasse!”. Adália já era bem de idade, foi tipo escrava dessa família de Vanier, que as irmãs dele todas eram professoras, só não Ieda. As três mais novas não, mas as quatro mais velhas eram todas professoras formadas, naquele tempo. E, através delas, Adália, que era pobrezinha na cozinha delas, estudou e era professora também. E veio morar em São Paulo, e o próprio Vanier ajudou eles. E Adália queria tanto ver essa reunião de amigos, de pessoas, e Adália morreu naquele dia. “Maria, onde é o velório?” “Não sei, vou te dar o telefone do sobrinho dela que está não sei onde.” Até à noite, aquilo foi muita confusão na minha cabeça. Quando ele deu, já era bem de tarde. Ele falou: “Olha, o corpo vai ser cremado amanhã às duas horas na Vila Alpina”. Eu falei: “Mas eu vou. E o velório?”. “O velório eu não sei onde é.” Ela morreu no Tatuapé. “Eu sei que vai ser cremada lá.” Foi uma chuva muito grande nesse dia. E o Vanier já estava em São Paulo e ficou muito triste, que ele vinha pra rever uma pessoa que criou ele. Era mais velha que nós, ela trocou a fralda dele pequeno. Aí, eu saí pra ir. Meio-dia, mais ou menos, antes de meio-dia, eu fui pra chegar lá e encontrar com o povo. E chuva, chuva. Quando eu desci no crematório, tinha alguma pessoa procurando outros. E eu comecei a ver aquele velho também procurando alguma pessoa. E foi pra um canto, e foi pra outro e foi embora. Vi que ele estava procurando, já tinha passado pelo crematório. Aí, fui no crematório, a moça falou: “Sabe o nome da pessoa?”. “Sei”, falei o nome. Ela falou: “Realmente, mas essa cerimônia já passou, não é duas horas da tarde, não. Foi nove horas da manhã”. Fiquei murchinha. Aí, eu fui lá no velório. Eu ainda pensei: “Eu vou confirmar no velório. Será que tô enganada?”. E ali do crematório dá pra ir caminhando. De longe, eu fui vendo meu irmão e minha cunhada, e a cunhada dele. “Olha, nós estamos aqui, disseram que é às duas horas e não é aqui.” Eu falei: “Não, era cremado às duas horas, mas disse que já aconteceu”. Aí, nós ainda viemos, passamos lá, confirmamos e viemos embora. E o bendito do almoço era no domingo. Isso era numa quarta-feira, e esse dia era quinta-feira. E o bendito do Vanier era aquele velho que estava andando por aí. Mas eu lá pensei? Eu lembrava de Vanier molequinho, criança. Não era aquele Vanier que eu tinha visto. E a gente se viu sem saber que tinha se visto. Quando foi no domingo, eu esqueci. Aí, todo mundo ficou triste, a Adália morreu, acabou. E todo mundo foi pra festa. E eu, pedreiro trabalhando em casa, uma bagunça, eu estava fazendo uma reforma. Quando foi no domingo, meio-dia, a Maria me liga: “Cleta, você é louca? Tá todo mundo aqui na casa de Ieda e cadê que você veio? E diz que você tem que vir, você precisa vir aqui hoje. Eu já falei com Ieda, você pode vir aqui, tem muita gente aqui, você de longe vai ver”. Era sobradinho e aquela rua. “Quando você ver lá embaixo, você vai ver o barulho, porque todo mundo tá fazendo barulho.” Eu falei: “Mas, Ieda, já é mais de meio-dia, eu ainda vou ali no mercado”. Aí, eu fui no mercado, voltei e eu não ia. As minhas mãos estavam estourando assim, quando faz reforma, que chega no domingo, você não quer pegar nessas coisas. Me troquei e fui. Cheguei lá quatro horas da tarde, ia dar quatro horas da tarde. Eram duas horas que eu saí de casa, e até que eu encontrasse a casa, que eu só tinha o endereço, mas a referência era onde ouvisse grito. De longe, eu escutava a voz do povo, tem gente que tá atualizada assim. Quando eu cheguei lá, eu fui, encontrei a casa, difícil pra entrar. Quando eu entrei, já tinha aquelas mais que me conheciam, muito fofoqueira: “Chegou!”. Mas não falou quem era, estavam com Maria pra lá. Quando aquele menino chegou, foram trazendo ele ali. A Maria não esperou, foi embora. A Caca, que é a caçula, a Maria Edmilza foi embora, ninguém esperou. Aí, não sei quem: “Você não veio”. Eu digo: “Eu não tinha lembrado e eu nem ia mais vir, Ieda quis que eu viesse”. Aí, tem uma prima minha, prima dele, assim dos dois lados, muito danada, muito Isidoro. Lá se veio trazer Vanier. Não falaram meu nome, gritaram, mas não falaram. Trouxeram Vanier, uma casa grande. “Vanier, você sabe quem é essa pessoa aqui?” Aí, ele olhou, não sabia nada. E eu fiquei olhando: “Será que esse aqui é Vanier mesmo, aquele menino bonito é esse?”. Olhou, olhou pra minha cara, não soube de jeito nenhum. Aí, eu comecei a dar umas dicas pra ele, dar uma referências: “Você lembra do Colo da Faceira?” – Colo da Faceira é um lugar que era meio assombrado, que, quando a gente ia numa outra coisa, que tinha lá, pra essas novenas, passava e achava bom, porque era assombrado, era escuro e podia se abraçar (risos)! E, muitos anos, mais de 50 anos, 58 anos, que ele tinha vindo de lá. Aí, assim: “Lembro”. “Lembra disso, lembra de fulano?” Mas ele não achava. Aí, as meninas começaram: “Lembra de alguma namorada tua?”. Aí, eu mesma falei: “Você nunca...”. Ele saiu de Isidoro era quase criança, eu ia fazer 14 anos. “Eu me lembro só de duas pessoas, duas namoradinhas minhas. Uma, a Preta de Elizeu, e a outra era aquela menina de Elefante que eu nunca me esqueci.” Mas ele não falou o nome da menina de Elefante. “Não lembra mais nenhuma?” “Não, só me lembro dessas duas.” Que tinha outras meninas que diziam que queriam namorar com ele. Eu falei: “Tinha outras”. Aí foi, foi, foi, ficou muito difícil. Essa Janira, que é muito doida: “Vanier, larga a mão de ser burro, que isso aqui é Cleta de Elefante!”. Ele, toda vida, foi de chorar, ele já começou a chorar (risos). Aí, nós nos abraçamos, ele já começou a chorar (risos). Todo mundo tirou uma com a cara dele! Elas são muito assim, coisa de família mesmo. Já tinha essa casa que tinha copa, cozinha americana, não sei o quê, e elas tinham posto uma mesa lá com toalha branca e tinha enchido, que era pra quando eu chegasse, pra conversar com ele lá: “Tá aqui, esse lugar aqui é pra vocês”. (risos) Aquilo foi uma coisa muito romântica, mas uma coisa assim que eu, parece que estava sonhando. Porque, quando elas falaram, eu olhei pra ele assim e falei: “Vocês têm certeza que esse daqui é Vanier? Isso não é pegadinha não?”. Não é, eu queria ver o Vanier, o que tem... A besta lá vai e pergunta depois de tudo: “Cleta, você não lembrava de Vanier?”. Saiu aquilo tão natural, eu falei: “Nunca esqueci na minha vida”. Eu nunca me esqueci dele. Aí foi o que eles fizeram. Nós fomos sentar lá e conversar. Acontece que ele, aquele tempo, ele já estava com 26 anos de separado. E ali estava toda a família dele, estava a mulher, o filho, a nora, neto, inclusive, esse que tinha se formado, que a festa era dele. Aí, todo mundo foi apresentando, apresentou um, outro, e Janira já foi falando besteira: “Deixa aí”. Já foi falando besteira, nordestino fala besteira mesmo, tá nem aí, é o que vem na boca. Ele começou a relembrar e ele: “Cleta, tantos anos”. E eu falei: “Onde você se socou Vanier? Onde que nós nos separamos tanto assim? Que 58 anos, eu vendo todo mundo de Isidoro e nunca te vi! Nós nos separamos lá naquela tua casa, no alpendre daquela tua casa numa segunda-feira e nunca mais eu te vi na vida”. Falei assim umas besteira e ele falou... Eu já estava viúva, fazia quatro anos que eu estava viúva. “Como foi a vida?” – sei lá – “Tem filhos?” Ele mora no Pará, por isso que ele veio, estava morando no Pará. E nunca vinha aqui, ele só veio a essa festa porque era da formatura do neto dele. Aí, conversamos alguma coisa, ele falou que tinha casado, viveu não sei quantos anos, tinha 26 anos separado. Conversamos aquilo, não se tocou muito, não. Depois eu falei: “Agora você dá licença”. E aqueles “coisinhos” de comer lá, umas bebidas, e eu saí. Tinha outras partes assim, lá dentro, nós estávamos numa salinha, tinha aquele murinho e do outro lado estava aquele monte de gente: “Ah, Cleta, tu lembra disso? Tu lembra daquilo?”. Aí, junta assim, vai lembrando de coisa da infância. E eu já entrei e falei: “Quem é quem aqui, que eu não tô sabendo de nada, tô aqui no pesadelo!”. É fulana aqui, que é filha de fulano, e esse é filho de... Falaram o nome da família. “Maruzinha estava aqui, já foi embora.” E parou o assunto. E fomos conversar. E a Ieda: “Mas, Cleta, a gente morando tão perto, nunca ninguém se viu”. Eu digo: “Agora, você aproveita, vai em casa, eu moro perto, agora a gente pode ter contato”. E acontece que eu fiquei conversando, e todo mundo quer saber. E essa Janira, que é uma danada mesmo. E pergunta isso: “E por que isso, e por que isso? E o primeiro namorado?”. Aquela conversa. E eu comecei a conversar com aquela mulher lá e falando muito da mãe dele, que eu gostava muito da mãe dele, era uma mulher muito descontraída, muito amiga de meus pais, muito doidona – naquele tempo já tinha gente doidona, falava palavrão. Aí, eu relembrando de Francisquinha, o que a gente conversava naquela época, coisa que aconteceu. E aquela mulher queria saber quem eu era. Eu queria saber quem era ela, já tinha visto a conversa, sabia. Eu perguntei se ela era paulista: “Sou”. Como ela estava no meio, eu falei: “Você conheceu Francisquinha?”. “Conheci, ela era minha sogra.” Eu pensei nos dois que morreram. Falei: “Você era mulher de quem?”. “Desse Vanier aí.” (risos) Aí, aquilo pra mim não me tocou nada. Eu falei: “Você separou?”. “Separei, ele era muito ruim, não sei o quê.” Também ela já foi dizendo: “Eu não aguentei ele e não sei o quê”. E eu falei: “Eu lembro de Vanier como criança, como adulto, eu não sei se ele era bom nem ruim, não. Eu lembro é que ele era muito chorão”. Ele era assim mesmo, ele era fraco, chorava. Mas contou algumas coisas ruins dele, aí, eu não quis saber. Ele veio de onde estava, falou comigo e falou com Ieda e já convidou, disse que queria ir na minha casa perante ali todo mundo. Eu disse: “Podemos se encontrar, podemos relembrar de mais alguma coisa”, que ali foi muito rápido. Inclusive, eu, católica de ventre, que, com todas essas minhas besteiras, eu sou católica, falei: “Ainda vou à missa hoje”. E foi tudo muito bom e todo mundo gostou. A sobrinha dele, filha de Ieda: “Não vai até o metrô, não, vai tomar ônibus, não” – me levou até o metrô e ficou muito feliz. Foi embora, e eu tentando esquecer. Passa a semana, ele tinha dito que ia lá, eu falei: “Você avisa”. Eu dei o endereço: “Eu moro no Parque do Carmo assim, não é difícil ir na minha casa. É pertinho daqui da Penha”. Eu não sabia onde ele estava, que ele tem irmã em um bocado de lugar aí, a mais próxima era essa da Penha. Quando foi um dia na semana, naquela mesma semana, o pedreiro estava trabalhando, o pedreiro e o gesseiro estavam por lá fazendo coisas, fazendo reforma. E eu precisava ir no banco resolver um problema. Eu morava em frente da praça. Quando eu saí, que cheguei no meio da praça, eu esqueci acho que o bilhete de pagar o ônibus. Voltei. Por azar, sabe essa blusa que eu estava aí em Paris? Eu estava com aquela, é uma batinha que eu gosto dela, estava com ela, do jeito que eu estava em casa. Eu sou assim, do jeito que eu estou em casa, eu vou ao banco, vou à missa, não tenho essas frescuras, não. Aí, eu fui. Quando eu saí, que eu voltei, que peguei o bilhete, que fui saindo, quem está entrando na garagem? A casa tinha garagem, tinha a entrada da casa. Quem está entrando? Menino, eu dei um susto! Eu não estava nem lembrando dele, tinha visto só uma passagem. Falei: “Menino, que você veio ver aqui sem avisar? Você quase não me acha em casa, eu estava na praça, voltei pra pegar um documento”. Aí, ficou meio preocupada, eu cancelei ali por uns momentos, ofereci um café, tanto gesso que tinha. Sentado no sofá, e os pedreiros estavam ali. Aí, perguntou alguma coisa, eu falei: “Vanier, eu estava saindo, mas...”. “Ah, mas então pode sair.” O pai dessa Maria ainda estava vivo, morava na Vila Antonieta. Ele falou: “E eu queria ir na casa de outro primo” – que morava por ali por perto. Eu falei: “Vamos na casa de Antônio e de Chiquinha?”. Ele falou: “Cleta, eu queria ir na casa de Elizeu”. Na casa de Antônio não era muito interessante, não. Queria Elizeu, pai da Preta, que ele namorou, que eram as duas que ele namorou lá. “Porque Elizeu tá muito velhinho, eu vejo falar nele, queria ir lá.” Eu falei: “Sabe de uma coisa? Vamos. Pois eu vou, te levo”. “Não, não, vou atrapalhar.” Eu digo: “Não faz mal, se eu não for hoje, vou amanhã.” Era até negócio de mudança, alguma coisa do banco. Aí, tinha a praça, atravessamos a praça, atravessamos a rua, ele começou, já me beijou, a coisa já mudou. Tomamos o ônibus, fomos conversando, não faltava conversa e aí foi que... Porque eu lembrava de uma coisa, e ele lembrava de outra. E era assim: “Eu não lembro disso”. Ele foi jóquei, naqueles tempos, aquelas corridas de cavalo lá, aquelas coisas, e ele era jóquei, eu não me lembrava. Ele lembrava do nome do cavalo, de coisa que acontecia, eu lembrava daquele menino, que era meu primo, que era contra ele, aquelas coisas boas que se lembra mesmo. Aí, descemos lá na Inconfidência Mineira, ali no Rio das Pedras, subimos a Inconfidência Mineira, e eu tinha que levar ele lá na casa de Elizeu. Tomamos o ônibus, ele admirando que, nessa época, ele estava morando em Belém, mas ele admirando. Ele morou em São Paulo, ele disse: “Deus o livre!”. Não gostava mais de São Paulo, não suportava, achava muito grande. Eu falei: “Mas você não mora numa capital?”. Ele falou: “Belém em vista de São Paulo é uma vila”. Aí, nós subimos. Quando nós descemos, em frente da rua que ia pra casa de Elizeu – que era outro tio que ele queria ver, fazia muitos anos que não via, o pai daquela menina lá –, quem estava numa venda em frente? Meu irmão, que era muito amigo, justo aquele que reclamava que eu escrevia o nome dele. Eram meninos juntos, muito amigo quando era menino, andavam junto e tudo. Eu falei: “Olha quem está ali”. Também já entreguei nas mãos do Adenete, ele se despediu e foi embora. E foi embora e eu não vi mais. Mas a gente ficou se comunicando por telefone, porque ele foi morar no Pará. E, algumas vezes, depois não sei se do Pará, ele veio outra vez aqui. Depois eu sei que ele foi morar em Fortaleza e ele veio umas duas vezes aqui, nós nos encontramos. Eu sou meio assim, vocês não acreditam que sou eu. Isso foi em 2012. Em 2012, eu estava fazendo faculdade, e isso foi em 2009. Em 2012, nós nos encontramos, passaram uns três anos. Ou parece que teve um outro encontro antes, sei não, acho que teve.
P/1 – E como foi reencontrar ele, como foi pra você?
R – Foi uma coisa que... Aí, eu não me conformei, eu sabia, nunca... Eu pensava que eu gostava dele, aí que eu descobri que eu gostava. E não foi namoro. Aí que eu descobri que eu gostava dele. Porque a gente não tinha jeito, ele ligava pra mim, eu ligava pra ele e foi passando. Em 2012, eu fazia faculdade, eu sou assim (risos). Eu estava estudando na Uniesp [União das Instituições Educacionais de São Paulo], fazendo Letras, na Conselheiro Crispiniano, na unidade dois da Uniesp. Entre nove mil alunos, eu estava com essa cara aqui (risos). Essa cara e esse meu jeito bem simples.
P/1 – Quando você entrou na faculdade?
R – Eu já tinha faculdade de muitos anos. Essa primeira que eu fiz, já faz quase 30 anos, 25 anos, mais de 25 anos até. Mas essa daqui da Uniesp foi em 2012, porque eu não paro. Eu vim de lá sem saber ler, depois, passaram muitos anos que meus filhos estudaram, quando eu comecei a fazer aquela quinta série, aquela sexta, foi junto com meu caçula que estava na sexta série, igual comigo. E eu fiz. Quando eu fiz vestibular, o primeiro, foi na mesma hora e junto com minha caçula, que fez junto comigo. E eu fui muito bem e ela não foi. Eu fiz licenciatura plena e ela fez curta. Depois, essa história da faculdade, isso você vê, é coisa inédita. Depois, é outra que pula pra frente. Por isso que tinha que ser uma coisa por década. Aí, a história do Vanier. Ele avisou que estava em São Paulo. Ele chegava em São Paulo, na casa da família dele, às vezes, até na casa da mulher dele, que a mulher dele mora com a filha dele. Ele tem casa em São Paulo e tudo. Quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era dar um toque pra mim, queria me ver: “Onde se encontra?”. Eu nem tô lembrada agora, eu sei que esse encontro, eu falei: “Eu faço faculdade ali na Conselheiro Crispiniano”. E ele, quando morou aqui, trabalhou no Mappin, ele sabia que era do lado. Quando o Mappin era Mappin. E a faculdade é no prédio do Mappin. Não sei como está agora, quando eu fiz, a unidade dois era lá. E eu estava fazendo lá. Ele falou: “Eu sei onde que é. Posso lhe encontrar?”. Eu falei: “Olha, eu entro cedo e saio meio-dia”. Só que tal dia na semana, a gente tinha, sabe aquelas coisinhas da faculdade que a gente faz, aqueles encontros, aquelas oficinas? E eu sabia que tinha. Eu falei: “Vou ter um intervalo de 11 e meia até duas horas, porque eu vou ter uma oficina e eu me inscrevi pra essa oficina”. Aquelas coisinhas bobinhas que a gente faz em faculdade! E eu também quis fazer, não era tanto por conhecimento de lá, era porque eu queria encontrar ele. E eu achava que ele não ia. Quando acabou tudo, que eu desci, quando eu saí, que passei a catraca da faculdade, já estava vendo ele do outro lado. Aí, foi muito legal, a gente se encontrou, conversou, falou: “Onde você quer ir?”. Eu falei: “Qualquer lugar pra mim, indo com você, está bom”. “Ah, você conhece São Paulo, eu não conheço.” “Mas você trabalhou aqui!” “Mas faz muitos anos. Vamos em tal canto, vamos almoçar?” Eu falei: “Não quero almoçar, não, almoçar toma muito tempo.” Aí, nós fomos, vocês devem conhecer aquela casa que é o Centro Referencial do Idoso, não sei se ainda tem, naquele tempo tinha no Anhangabaú. E eu já sei que lá tinha um salão muito legal pra encontro. Pra gente conversar, ficar mais à vontade. Aí, eu fui com ele, descemos, eu com muito medo de perder ele, porque, na escada rolante, eu digo: “Não, vai na frente, eu já lhe perdi por muitos anos!”. Eu lembro que eu falei isso. Nós fomos, ficamos lá, tomamos café. Nós entramos como visita, porque a gente não frequentava lá. Depois que entramos, eu perguntei por lá se tinha uma sala pra gente conversar. Ele contou alguma coisa da vida dele, eu contei da minha e foram muitas paixões da vida, mas, quando eu vi que chegou a hora, eu tive que voltar, porque eu tinha compromisso na faculdade. Chegamos ali na esquina do Mappin, eu subi, ele foi embora. Depois, ele veio outra vez, que nós nos encontramos na Sé. Esse dia, eu atrasei muito, muito mesmo. Eu acho que teve, só lembro desses dois por aqui. Eu sei que essa outra vez nós nos encontramos na Sé. Ele falou que estava em São Paulo: “Onde nós vamos nos encontrar?”. Eu já não estava estudando nada. E eu não sei o que eu fiz, que eu atrasei demais, eram dez horas, eu cheguei lá já era meio-dia. E estava chovendo, por sinal. Mas ele já tinha cansado, disse que já tinha andado lá por todo o canto, porque ia, não saía do metrô. Mas eu encontrei aí, nós fomos almoçar. Ah, ele tem uma história de almoçar! Almoçar no Sesc [Serviço Social do Comércio], depois a gente ia em algum lugar e estava chovendo e nós evitamos. Ele quis embora, eu também quis porque estava chovendo. Nós fomos até o Anhangabaú, ele se despediu, subiu a escada e foi embora. E na minha casa nós não nos encontramos mais. Depois, eu fui em Fortaleza, que eu vou muito a Fortaleza. Eu, pra viajar, é mochila nas costas, qualquer jeito eu dou! É cartão, se não for de avião, vai de ônibus, vai desse que não paga, vai de qualquer jeito, mas vai. Aí, eu fui em Fortaleza e fiquei lá uns dias, mas eu tinha ido a uma festa também, que eu sou muito de ir em festa por lá. Não sei se foi a festa de 100 anos de meu tio, teve alguma coisa que nós nos encontramos. Porque ele me esperou lá, eu falei: “Eu vou estar no aeroporto tal hora”. Mas acontece que foi uma coisa muito corrida, foi em três dias eu resolvi ir em Fortaleza. E fui correndo assim como doido! Eu decidi na quinta-feira, porque era meu tio que ia fazer 100 anos e tinha um bocado de filho que morava aqui e primos. A minha prima avisou: “O tio José quer que todo mundo vá e você não vai?”. Eu falei: “Eu não posso ir”. Eu estava com muito obstáculo, que eu sou a dona dos obstáculos. Eu não digo que tenho problemas, porque quem tem problema é apostila de matemática. Eu tenho obstáculos. E nessa época eu tinha parado a faculdade, eu estava numa loucura da vida, coisas fortes mesmo. Eu falei: “Eu não posso ir”. E eu estava na pia ali, isso era uma hora da tarde. Aí, pensei assim: “O quê? Eram 13 irmãos e um desses irmãos, um tio meu ia fazer 100 anos e eu não ir?”. Peguei o telefone e liguei para o meu filho: “Ailton, você podia me arrumar uma passagem para o Ceará, para Acopiara, para aqueles lugares lá?”. “Mas de quê, pra onde, Fortaleza, Crato?” Eu digo: “Pra qualquer lugar, do Pernambuco pra lá”. Ele falou: “Pra quando?”. Eu falei: “Eu tenho que estar lá domingo”. Eu pensava que era às dez horas. “Mãe, não dá.” E era véspera de Dia das Mães, a semana de Dia das Mães. “Pera aí, mãe!” Ele sabe muito bem mexer na internet. “Mãe, eu encontrei uma aqui, mas a senhora tem que ir depois de amanhã e voltar segunda-feira”. Ele sabia que eu não podia ficar muito tempo fora de casa, que eu estava com a guarda de uma menor, neta minha, uma história muito difícil. “E a senhora pra ir é difícil, a senhora tem que ir rapidinho, mas se a senhora quer ir...” E eu resolvi e meu filho... Aí, quando... Eu falei: “Pera aí, pra ver se eu não tô doida mesmo, deixa eu pensar”. “A senhora tem o dinheiro? Pode comprar no cartão, a senhora tem o dinheiro?” Eu falei: “Tenho”. Aí, ele falou: “Eu vou olhar. Mãe, aquela já foi. Eu tô achando uma aqui, mas não sei se dá, não. É sábado de manhã pra sair daqui às nove horas, é com três conexões, a senhora vai pra BH [Belo Horizonte], de BH pra Brasília e Brasília pra Fortaleza. E vai chegar em Fortaleza às três horas da tarde”. E, depois de Fortaleza, são sete horas pra Acopiara. De Acopiara para o sítio aonde eu ia, lá na Tataíra, onde eu morei, ainda é mais de uma hora de viagem, é 18 quilômetros. “Mas dá, mãe, a senhora quer?” “Fecha, filho, pode fechar!” Isso já era quinta-feira quase de noite, bem de tarde. Pra eu sair no sábado de manhã. Aí, fechou, arruma quem ficasse com a menina, deu um jeito, controlou a vida pra eu ir. Quando foi no sábado, eu nunca vi tanta chuva como foi naquele dia, foi chuva demais. E nós tínhamos que ir para o aeroporto. E era viagem barata, eu não fui de Guarulhos, fui pra Congonhas. E aquilo foi um rebuliço danado. Mas eu falei: “Ailton, vamos desistir?”. Como ele é filho meu: “Não, mãe, não desiste de viagem, não espera a morte em casa, porque onde ela chegar, a gente tá. Se a senhora cair do avião, a gente ainda tira o seguro! O seguro ainda fica para os filhos” (risos). Aí, fomos. Quando chegou lá, chovendo bem forte, ele me levou lá pra fazer o check-in, tudo já atrasado, em cima da hora. Quando ele olhou: “Mãe, é 30 reais uma hora de estacionamento aqui, eu não vou esperar, não, o dinheiro é pouco. A senhora se vira sozinha”. A moça olhou: “Ela vai só?”. Ele falou: “Essa aí vai até pros Estados Unidos sozinha” (risos). Aí, eu fui. Quando foi três horas da tarde, eu tinha que chegar em Fortaleza três horas. Mandei ele agendar o Guanabara, que é o único que tem pra essa cidade, é de hora em hora, lá de Fortaleza. “Mãe, eu não consegui, não agenda daqui. Mas a senhora é esperta, chega no aeroporto, pega um táxi e vai até a rodoviária, que a senhora vai chegar em Fortaleza três horas. O voo aterrissa às três horas e às quatro horas dá tempo de chegar na rodoviária.” E assim eu fui com Deus. Gente, quando eu cheguei, desci em Fortaleza, três e cinco, toca o telefone, que a minha filha tinha ficado em casa: “Mãe, onde a senhora tá?”. Eu digo: “Tô aqui descendo do aeroporto e vou agora pra rodoviária”. “Mãe, não sei o quê, a Sabesp [Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo] veio aqui”. Eu digo: “Se vira com a Sabesp, eu vou pegar um táxi”. Corri, procurei lá os taxistas, peguei um táxi. Eles exploram quando chega gente de fora, principalmente se é velho. Aí, eu fui. Quando cheguei na rodoviária: “Tem passagem agora para as quatro?”. Já eram três e 36. “Tem passagem para as quatro horas?” Ele olhou: “Nem tem para as quatro, nem para as cinco, nem para as seis, nem para as sete, nem para as oito, nem para as nove. Tem para as dez da noite”. Eu tinha avisado, antes de sair, pra uma colega minha dessa cidade, que ia chegar lá às duas horas da manhã, se fosse no primeiro voo que eu tinha ido. Porque eu pensei que eu ia conseguir ir mais cedo. Mas lá eu só ia chegar em Acopiara às três horas da manhã. Aí, eu fiquei lá e eles ficaram, esse Vanier e o outro, que foi o que eu namorei com ele também, que o Evaldo tinha... Primo dele também. Mas desse eu não gosto, não, namorei porque naquele tempo a gente tinha que namorar mesmo. A gente era adulto, grande, aí, já se beijava, já era namoro mesmo. E ele morava em Fortaleza. Mas nenhum ia na rodoviária, chovendo, morava em bairro longe, tudo fora de mão. E eu falei: “Eu tô aqui na rodoviária e eu volto segunda-feira”. Porque eu tenho minha prima que mora lá pertinho do metrô, mas é pertinho do aeroporto. Mas eu não passei lá, que não dava tempo. Liguei pra minha prima. Eu não podia ir na minha prima porque era de noite já, era de tardezinha. Pra eu ir lá, voltar, pra chegar lá, era muita complicação. Era só um vai e volta, e eu com mala, com tudo. Aí, quando chegou dez horas, eu peguei o ônibus, cheguei em Acopiara três horas da manhã. Cidade pequena, a condução lá é moto-táxi. E é perigoso, lá tem mais ladrão do que aqui, porque o povo é pouco. Não é porque tenha mais, pelo tanto de gente que tem no lugar, tem mais bandido. E quando vê que vem de fora! E tinha um taxista também na rodoviária, táxi assim. Saiu todo mundo, acabou, só eu lá naquela hora da manhã, eu me lembrei da minha colega que eu tinha o telefone dela. Eu digo: “Mas não vou acordar ela essa hora da manhã”. E a bendita lá com o telefone do lado esperando. Mas já tinha passado de três horas, era às duas horas, eu digo: “Não vou acordar”. Aí, eu tenho uma prima que mora perto da rodoviária. Eu peguei a bolsa, a mala dessas que puxa, ele falou: “Não, não desça por aí, não, que é muito perigoso, aqui tem muito malandro”. “E a moto?” “Mas é tão pertinho, descer de moto aí.” Aí, lá é muito perigoso pegar... E eu, conversando com o taxista. “Onde a senhora mora?” Eu digo: “Moro em São Paulo, mas faz 50 anos que eu moro em São Paulo, mas eu sou daqui desse lugar, de Acopiara.” Eu falei: “Eu conheço fulano, eu conheço doutor fulano, conheço os comerciantes”. Fui falando quem eu conheço, pra ele já saber que eu não era tão bobinha assim. Aí, eu falei: “E você é daqui de Acopiara?”. Ele falou: “Não, eu sou do sítio, mas eu trabalho de taxista aqui. Pra onde a senhora vai?”. Eu falei: “Eu vou pro sítio que chama Tataíra”. Ele falou: “Eu sei onde que é, tá anunciando aí toda hora!”. Isso era já no sábado de noite, domingo de madrugada, já era do sábado para o domingo. “Amanhã vai ter uma festa muito grande de um homem que vai fazer 100 anos!” Eles fazem umas barracas que dá comida pra todo mundo. “Tá tudo pronto lá e tá anunciando toda hora.” Eu digo: “Pois eu vou pra essa casa, que esse homem é meu tio, é irmão da minha mãe”. Aí, ele ficou interessado. Eu falei: “Quanto que é uma corrida daqui lá?”. São 18 quilômetros. Ele falou: “Uns 100 reais”. Aí, eu até achei que era exploração, mas tudo bem. Mas e o medo de ir com ele? Aí, eu comecei a perguntar: ”Mas você não é daqui? É de qual sítio?”. Ele falou o sítio. Eu falei: “Você é filho de quem?”. “Eu sou neto de Felipe Lopes, sou filho do João...” Ah, meu Deus... Esqueci o nome do bendito! O João, Miguel... Manoel! “Eu sou filho do Manoel Tivoli, ouviu falar?” Eu falei: “Meu filho, seu pai foi meu paquera na minha vida” (risos). Aí, eu estava em casa, eu peguei confiança, porque já que é família. E o mesmo nome, ele tem o nome do meu filho. Eu falei: “Olhe, eu paquerei seu pai, ele pôs o nome do filho de Ailton, eu também tenho um Ailton”. Aí, fomos juntos. E ninguém sabia, porque eu falei pra minha prima que não podia ir na festa. E ela chegou lá antes, uns dois dias, pegou o voo, foi sossegada e avisou: “A Cleta não vem”. Eu até mandei: “Fala pra ela cantar esse hino, aquele de padre Zezinho na hora da família, aquele da família”. Eu mandei o recado: “Façam isso, mas fala que eu não posso ir, traga foto e tudo”. Quando nós chegamos lá, eram quatro e cinco da manhã, sítio. As barracas já estavam tudo prontas, e o povo lá, são muito cismado que o povo rouba muito, vai muita gente assaltar. Aí, elas tinham acordado pra começar a fazer o almoço, iam se acordar, já eram quatro horas. Elas viram o reflexo do carro. E disse: “Tá vindo um carro”. E elas se assombraram, aquela hora da manhã, que não estavam esperando ninguém. Quando o carro parou, bem em frente da casa. A casa tem duas entradas, tem uma virando assim para o lado, a sala, na outra sala, tem outra entrada. Aí, eu falei, faz o seguinte – e elas ficaram morrendo de medo lá dentro: “Você sai e eu fico dentro do carro. Você leva a minha bolsa... Não, você vai e bate na porta. Quando bater na porta e responder, você fala que veio trazer uma encomenda”. E elas, morrendo de medo disso, que encomenda é entregar, vão fazer um assalto. Aí, elas falaram: “Vai pela outra porta, que essa aqui nós não abre”. Era a porta principal. E foram, tinha seis irmãs, são oito, e estavam seis naquela casa e um irmão. Eram dez filhos, e todos se juntaram nesse dia. Aí, tinha um irmão e mais seis irmãs. E mais uma prima e mais uma sobrinha e mais não sei quem estavam por lá. Aí, quando ela falou: “Tem um carro parado lá e o homem entrou no carro e tá vindo com uma bolsa na mão”. Elas ficaram morrendo de medo, já com coisa na mão assim, faca e tudo: “Nós enfrenta aqui”. E abriram a fresta da porta. As portas lá são assim, é cortada no meio e abre a porta de baixo e a de cima. E elas abriram só a parte de cima e ficaram assim: “Vem chegando aqui um homem com a bolsa na mão”. Aí, ele tomando a frente, já foi falando: “Olha, uma mulher mandou eu entregar essa bolsa aqui”. E o medo de elas estirarem a mão pra pegar a bolsa? Nisso, eu já levantei e fui chegando. E ela falou: “Mas tá vindo uma mulher atrás”. Elas, morrendo de medo, aí, eu falei: “E essa mulher é a Cleta”. Ah, mas aquilo foi uma alegria muito grande! (risos) A surpresa! “Mas, Cleta, nós fomos avisados que você não podia vir!” Aí, já ia amanhecer o dia, eu me deitei, dormi um pouquinho, depois, fui na casa do meu outro tio, que agora está fazendo 98 anos e está vivo, contando história. E ela falou: “E quando você vai voltar?”. Eu digo: “Hoje mesmo. Porque eu passei a festa...”. Aí, graças a Deus, a missa, que faz uma missa sempre, não foi às dez horas, foi à tarde, e teve o almoço antes. Tem um almoço e tem a missa. E o almoço é a partir do meio-dia. Aí, eu saí, fui ver meu tio lá, ainda visitei umas pessoas, vim, tomei banho, que junta muita gente lá, as casas do sítio têm dois, três banheiros. Aí, eu fui tomar banho na outra prima, na outra colega, tomei banho, me troquei, almocei e o povo: “Quando é que tu vai voltar, vai passar uns dias mais nós aqui?”. Eu digo: “Volto hoje ainda”. Nesse querido Isidoro, estava minha prima, que ia passar lá e estava de carro, morando em Iguatu, nessa cidade. Aí, eu peguei uma carona com ela até o Isidoro, porque eu não podia deixar de ir no Isidoro. Que Isidoro lá foi tudo, tem padre, tem tudo lá e começou do nada esse Isidoro. Aí, eles falaram, eu precisava passar na casa de um compadre meu, de outro lá que faz queijo em casa, que eles ficam fazendo queijo e a gente comendo. Passei, ainda comprei um queijo. Fui pra casa da minha prima e, quando chego lá, eu ando muito de moto, lá no Ceará eu sou conhecida na garupa de uma moto. Aí, os parentes lá, os meninos, os moleques foram me levar lá e, quando eu cheguei lá, na ruinha, eu falei: “Hoje quero ficar na casa de Mundinha”. Quando cheguei, eu falei: “Mundinha, quero vir pra cá hoje e vou embora amanhã” – seis horas, dez horas eu já tinha passagem pra Fortaleza. Aí, ela falou: “Mas tem uma coisa, vai ter uma celebração e o povo já está entrando”. Não tem problema, acabou a celebração: “Mas tem um jantar” – era Dia das Mães. Aí, ela falou: “Mas tem um jantar”. Foi no dia 15 de maio, meu tio fez 100 anos nesse dia. Quando eu cheguei: “Pai, sabe quem é? Essa Cleta, de tia Cândida?”. “Sei, de comadre Cândida.” “Pai, fala pra ela quantos anos você tem, que está fazendo hoje.” “Eu nasci no dia 10 de maio do 15.” Naquele dia, ele estava fazendo 100 anos. Aí, teve o jantar das mães, eu fui, participei do jantar, ainda ganhei prenda, teve dança, teve alegria. Lá, eles são muito evoluídos. Dormi, às seis horas peguei um caminhão, um carro que passa lá, dez horas peguei o ônibus em Fortaleza. Dormi na casa da minha prima, ia voltar no dia seguinte à noite. Aí, ficaram os idiotas ligando pra saber onde eu estava, e eu não tinha tempo. Tô indo. O besta lá do Vanier, eu tinha falado que ia sair era sete e meia, eu não sabia que era sete e meia, falei que eram sete horas, sei lá. Foi assim, e ele, antes das sete... Ah, eu falei que eram sete e eram sete e meia, quando eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém lá, e ele não tinha falado que ia me ver lá. E eu fui cochilar, estava cansada de andar de ônibus e avião, então, fui cochilar lá, esperando. Toca o telefone, era Vanier que estava lá embaixo: “Eu estou lhe esperando aqui desde sete horas”. “Como não lhe encontrei, eu fiz o check-in e vim embora.” Aí, não tinha como ver ele. Naquela época, nem Whatsapp eu não tinha, e nem sabia mexer. Ele ficou lá embaixo, quase chorando. Falei: “Ah, por que você não falou? Eu fui na casa de sua prima”. E ele também não é muito bestinha, se fosse na casa da minha prima, alguém ia desconfiar das conversas (risos). Ele queria me ver lá, que era só eu e ele. Vim embora e não vi Vanier. E, depois disso, Vanier veio e não me encontrei com ele, porque ele veio em São Paulo, morreu o cunhado dele ou alguma coisa, que ele veio e voltou em seguida. Depois disso, não me encontrei com ele. E nesse ano passado ele veio, e eu não me encontrei com ele porque eu só vivo viajando, eu viajei pra outro canto, não estava aqui, mas logo depois eu fui em Fortaleza. Foi na festa? É que eu vou tanto a Fortaleza. Eu fui em Fortaleza e liguei pra irmã dele, a Selena, lá no Iguatu, e ela falou o endereço dele. A minha prima me deixa louca de medo de eu me perder, mas eu fui pra Paris sozinha, vou me perder em Fortaleza? Quando menos esperou, eu cheguei e apertei a campainha. Lá, todo mundo tem empregada. A irmã dele, a outra que é professora, que eu não quis estudar com ela, Ivanilde, ela já está que não andava, já não ouve bem e eu queria ver tanto não era ela, eram os dois. Mas a moça começou a perguntar quem era eu, por que eu estava lá. Eu perguntei o nome da dona da casa. “Quem é a senhora?” “Eu conheço ela há muitos anos, ela foi professora” – fui contando história da família. Quando ele viu lá de dentro, ele confirmou que eu podia entrar, que ele sabia quem era, já foi falando meu nome. Mas a gente conversou pouco, não conversei quase nada, porque eu me emocionei muito quando vi Ivanilde. Era muito bonita, uma moça muito descontraída e ela não estava ouvindo. A filha dela é médica, o filho é não sei o quê, e a filha me acolheu muito bem e agradeceu pela visita, só que ela ia pôr o aparelho pra ela me escutar. E ela ria quando eu lembrava das coisas que ela fazia, porque eu era criança e ela era jovem, mas ela era bagunceira mesmo. Ela era daquelas que bebia e ficava de fogo naquele tempo! E eu relembrando, e ela ficou feliz porque eu fiz ela relembrar, só que ela só confirmava, mas falava pouco, já não andava, andava de andador. Eu cheguei lá, ela tinha almoçado e foi isso. Aí, a filha dela, que é médica, veio me trazer lá no bairro onde eu estava. Eu estava em Parangaba, e ela me levou pra Couto Fernandes e acabou. Aí, fica aquela coisa, um liga para o outro, fala uma coisa, fala outra e... Também eu já evito, porque chega. Não tem jeito mesmo, quando não tem jeito, o remédio é paciência (risos). Quando foi agora, lá estava em casa, liga essa outra prima, que estava na festa também: “Prima” – tudo é prima lá – “Cleta, onde você está que ninguém está te achando? Estou ligando pra você porque tem uma festa do Isidoro e mandaram convite que é pra você ir, porque é a primeira festa de conterrâneo no Isidoro, na dita capelinha, de São Miguel, com mais de 100 anos, centenária. Mas lá vai se encontrar todas as pessoas antigas, mais antigos do que nós, os filhos e descendentes, que é pra ver quem é filho de quem, você era filho de quem”. E eu, do mesmo jeitinho que sou, dessa não... Liguei pra filhos, netos e bisnetos e: “Vai mesmo, vó, vai, vó!”. E lá se vai. Agora que estou morando em Guarulhos, aeroporto perto (risos). Aí, fui pra Fortaleza, e eu, com tudo isso que vou, vou até divisa de Cumbuco, Aracati, Canoa Quebrada, mas eu não conhecia a bendita da Jericoacoara. É, quem conhece? Lá vale a pena você ir, em Jeri. Mas já que eu ia lá, eu vou em Jeri e eu só tinha duas semanas pra ir. Aí, desci em Fortaleza, cheguei lá de noite também. Mas eu já tenho em casa até os cartõezinhos dos taxistas lá. E minha prima mora a uns dez minutos do aeroporto. Quando eles querem enrolar, eles dão umas voltas. E a conversa em Fortaleza, lembra quando estavam matando, perigo em Fortaleza? Teve uns perigos em Fortaleza aí, bem grande. Faz um ano que teve umas coisas ruins em Fortaleza, se falava aqui e o pessoal com cuidado. Quando eu desci no aeroporto, estava pegando táxi: “Mãe, cuidado!”. Até atrapalhou o taxista, porque ele fez volta, porque toda hora queriam saber se estava tudo bem. Sei que cheguei eram quase dez horas na casa da minha prima. Eu já tinha avisado que ia. Cheguei lá, estava todo mundo de braços abertos, que só eu que vou lá, já conheço o povo da rua lá de onde ela mora. E, quando eu chego... Mas eu falei: “Marieta, eu venho dormir aqui, mas amanhã cedo eu vou pra Isidoro, pra Acopiara, que tem uma festa em Isidoro”. Contei a história. Marieta é aquela que o juiz tomou. Aí, eu fui pra Isidoro e, quando eu voltei, eu tive que passar... Eu fui, cheguei em Acopiara também de noite. Muito tarde da noite que eu fui na casa da minha prima. Era mais de meia-noite, e eu avisei e ela nem sabia mais. Cheguei lá de madrugada também. Tinha uma festa da cidade naquele dia, e acho que eram umas duas horas da manhã. Cheguei na casa dela e dormi. É um bairro mais longe do povo que ia pra festa, e eu naquele dia não tinha condução pro sítio, porque era aniversário de 96 anos da cidade, da antiga Acopiara, Laje Afonso Pena. Era aniversário naquele dia. E naquele dia foi parado, fui só no outro dia, que era na sexta, a festa era no sábado. Não havia condução, aquela que vai um caminhão e vai galinha, vai porco, vai gente, vai arroz, vai feijão, vai tripa, vai tudo junto. Mas é bom demais. “Ah, você tá aqui!” Ah, é bom demais, isso pra mim é viver.
P/1 – Cleta, tem um monte de coisa que eu queria perguntar pra você.
R – É três dias, eu falei!
P/1 – Mas a gente já está com o tempo batendo no vermelhinho aqui. Eu ia sugerir pra gente continuar numa outra data...
R – Eu preciso. Essa de Vanier não era pra ter falado nada. É que você... Eu fui tocar em primeiro namorado. Depois, teve os outros e os outros e os outros. Porque eu falei... Você que é o Felipe?
P/1 – Isso.
R – Não é assim quando eu escrevo, porque não é escrever no caderno ou no computador. Eu nem sei mexer muito no computador, é com a caneta no ônibus, no metrô, no papelzinho, é no papel de pão, vou pondo pra lá. Mas eu vou botando: é tal década. Porque eu tô aqui e não chegou na segunda década, chegou por que... Eu só contei dessa última década porque veio, mas no meio que tem muita coisa. (risos) Pois é, minha história é assim. Parece besteira?
P/1 – Não! Nem um pouco.
R – Agora o que eu sou? Oitenta anos completos, faço teatro e me saio muito bem nos ensaios, me saio muito bem. Escrevo o que vem na minha cabeça, mostro para o diretor, e ele me dá apoio. Estudar eu parei, pensava que ia fazer faculdade até o fim da vida, eu gostava muito de estudar. Uma história que passou quando eu tinha dez anos, não vai dar pra incluir, mas era importante ter incluído naquela. Foi quando eu queria estudar e não sabia o que era faculdade e eu ficava pondo algodão naqueles sacos de juta para os homens socarem com os pés. E, enquanto tinha um intervalozinho, eu ia e lia uma coisa e falava que ia estudar. E aquele homem falava assim: “Mas essa menina é muito besta, só fala em estudar! Ela sabe que não pode estudar”. E, quando, depois de 40 anos, ele veio na minha casa e eu tinha me formado na faculdade e mostrei e ele se emocionou. “Você lembra quando você falava que eu não sabia o que era faculdade? Não sabia o que era estudar?” Eu não sabia o que era faculdade mesmo, essa aí aconteceu comigo! (risos) E tem muitas e muitas...
P/1 – Mas a gente reagenda, Cleta, não tem problema, a gente marca outro dia.
R – Mas é uma pena, porque essa de Vanier eu gosto de pular ela. Eu não pulei ela, mas eu gosto de pular.
P/1 – Não, mas foi ótima.
P/2 – Incrível!
R – É, mas que se dane, quem gostou gostou, quem não gostou que se...
__________________________________________________________
Projeto Conte Sua História
Depoimento de Maria Cleta de Almeida
Entrevistada por Felipe Rocha e Luísa Gallo
São Paulo, 19/07/2018
Realização: Museu da Pessoa
PCSH_HV689_parte 2
Transcrito por Rosana Rocha de Almeida
Revisado por Viviane Aguiar
Publicado em xx/xx/xxxx
P/1 – Cleta, obrigado por voltar aqui hoje pra gente continuar esse papo. A gente conversou bastante no outro dia, eu queria retomar alguns pontos. A gente veio discutindo uma série de coisas, eu vou começar já com uma pergunta diretona. Eu queria que você contasse um pouquinho como você conheceu o seu marido.
R – Até vou falar uma coisa antes, depois que eu saí daqui, que fiquei muito feliz, depois eu pensei um tanto de coisa que fui levando, começo, meio e fim, que não podia. É igual eu vou escrevendo em casa, eu escrevo, jogo pra lá e depois que vou direto. Eu conheci o meu marido, como eu tinha falado, naquele tempo era difícil conhecer. Era pouca gente, morando no sítio, tem os compadres, nossos pais eram compadres e a minha irmã casou com o irmão dele, eram dois irmãos com duas irmãs. Quando ela casou, a gente ainda era adolescente, depois de nove anos que nós casamos. E a gente já se conhecia, e lá se vai outra história. Não sei se eu mostrei a foto, que eu nunca quis namorar com ele, nunca pensei nisso, porque eram as amiguinhas, era minha amiga que queria namorar com ele. Depois, aquela história, ela foi, mas voltou: “Não, ele quer namorar com você”. E foi assim. Mas a gente já se conhecia, porque morava em sítio, eu morava num sítio e ele em outro. A gente se encontrava e eu já conheci ele. Depois teve a história do casamento, que ele era quase noivo com uma amiga nossa também. E nós combinávamos, a gente não valia nada! (risos) A gente não tinha o que fazer, combinava... Nós não éramos de namorar, mas combinava de tirar namorado de uma pra outra. E ele já era quase noivo com aquela menina, até a foto dela deve estar naquelas que eu trouxe, mas aí nós combinamos. Teve uma festa, festa junina que naquele tempo era coisa bem diferente, lá pro meio dos matos, e teve a oportunidade de ele ir junto e a noiva dele não foi, a que já estava quase noiva. Era pra ele namorar com... A gente já estava “vamos desmanchar” com a minha colega, aí quando ela foi... Tudo era uma dificuldade, não podia ficar perto, uma oportunidade de pular a janela e falar com ele. E ele falou pra ela que estava a fim de namorar comigo. Ela ficou com vergonha de falar que era ela que queria namorar com ele e voltou dando risada. Aí, inventaram, e namoramos e casamos, e com a outra ele não casou não! Tomei da outra! (risos) Sem querer.
P/1 – Então, vocês ficaram namorando nove anos?
R – Não! Ficamos nove anos sendo conhecidos, viemos namorar depois dos nove anos. Era assim: nós éramos jovens, depois, quando minha irmã casou com o irmão dele, os dois mais velhos também. Aquele negócio, está namorando, aí os pais concediam aquele casamento. Foi prometida a casar, e casaram bem jovens os dois lá, o irmão mais velho com a irmã mais velha. Mas nunca imaginei de namorar com ele, nunca pensei nisso. Quando a gente foi ficando adulto, mais idoso, aí apareceu esse namoro e também foi depois de muitos anos e foi um namoro meio rápido. Entre namoro e tudo, foi um ano ou menos, foi assim, mas eu já conhecia ele, de criança, de menina, a gente foi criado junto, perto um do outro. Não tão perto, mas tinha relacionamento, a família tinha relacionamento. Não foi conhecer assim... Teve outras histórias bem legais, que aquela foi de conhecer e acontecer, mas teve outros... (risos) Você perguntou e estou falando mais do que você perguntou!
P/1 – Imagina. E como foi o casamento de vocês? Você falou que tem essa coisa de prometer etc. Você ficou prometida pra ele ou decidiram casar?
R – Não, isso aí foi uma tragédia, uma tragédia mesmo. Eu não gostava tanto dele, mas, naquela época, quando chegava uma certa idade, a família já queria que as filhas casassem porque ia ficar moça velha, arrumar um rapaz que é trabalhador e vai casar. Trabalhador que ia trabalhar na roça e dava conta de plantar arroz, feijão e milho. Mas minha irmã já fazia nove anos quando nós casamos, nessa época ela já estava casada, e eles não viviam muito bem, aquele irmão dele era... Sei lá, pessoa sem formação, e meus pais não eram muito satisfeitos com aquilo ali. Mas minha mãe quis. Quando soube, quando falei que estava namorando, aí já estavam mais liberais. De nove anos depois, que minha irmã casou, já estavam mais liberais. A gente já saía, já ia em festa sem ir com os pais, já se mandava. No tempo da minha irmã não, casou com 16 pra 17 anos porque começou a namorar tem que casar. Nas no meu caso foi diferente. E nós ficamos noivos. Não noivo por amor, noivo pra casar, está namorando e logo noivou. Tem bem a história que noivou, meu pai não gostava muito, mas na hora que... Antigamente, fazia meio parecido com hoje, dos pais, por exemplo, o namorado ia pedir em noivado e depois ia dar satisfação pros pais. O pai da noiva ia... Tinha essas. E ele, quando foi, naquele tempo a gente morava no sítio e, na cidade, a família alugava uma casa pra morar lá. E ele, naquele dia, meu pai ficou meio nervoso, e todo mundo dava risada porque eu estava comendo e não parei não. Não estava nem aí, e os pais faziam aquela recomendação. Mas eu não esquentei com aquilo ali não, comi minha tigelinha de comida e foi assim. Depois foi demorando, e ele era vaidoso, era muito irmão, era vaidoso, mas... Não usava esse termo de maloqueiro, mas era meio maloqueirão, mas vaidoso. E minha mãe depois começou a não querer mais que eu casasse. E eu já não estava tão interessada. E marcamos, marcamos, e minha mãe foi se desagradando com aquilo. E aí marcou o casamento. Na semana de casar, nós estávamos na cidade, minha mãe começou a pedir. “Tá bom, eu vou desmanchar”, mas estava tudo arrumado. Isso foi talvez numa quinta-feira, acho que era numa quinta-feira, e a gente ia casar no sábado. E eu fui e concordei: “Pois não vou casar não, mãe. Acabou”. E estava o paletó dele, que era raro ter um paletó, tinha mandado fazer. Estava um dinheiro que ele tinha dado na minha mão, estava no bolso do paletó, naquele mesmo dia, pra ter... Ele morava no sítio e eu também morava um pouco no sítio, e a gente tinha uma casa alugada na cidade pra... Nesse tempo, meus pais já queriam que estudasse, e os mais jovens já estavam estudando. E eu mandei... Aí, o pessoal do sítio vinha na cidade de caminhão de manhã e voltava de tarde, eu peguei tudinho, arrumei, peguei a roupa dele, pus o dinheiro no bolso, mandei o bilhete e mandei falar que tinha acabado o casamento. E falei pra todo mundo: “Não vou casar”, o padre que era muito amigo nosso, eu morava em frente à casa paroquial, bem assim. Conhecia, era muito amiga de Padre Clisários, aí mandei, acabei... Quando foi de tarde, foi lá dizer pra Padre Clisários: “Mas como? Você vai casar no sábado!”. “Ah, não deu certo e mandei.” E no sábado tinha festa, que nós casamos, era pra casar no dia de São Miguel, que era festa de 29 de setembro e que sempre tinha festa na cidade, cidade pequena, cidade rural, tem aquelas festinhas. E eu tinha que casar naquele dia, era mais ou menos assim. Mas na véspera da festa, tinha a véspera, que vinha gente do sítio e juntava todo mundo lá. E eu fiquei de boa, não senti muito, achei legal. Falei: “Agora vou passear”. Eu era jovem e já pensava de morar em São Paulo, meu irmão já morava. Só que, quando receberam lá os pais dele, acharam um absurdo. Quando pegaram a roupa que eu mandei, era dois contos de réis, não sei quanto valia hoje, mas tinha dois contos de réis no bolso do paletó. Mandei um bilhete e falei que não ia dar certo. Aí vieram os pais dele reclamar e deu briga, deu briga mesmo. Mas eu falei não e não, e minha mãe... Muito confusa! “Nossa, como ela obedece a mãe dela, só porque a mãe dela pediu! Já tudo pronto, já tinha comprado todas as coisinhas dela. Ele já tinha feito a casa!” Nem tinha terminado de fazer a casa, o pai tinha propriedade e construíram lá uma casa pra gente morar. Aí, foi aquele comentário, lugar de pouca gente, todo mundo comenta e eu fiquei de boa. Quando é na noite da festa, na véspera, que é quando junta muita gente, no outro dia não, mas na véspera mesmo, que vem gente de todo lugar, ele se invocou lá e brigou lá e pegou o burro dele, o cavalo, e foi pra cidade. Aí, quando chegou lá, eu estava de boa, ele me aparece lá chorando e desesperado e naquele tempo eu era mais boba do que sou hoje! (risos) Aí, não teve jeito, não teve quem consolasse ele. Eu voltei em casa, era assim pertinho, tinha a praça, desci e falei pra minha mãe. Minha mãe não concordou. Aí, lá se vai o desespero, minha mãe não concordou e eu não sabia o que fazer. E ele naquele desespero, e a gente era muito boba. E “vai se matar”... E os outros colegas dele: “Ah, se você deixar ele, é pior pra você”. Resolvi. Nós tinha os nossos padrinhos, que até depois foi prefeito, Edmilson Teixeira, que era padrinho, compadre Afonso. Estava tudo pronto, e eles já sabiam que tinha desmanchado. Fui olhar na casa, cidade rural, desse tamanhozinho, você conhece todo mundo. Entrei na casa de um, falei, voltei na casa de minha mãe, que era pertinho, ela discordou de tudo, e eu fiquei meio perdida. Mas os padrinhos concordaram: “É melhor vocês casarem, não sei o quê”. Resolveu casar no outro dia. Volta lá falar com o Padre Clisários, ele falou: “Mas, meu Deus, desmanchou esse casamento muito! Mas vai casar”. E casei. Só que minha mãe ficou muito desgostosa e pegou os paninhos de bunda mais meu pai e foi pro sítio (risos). E não participou do casamento e ninguém participou, só os padrinhos e minha irmã que estava lá, foi uma coisa sem ninguém mesmo. E casou e foi embora pro sítio. O casamento foi assim. Por isso que eu falei que não me casei, me acidentei! (risos) E aí levei a vida, vim casada pra São Paulo e vivemos 44 anos e faltaram... Ele morreu numa segunda-feira, no domingo, ia fazer 44 anos que nós tínhamos casado. Desses 44, acho que os quatro talvez tenham sido proveitosos! (risos) Mas vivi. Conto a história, tenho três filhos. E criei meus filhos com muito sacrifício, depois vivemos esses 44 anos entre tapas e beijos, mas vivemos, porque... Não porque vivemos legal, esse tradicionalismo mais da minha parte. Discordo de quem faz isso, mas eu fiz e foi isso, minha vida foi assim. Mas isso não foi casamento por amor! Foi aquela coisa que... Minha colega ficou sentida porque ela queria namorar com ele e ele não quis, e a outra lá desmanchou e foi desgosto. E aí foi. Teve muita coisa assim no tempo do namoro. Aconteceu isso, ele ficou doente, ele operou da apêndice.
P/1 – Na época do namoro?
R – Enquanto namorava, porque lá era uma coisa assim: sentia uma dor e não ia fazer exame por isso não, tinha o Doutor João, que era um médico pobre lá do sítio lá, que tem uma história. Tem muita história na minha vida... Então, esse Doutor João era amigo meu, não tinha dinheiro, chegou lá e operou a apêndice. Ninguém sabe se estava no tempo de operar, mas sei que operou! (risos) Foi a segunda operação que Doutor João fez, a segunda cirurgia que ele fez foi essa, um grande amigo nosso. Médico pobre, o primeiro médico pobre, pobre que eu vi na vida foi o Doutor João (risos). E aí vai. Era daquela família que eu falei, que o irmão dele fugiu, roubou as moedinhas e fugiu pra morar na capital. O Doutor João era irmão dele. E aí vai.
P/1 – Queria voltar um pouquinho, Cleta. Então, vocês casaram etc. E quando decidem vir pra São Paulo? Quando você decide sair e vir pra São Paulo?
R – É, essa casa que está no quadro foi onde nasci e me criei, saí pra casar. Voltei poucas vezes lá depois, apesar que era perto o sítio, mas... E depois fomos morar, ele tinha feito a casinha, quando nós casamos, a casa não estava terminada, fomos morar na casa de outras pessoas. Terminou a casinha não, cobriu o chão de terra, mas ali eu morava. Logo engravidei, tive minha primeira filha e eu dava aula, já naquela época eu dava aula no Estado, a vida inteira foi assim. Fui eu que fundei a alfabetização de adulto no mundo! (risos) Imagina, naquele tempo, faz bem mais que 50 anos. São esses programas! Secretaria de Educação lá era Júlio Ribeiro, uma coisa assim, e teve umas inscrições pra um concurso pra fazer uma capacitação. Porque a gente não era professora, professora era saber ler e escrever e ensinar os outros. E as pessoas que sabiam ler e escrever a prefeitura contratava e pagava. É que era tão pouco falar que eram 200 mil réis, que eu não sei quanto que era. Era como se fossem dois contos, que as professoras ganhavam. E eu e mais uma turminha de amiga... Saiu esse curso, não era concurso, era um curso que a gente tinha que fazer, e nós fizemos e passamos, uma turminha e eu fui uma das que prestei e passei. Do Estado, era pago pelo Estado mesmo. Eu ganhava 10 contos ou 10 mil réis, e as professoras da prefeitura ganhavam dois. Aquilo era um absurdo! E estava tudo bem, eu comecei a dar aula em casa mesmo, na nossa casa, era liberado, as pessoas davam aula onde moravam. Mas aí, um dia, fazia um ano e meio mais ou menos que a gente tinha casado, já tinha criança com uns três ou quatro meses, e eles foram pra roça. Ele trabalhava na roça, e eu dava aula e tinha dinheiro, à vista do pessoal de lá, e a vida estava indo bem. Mas ele foi pra roça com os pais dele, foi todo mundo pra roça, os homens iam pra roça e mulher ficava em casa. O Chico desmaiou, teve um ataque! Chamavam ataque. E quase não volta mais e voltava... Aí, ele continuou. Dava aquele negócio na cabeça dele, não sei o que era, e depois ficava ótimo, bom... piorava. Leva no médico, o mais perto era a 18 quilômetros, mas era um médico que era justo esse Doutor João. Foi lá no Doutor João: “Não resolvo, leva em Iguatu”, que era a cidade mais longe. Doutor Gouveia, que era o doutor com mais experiência. E falaram... Não fez exame de nada, passou uns remédios e falou que era difícil o tratamento e alguma coisa assim. E deu uns remédios e proibiu de comer isso e aquilo que não tinha nada a ver, hoje eu pensando assim: “Mas como? Não podia comer abóbora porque estava desmaiando! Meu Deus do céu!”. Passou aqueles tempos, e ele não melhorava, estava tudo bem, conversando... Tudo sem sentir dor, sem nada. Aí, meus irmãos já moravam em São Paulo, e o pessoal: “Leva pra São Paulo que lá tem tratamento”. Vamos morar em São Paulo. Eu não queria vir de jeito nenhum, eu me dava muito bem com a família dele. Lá foi um lugar que foi fundado pelo pai dele, a primeira casa foi o pai dele que fez, comprou uma propriedadezinha, antes ele não tinha, depois comprou propriedade lá e hoje em dia chama Vila São José dos Mandu, que é da família dele – porque hoje tá uma vila mesmo, tem bastante lugar, mas a primeira casa foi a dele. Aí os pais dele: “Não!”, aquilo era um absurdo vir embora pra São Paulo, mas mandei uma carta para meus irmãos aqui que ia vir. “Pode vir, ele se trata aqui.” Foi assim a nossa vida, foi muito importante na nossa vida de casado, e eu não queria vir por meio nenhum, a minha filha mais velha estava com cinco meses. Chegou aqui, ele foi trabalhar e continuou... Ia trabalhar e um pouco mais mandavam pra casa, porque estava trabalhando e desmaiava lá. Aí, meus irmãos arrumaram pra fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, eu acho, Santa Casa ou Hospital das Clínicas, um desses lugares. E foram fazer os exames e eu não sei, no começo ele tomava Gardenal e melhorava e piorava. Ele ficou, muito ignorante, um dia ele falou: “Nunca mais eu vou no médico. Ah, eu vou naqueles médicos, chega lá, eles estão fumando, conversando, não vou mais, não”. E ele parou e melhorou. Então, às vezes, a gente se encontrava na casa da minha mãe, tinha bastante, os irmãos já estavam tudo morando aqui, estava conversando, se jogava no chão, caía aí, com muito tempo, ele melhorava. Depois que passou um ano ou mais, ia trabalhar e desmaiava no serviço e voltava. Quando ele cismou, diz ele: “Não vou mais me tratar, não, porque esse remédio não faz bem a ninguém”. E melhorou e acabou, nunca mais piorou dessa doença.
P/1 – Ele desmaiava abruptamente?
R – Estava conversando aqui com a gente e pouco mais... Vrum! Caía no chão e ficava lá. E era meio assim, o pessoal tinha até um apelido de Chico Doido, Chico Louco, porque ele era uma pessoa muito agitada, muito... Mas normal. Era um homem trabalhador, enfrentou a vida em São Paulo, tinha as coisas que eu acho que eram erro, não sei se era erro, mas se era meu ou era dele, mas era nordestino que trabalha, que enfrenta a vida. Aí, depois, ele teve uma vida meio bagunçada depois resolveu trabalhar correto, foi trabalhar em metalúrgica. Aí, por ignorância, teve um acidente e, quando ele morreu, fazia mais de 20 anos que ele era... Como era? Aquele auxílio vitalício! Porque ele não quis, por ignorância, ele estava trabalhando de metalúrgico. Aí, um cara que estava ajudando, ele trabalhando, ele era prensista e ele foi ensinar o cara com dificuldade, ele xingou, pegou, tomou e deu problema na coluna, operou a coluna, não ficou com sequela, com nada. Melhorou e depois de muitos e muitos anos ele se achava uma pessoa muito sadia, era muito vaidoso! Gostava mesmo de ir para os bailes. Ia em muitos que nem sabia, que os tempos eram mais difíceis, não é como hoje que tem baile assim. Nós morávamos lá na Zona Leste, Itaquera, ele ia no Tatuapé, num forró sertanejo, que ele vinha pra lá, não estava nem aí. Ele gostava muito de dançar, eu achava lindo ver ele dançar. Dançava do jeito dele, mas ele se sentia feliz dançando.
P/2 – Você dançava com ele?
R – Não. Ele não saía comigo nem... Só se fosse pro médico, se ele estivesse doente, porque, se fosse eu, ele não me levava, não. Era cara assim. Tem uma história do fim da vida que é meio difícil vocês acreditarem que aconteceu. Era aquele cara bem mulherengo, de arrumar mulher. “Vou morar e ficar uns tempos morando!” E voltava pra casa, e eu ficava em casa. E assim foram 44 anos. E ele ia mesmo, e eu ainda dava o perfume. “Cadê o perfume? É esse que tu quer? Então vai.” Eu ainda fazia isso. E foi uma vida que eu achava que era legal, mas a minha ignorância (risos). Mas eu não acho. Para o pessoal de hoje em dia... Aí, foi indo, foi indo, e passou e ele ficou encostado, como diz, com esse auxílio que tinha e não pode... Não quis mais trabalhar na indústria. Porque trabalhar em metalúrgica, aquela época que metalúrgico tinha muito valor, tempo do Lula, aqueles tempos. Aí, quando, depois que ele ficou com essa deficiência, a empresa não aceitou mais ele trabalhar como prensista. Como ele era analfabeto, a chance dele era ficar em serviço geral, e ele disse que não ia fazer isso e assinou pra ficar aquele auxílio, nem me lembro. Era natalício, ele tinha um auxílio pelo INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] até o fim da vida. Porque também ele ganhava bem, só que, como ele ficou recebendo o auxílio e aquilo foi reduzindo, a metalúrgica caindo, reduzindo, e ele era três salários mínimos naquele tempo e foi baixando e foi baixando e pra um, pra um, quando ele morreu, se ganhasse metade de um salário mínimo recebia muito. Mas também ele aceitou. Como ele não quis ficar só com aquilo ali, ele aprendeu, começou a trabalhar de ajudante de pedreiro e aprendeu a assentar tijolo do jeito dele. E assim ele viveu e gastava muito. Ele era aquela pessoa que podia pegar muito dinheiro hoje e amanhã ele não tinha porque ele ia pras festas e gastava, ele era muito de gastar. Ele era assim, um cara trabalhador de construir a casa, nunca quis pagar aluguel. Trabalhamos, nós tínhamos essa casa, mas não tinha responsabilidade de “isso aqui é pra você!”. Não! Tinha a casa, mas ele podia pegar seu dinheiro hoje e amanhã ele já queria. Eu trabalhei. Sempre trabalhei. Trabalhei, trabalhei, trabalhei muito. Era contra eu trabalhar fora por muito tempo. Pra ele, mulher tinha que ficar só em casa vendo televisão, se tivesse. Mas eu dou um jeitinho pra vida e fui convencendo ele. Depois eu sempre quis estudar, desde criança. E eu com três crianças. Quando meus filhos já estavam adolescentes, eu resolvi estudar. Pra ele, foi um absurdo, um absurdo mesmo, foi a coisa mais difícil eu estudar. Eu tenho um amiguinho, inclusive é neto da madrasta dele, depois a mãe dele morreu e o pai dele casou outra vez. Ele acha: “Não sei como você conseguiu”. A família dele é de gente muito ignorante, são dez irmãos, todos são analfabetos, todos não têm religião. É assim, são pessoas ignorantes, natural. Até que são pessoas educadas pela natureza, porque, se fosse falar que pau é pedra, você tem que aceitar e, no meio daquele povo, eu consegui ir casada com um homem analfabeto que falar em estudar pra ele era uma doença. E eu me formei, fiz uma faculdade completa, duas incompletas e formei meus três filhos! (risos) Aquele menino, que hoje é jovem também, ele já é advogado. Ele diz: “Eu não sei, porque eu morei no meio daquele povo e tive que sair, que eu não conseguia. Com tanta ignorância e você no meio de todo aquele povo ignorante, você fez tudo isso”. Mas me custou muito caro. E eu fui passo a passo, porque, se eu fosse falar em estudo, ele ficava doido! Mas, depois que meus filhos estavam estudando, eu resolvi estudar. Eu nunca fui pra escola como o pessoal de hoje, que entra na escola e faz isso, faz aquilo. Eu não, eu aprendi a ler e escrever lá e, quando eu quis estudar aqui em São Paulo, eu inventei umas conversas. E eu tinha um amigo que era da polícia militar, ali na Celso Garcia, ele deu um jeito lá e me arrumou um lugar onde eu fiz um teste e passei como que eu tivesse estudado e eu não tinha estudado. Naquele tempo era o ginásio, e eu já comecei direto no ginásio, mas não que eu tivesse feito primeiro ou segundo ano, alguma coisa atrás disso não. Eu fui estudar em casa e aprender um pouco, fulano me ensinou isso. Pegava um livro de alguém e assim foi minha vida. Depois que eu fiz o ginásio, a primeira história, a primeira prova que eu fiz na minha vida – nesse tempo, eu trabalhava na metalúrgica. Eu não sabia o que era fazer uma prova. Eu sabia ler, escrever e fazer continha, essas coisas, mas o resto eu não sabia. Então, eu pegava as coisas por curiosidade de buscar e aprendia algumas coisinhas, mas, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava em metalúrgica, justo onde ele se acidentou, nessa região de Guarulhos. Chamava Anhanguera, uma metalúrgica grande. Só que ele ia e era de turno a metalúrgica, naquele tempo, e ele trabalhava à noite. E eu falava de estudo, e ele não queria saber. E, como ele trabalhava à noite, eu dei um jeito de estudar. Na semana que ele estava em casa, era aquele inferno. Aí, logo que começou, primeira prova que eu fiz na minha vida, nunca tinha feito. Não me lembro o nome dela. Quando eu sentei e que assinei, tocou a campainha: “Pois não?” “Quero falar com Dona Cleta.” “Não pode, ela vai fazer prova, é impossível, não pode.” Eu tinha três filhos, meu filho tinha 11 pra 12 anos, e as meninas com dez, nove. Era um atrás do outro. Como era 13, 14, e eu deixava eles em casa pra poder estudar. “É que o menino, o filho dela caiu e quebrou o braço.” Eu tinha comprado uma bicicleta pra ele, ele caiu, quebrou o braço e estava gritando de dor lá. Eu só fiz pegar a prova e isso não vou esquecer nunca, prova de português! Ela falou: “Infelizmente...”. Nem sei como fiz com essa prova, se substituí, não me lembro mais. Só sei que era a primeira prova que ia fazer, não fiz toda. Cheguei lá e fiquei com o menino e, quando ele chegou, no outro dia que soube, ah, isso era o mundo que ia se acabar. Ou alguém que foi de manhã, que era periferia, vila, quase todo mundo trabalhava na metalúrgica, e era aquilo tudo. Tinha uns ônibus que levavam e traziam, os que foram já falaram: “Olha, o Zé Careca já levou seu filho essa noite, ele tá internado, quebrou um braço e não sei o quê”. Aí, o menino quebrou o braço porque eu não estava em casa, tinha ido estudar e foi um absurdo! Mas depois deu certo, e ele, querendo ou não querendo, eu forçava a barra. E o menino quebrou o braço, mas cresceu e nem se lembra mais disso. Mas foi difícil. Depois que eu terminei eu passei mais três anos e meio, mas eu queria estudar, eu sempre quis estudar na minha vida. Mas aí os meus filhos, as meninas estavam estudando... Na minha casa, eu e meus filhos sempre estivemos estudando juntos, sempre o tênis era o mesmo e a camiseta era a mesma. Que também era pouco, naquele tempo, a gente tinha poucas coisas. Roupa e sapato não tinha como tem hoje. E nós fomos... Passaram uns anos, e eu queria continuar a estudar, mas ele, quando eu falava, o mundo ia se acabar. Meu filho estava estudando e parou de estudar porque só tinha um tênis. Ele estava com 13 ou 14 anos, estava na sétima, naquele tempo chamava sexta, era sexta ou sétima série. E, quando ele chegava em casa à noite, ele já tinha começado a trabalhar, já tinha 14 anos e, quando chovia, ele chegava com aquele tênis que não podia tirar. Ou ia pra escola sem o tênis, de chinelo ou não. E, quando chegou um dia, ele disse: “Mãe, eu vou parar de estudar, eu vou porque ou eu trabalho ou estudo e vou dar uma parada”. Eu concordei, teve gente da minha família que quis me matar, que eu era louca. Falei: “Não, deixa dar um tempo, deixa ele descansar”. Mas aí foi passando os tempos, e ele ficou sem estudar e aí tá. Quando ele terminou, sentiu falta que não tinha estudado. Quando ele terminou, voltou no outro ano, mas com muita dificuldade. E ele queria uma coisa mais rápida, ele já ia fazer 19 anos, fez 18 anos: “Mãe, já estou muito atrasado. Os outros... Eu agora que vou terminar, e os meninos são todos pequenos, tudo jovem, e eu já estou adulto no meio deles”. Eu falei: “Deixa que vou dar um jeito!” Eu vim na cidade ver alguma coisa, estava ali na Florêncio de Abreu, eu vi uma placa: “curso de primeiro e segundo grau”, que era naquele tempo. Eu fui lá saber, era Associação da Polícia Militar. Aí, arrumei escola pro Airton. Falei com eles e tudo, e eles me perguntaram: “Quantos anos ele tem?” “Vai fazer 19.” “Não pode, aqui é regime militar, não sei o quê, só se tiver 21 anos.” Isso era terceiro andar, tudo bem, desci e, quando desci, eu voltei de novo. Peguei o elevador, voltei, não sei o que deu na minha cabeça! Eu falei: “Não dá pra ele e pode qualquer idade?” “Pode. Pra quem?” “Pra mim.” “Ah, se a senhora quiser!” E já fez minha matrícula (risos). Já fez minha matrícula pro primeiro colegial, naquele tempo. Eu fazia primeiro colegial naquele tempo, que a gente estudava, hoje em dia ninguém... Só vai pra escola. Aí, foi muito legal, uma escola muito boa, que era da polícia militar. E tinha mais, só estudavam lá pessoas que eram da polícia, mas o meu irmão, eu acho que era professor de educação física na polícia militar. Ele hoje é sargento aposentado. Aí, eu falei: “Meu irmão é isso, eu posso agregar com ele?”. Aí, eu consegui. Quando meu marido soube, o mundo quase se acaba! E eu trabalhava por ali pela 25 de Março, ali na Basílio Jafet, e eu saía do trabalho e ia pra escola à noite, porque trabalhava de dia. Mas aquilo ali foi uma vida tão legal, que tinha dia que eu chegava e... Eu falei pro meu filho: “Não arrumei pra você não, porque você não pode, mas arrumei pra mim”. “Ah, mamãe, depois eu estudo.” Como ele não queria que eu estudasse, as meninas, que estudavam de noite, elas já trabalhavam e já estavam estudando na Santa Inês, Colégio Santa Inês. Elas já trabalhavam e podiam pagar e as duas conseguiram lá. Mas teve uma noite que meu filho estava lá com os coleguinhas e, quando eu cheguei, até a hora de chegar, ele nem ficava em casa, não tinha graça, não tinha televisão, era uma coisa muito sem nada, tudo escuro! Faltou força, mas tem na casa do vizinho. Ele falou: “Sabe de uma coisa, mãe? Isso é coisa do pai”. (risos) Ele ia e desligava a luz! Outra hora, batia a porta pra ninguém entrar. Era muita coisa que aconteceu, mas eu nunca desisti por isso.
P/1 – Cleta, você lembra quando foi que você pegou seu primeiro diploma?
R – O primeiro da minha vida foi aquele que eu te mostrei, mas não... Aquele foi de curso. O meu, caramba, eu tenho em casa! Eu tenho ele em casa. Foi aquele daquela prova que eu fiz, lá eu consegui ir até terminar, eram quatro anos e eu consegui.
P/1 – E, quando você terminou o curso da polícia, como foi pra você terminar os estudos?
R – Olha, depois que eu terminei aquele que eu falei da primeira prova, que estudei os quatro anos, aí, como ele era muito impossível, eu não deixei de ter vontade de estudar, mas eu tinha que trabalhar porque ele era trabalhador, tinha bom emprego, mas ele não ligava pra casa, não. Eu que tinha que arcar com a manutenção em casa, que ajudar, queria que meus filhos estudassem! Eu acompanhava e tinha que trabalhar, então, deixei parado. Mas depois que eu consegui, por isso que estava procurando pro meu filho, trabalhava naquela região e saí no horário de almoço e vi aquela placa lá. Foi quando eu arrumei. Lá já foram três anos, já foi diferente e parece que foi supletivo, eu não me lembro, não. Não, era assim. Primeiro ano era integral, o ano todo, e os outros dois eram semestrais. Mas isso foi um inferno, esse tempo que estava estudando. Não parei de estudar, não. Não sou de faltar, não faltava, chegava tarde, tinha briga, tinha tudo. Um dia, estava com a faca, faca mesmo! Não tenho medo de peixeira, mas ele estava com uma faca e meus filhos chorando: “Não faça isso”. “Se ela for, eu vou matar!” Mas tinha um quartinho que era do meu filho, e eles deram um jeito de eu dormir lá até ele acalmar. Umas coisinhas assim meio engraçadas! (risos) E, quando foi pra terminar, ele não queria saber, ele se sentia injuriado porque eu estava estudando. Ainda mais aqueles homens lá, colegas dele, só sabiam trabalhar de metalúrgico, que queriam ganhar dinheiro. Aquelas coisas que tá tudo sujo, serviço pesado. E as mulheres deles também não estudavam, só era eu que estudava, e eles punham muita coisa na cabeça dele. “Ah, se fosse a minha não ia!” “Ah, você vai ver, ela vai estudar e vai lhe deixar!” Muita conversa. E eu não estava nem aí, fui em frente. Só que esse, que nós chamávamos Capacete, que era o diretor da escola, ele era o diretor da escola, teve uma festa bonita da polícia militar, foi muito bonito. Teve a festa e foram minhas filhas, foi o namorado da minha filha, acho que meu filho e ele eram quem ia ser o padrinho. Ele que ia me entregar. E prometeu que ia e tudo, mas ele prometeu só pra, na última hora, não ir, por desaforo! (risos) E nós ficamos esperando lá. “Não, você vão indo.” As meninas iam do trabalho, cada uma ia do trabalho, e eu já levei minhas roupas, até me lembro, me troquei lá onde fui arrumar a unha e o cabelo. Saí do serviço, saí mais cedo pra ir e fui. Aí, esperamos, esperamos e cadê o homem? Por isso que o menino: “Não tem padrinho? Tá aqui o Capacete!”, que era esse diretor aí. Não lembro o nome dele, já faz tantos anos, que eu lembro de poucas coisas. Eu vejo as fotos, mas... Tem uma senhora que eu tenho muita vontade de encontrar com ela, mas já faz muitos anos isso, e ele não foi. Foi muito legal, foi bonito, tiramos foto. Naquele tempo, nada de celular, nem existia celular, mas tirou umas fotos. Você vê alguma aí. E tenho mais em casa. E foi muito legal. Aí, acabou e eu dei uma parada, terminei o segundo grau, como nós chamávamos.
P/1 – Você falou que ele fazia um monte de coisas de desaforo. Qual foi a pior coisa que ele fez pra tentar fazer você parar de estudar?
R – Essa de ficar... Pior que isso não teve! Todo mundo ficou: “Agora a senhora não vai continuar a estudar”. “Vou sim.” Mas estou legal. Naquele tempo era o Gil Gomes! (risos) Não sei se vocês lembram. Mas foi sim. Tiveram várias, mas essa não dá pra esquecer mesmo. Parei de novo de estudar, mas eu queria fazer uma faculdade, que, desde criança, eu pensava nisso. Eu pensava em faculdade sem saber a palavra faculdade. Assim, altos estudos, alguma coisa. Nesses meios, eu ainda fiz um curso de inglês na 24 de Maio, só que eu tinha mais a cartinha branca com o patrão e eu saía mais cedo, sendo que aquele curso era à tarde. Naqueles tempos, que eu não sabia quase nada na minha vida, não conhecia nem São Paulo, e quem estudava naquele tempo num curso à tarde, na 24 de Maio, mas uma colega minha ia fazer e resolveu não fazer não sei por quê e passou pra mim com desconto. E eu quis fazer. Não era curso, eram, parece, que 15 módulos e eu fui fazer. Quase ele não ficou sabendo porque era à tarde. Eu saía à tarde, e lá todo mundo achava pra onde ia viajar e naquela época eu queria viajar. Todo mundo ali, e eu no meio daquele pessoal lá que não tinha nada a ver comigo, mas eu fiz! (risos) Fiz lá na 24 de Maio. Depois eu quis estudar, eu queria fazer uma faculdade. Aí veio a época do Quércia, era Orestes Quércia, tempo do Maluf, ele criou aquele programa, Clube da Turma, que tem ali em Ermelino Matarazzo. Foi um programa que acho que foi fundado pelo Maluf. Depois, no tempo do Quércia, eles fizeram um estudo lá e fizeram aquele programa lá chamado Secretaria do Menor, que era variado, tinha a PCR [Programa Criança de Rua], que era pra criança de rua. Eu trabalhei no Enturmando, tinha Clube da Turma... Não, do Maluf era outra coisa, Clube da Turma eu trabalhei também. E em vários deles, porque eu sempre fui assim, a gente ia trabalhar como educadora, a gente tinha que trabalhar com crianças da faixa dos sete aos 17 anos, aquelas crianças carentes, que as mães trabalhavam. Mesmo que não trabalhassem, o horário que não estava na escola iam ficar. Eu trabalhei num lugar onde tinha um circo, era o Enturmando, um circo-escola. Trabalhei no Clube da Turma, que hoje funciona como outra coisa, que Mário Covas assumiu e depois essas coisas aí. Aí, quando eu comecei, a gente entrava como educadora, a minha filha fez o concurso lá e passou, falou pra mim: “A senhora gosta tanto dessas coisas, por que a senhora não faz a inscrição?” Aí, eu fui e fiz, passei e me chamaram. Ela já tinha começado a trabalhar como educadora do Clube da Turma e não era muito longe do Enturmando Águia de Haia, era tudo a mesma função. Aí, eu fiz e passei. Minha filha já tinha o segundo grau, e eu também. Mas os diretores exigiam que as pessoas, para serem educadoras, tinham que ter curso superior. E eu sempre queria fazer uma faculdade, mas era dificuldade, e ele não queria o ano todo. Aquele tempo, pra fazer vestibular, você tinha que estudar muito e ainda não passava, ficava pra segunda época. E eu sempre falava em fazer aquele bendito daquele vestibular. E o diretor começou a exigir: “Vocês precisam fazer curso de Pedagogia, de Psicologia, esses cursos, porque vocês estão trabalhando, são educadores de crianças e precisam trabalhar com os pais das crianças” – que tinha cada caso! – “Vocês vão passar entre Pedagogia e Psicologia, vocês precisam muito disso”. Aí, a turma começou a fazer, a minha filha, que estava na outra unidade, fez o vestibular, só que ela era muito novinha, era bem jovem. Ela fez na Unicid [Universidade da Cidade de São Paulo], naquele tempo era FZL [Faculdade da Zona Leste], e ela fez e foi pra gandaia, pra essas festas de noite. E no outro dia foi fazer o vestibular. Ela viu que não passou e nem foi saber. Só quando começou a trabalhar que exigiram dela, ainda mais ela, jovem! Aí, nós estávamos um dia mais uns amigos, um cara que hoje é advogado, mas que naquele tempo já tinha outras faculdades e a gente conversava muito. Pessoa pobre, simples lá, amigo dos meus filhos, estudou com meus filhos. E a gente estava conversando um domingo à tarde, à noite, lá na mesa, e eu falei: “Mas todo ano eu falo que vou fazer vestibular e não tomo essa decisão”. Ele falou: “Sabe, na Castelo prorrogou!”, já tinha passado. A Leda falou: “Mãe, faz. Na Unicsul [Universidade Cruzeiro do Sul] está fazendo, tem vaga, não quero que a senhora fale pra ninguém, não, mas eu e minha colega, que a unidade está exigindo, então, nós fizemos a inscrição e nós vamos fazer o vestibular lá”. Isso era no domingo. Aí, o Genilson falou: “É 23 reais a taxa de inscrição, mas na Castelo prorrogou”. Quando foi no outro dia, eu saí às cinco horas do trabalho e fui caminhando, porque naquele tempo a condução, vixe! Tem história da faculdade que você dá risada se eu contar. Aí, eu fui andando bem longe, uma caminhada mesmo, saí às cinco horas e cheguei lá na secretaria: “Prorrogou sim.” “Quanto que é a taxa?” “É 26 reais.” “Mas eu só tenho 23, que me informaram que é 23.” “Não, mas é...” E ia até não sei que dia da semana, era naquela semana, isso era na segunda-feira. “Vai e arruma, se não, não vai ter mais.” A Leda chegou, ela já estava trabalhando e eu também, na Secretaria do Menor, e eu falei: “Leda, cheguei lá e é 26 reais e eu só tinha os 23 reais e não fiz”. “Mãe, não fala pra ninguém, mas na Unicsul...” – não era Unicsul, naquele tempo era Faculdade Cruzeiro do Sul – “eu e a Adriana, minha colega, fizemos lá e é 15 reais e também prorrogou, mas não fala pra ninguém porque, se eu não passar de novo, não quero que ninguém saiba”. No outro dia, eu não falei pra ninguém, fui trabalhar e, do serviço, peguei uma condução, e fui lá e chega lá, eu nem sabia o que queria fazer, aquela ansiedade. Olhei: “Tem isso, tem aquilo lá.” Quando eu olhei: “História”. Fazer História pra quê? Passei um risco lá em Pedagogia e foi isso que fui fazer. Aí, isso era numa terça-feira, na quarta, eu tinha que ver uns papéis na escola onde tirei o segundo grau e na outra do primeiro, que eles exigem tudo, do primeiro e do segundo grau, todos os diplomas. E eu fui correr atrás disso. Tinha que estudar, minha filha mais velha tinha feito Anglo pra estudar também, minha filha estava querendo fazer direito, a mais velha, e tinha feito Anglo, e foi meu único recurso. Peguei lá na estante velha que tinha as apostilas do Anglo e levei pro serviço na quarta-feira. Quando cheguei lá, o pessoal: “Ah, você está estudando, não tem mais o que fazer?”. “Não, é que eu estava aqui na hora do almoço e gosto de ler, tenho mania de leitura mesmo.” Mas não falei pra ninguém. Quando foi na quinta-feira à noite, a Leda chegou tarde do serviço: “Mãe, a senhora não foi? A senhora tem que buscar lá no Global o de segundo grau e tem que pegar um monte de documento, se não levar amanhã, não vai conseguir. Amanhã é o último dia” – que era na sexta-feira. Amanheceu o dia, eu nem fui trabalhar. Eu corri atrás disso aí, fiz tudo e levei até a sexta à noite, na faculdade, e não fui trabalhar. E quando foi na segunda-feira, o pessoal morava tudo pela cidade, pouca gente era de lá. Da minha área, eu vinha de Itaquera, e a gente se encontrava em Artur Alvim pra pegar uma perua pra ir junto, a Secretaria da Educação fornecia perua pra gente andar. Ou, quando não era, a gente sempre estava de coletivo. Quando me viram na segunda-feira de longe e o chefão junto, o administrador lá, aí: “Olha aí quem está vindo! Pode voltar”. Ele chamava Moisés. “O Moisés falou que você está despedida, vai mandar, vai pra Brasília, você não tem mais. Não tem mais emprego porque você pensa que é cabide de emprego, você não veio trabalhar na sexta-feira.” Eu fiquei na minha, dando risada. “E você dá risada disso?” E o Moisés bem sério. Eu sabia que ele estava brincando, mas... Eu falei: “Não, eu posso falar porque não vim trabalhar sexta-feira? Não participei na sexta-feira?” – porque nós trabalhávamos de duas em duas educadoras, e a minha tinha ficado sozinha. “É porque eu fiz vestibular e passei e eu tive que pegar todos os meus documentos e eu nem fui atrás, minha filha que procurou saber e falou que eu tinha que ir. E se eu não fizesse isso sexta-feira, eu perdia.” Ah, todo mundo: “Então, seu dia está ganho!” Aí, eu comecei a estudar. Mas foi uma história pra estudar. Quando meu marido soube que eu estava fazendo faculdade, o bicho pegou! (risos) Ainda mais que aí eu tinha que chegar em casa tarde. Porque eu saía às cinco horas, mas às vezes eu ia “de pés”. Vocês não conhecem, era bem longe. Quando não tinha dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro não, naquele tempo, tinha um que andava como daqui no Parque Dom Pedro “de pés”, porque não tinha. Era uma coisa assim, todo mundo era sem dinheiro. A melhor de vida era eu, que trabalhava na Secretaria do Menor e tinha um emprego e ganhava um dinheiro desse político, ganhava bem. Eles achavam que ganhava bem. Mas o pão que sobrava lá das crianças, eu tinha que levar porque era uma festa, porque todo mundo estava com fome: “Cadê o pãozinho de rato?” (risos) A gente andava muito pra chegar no ponto de ônibus na Pires do Rio, porque naquele tempo não existia esse negócio de bilhete não, já tinha o passe, mas o passe era um só. Passou aquele, era outro. E eu ia “de pés” porque o outro era pra ir pra casa, e a gente caminhava muito “de pés” numas ruas, atravessando pra pegar o ônibus do outro lado, porque a Unicsul fica na avenida São Miguel. E, pra gente ir embora, uma turma, nossa, tinha que tomar na Pires do Rio, bem longe. E uma noite estava chovendo, e eu cheguei na Pires do Rio, cheguei e uma chuva danada, e eu sem guarda-chuva. E quando eu... Tinha muito beco, muita coisinha pra ir, e eu tinha que ir, enrolar as coisas na mão pra não molhar e sair correndo. E acabou a força, e eram muitas ruas e passava por uns bequinhos assim, umas favelinhas e tinha uns bequinhos. E eu correndo e chovendo e, no escuro, um cara correndo atrás de mim e eu morrendo de medo. Ele ia me matar. E tinha passado essa favelinha, e eu correndo, e ele correndo, e ninguém nem falava, no escuro! Aí, quando entrou no bequinho, ele gritou: “A senhora vai pro mesmo lugar que eu vou!”. Eu aliviei. “Pra onde?” “Eu vou pra faculdade.” (risos) Aí, aliviou, mas a gente não se via, que estava no escuro! (risos) Ele fazia comércio exterior e ele fazia num prédio, e eu fazia no outro, naquela época não era Unicsul. Quando chegou lá em cima, eu fui pro meu lugar e ele pro dele. Depois, ainda deu pra gente se falar qual era o curso dele e qual era o meu, e depois a gente se conheceu e ele ficou sendo o amigo do escuro! (risos) Porque nós nos conhecemos no escuro. Depois, foi conhecer as caras e depois apareceu muito amigo, colega dele, colega nosso, tinha colega da matemática, tinha a Trancinha, aí ia todo mundo caminhando “de pés”, de noite, quando voltava. Todo mundo tinha uma história pra contar. Tinha o Israel, parece que o nome dele era Israel, ele era político, era no tempo do Lula, naquela fase do Lula: “Companheiros e companheiras” (risos). Eu sei que foi assim. E não participei da festa. Não participei porque não tinha condições e também não queria saber. Mas no dia da confraternização não foi muito diferente, não. Eu tinha carro, naquele tempo era tempo da TR [Taxa Referencial], aquele tempo da moeda por dia, há muitos anos! Não tinha TR? Vocês não sabem! A gente chamava de TR, era aquele que rodava todos juros, todo mundo fez poupança porque corria muito dinheiro por dia. E eu juntei dinheiro e comprei um carro, um carro legal, tive carro muito tempo, mas eu não andava no carro, era ele. Eu não entrava no carro, era ele que... O carro era só pra pagar as multas e tudo. E eu comprei aquele carro. Já tinha facilidade, meu filho já sabia dirigir, já me levava às vezes, quando tinha oportunidade. Mas ele não ia comigo. Aí, foi a mesma coisa. No dia da confraternização, convidei todo mundo pra ir, meus filhos chegaram do trabalho, ele bateu o pé e: “Não vou mesmo!”, falou uns palavrões lá. E eu me arrumei, peguei minha bolsinha e fui na chuva, que dá uma sorte de chuva! Cheguei lá na chuva, mas foi muito legal, porque na confraternização você lembra do dia que começou até o dia que foi, relembra isso, quem foi amigo e foi muito legal. E assim fui eu, terminei essa daí. Depois que inventei de fazer Letras, que não pode, por um problema muito grave, que não quero ver vocês chorando, se eu falar o que foi que aconteceu, vocês choram, mas foi muito grave isso na confraternização.
P/1 – Você ia contar uma história que era triste, mas não queria contar, mas tem que contar.
R – Isso foi depois, mas vocês me perguntaram. Cada um tem uma etapa difícil. Do outro, foi quando ele pegou a faca lá assim e de quando eu estava fazendo faculdade. Eu sempre fui assim, sei lá, não sei o que acontece comigo, eu acabei sendo bem vista lá e funcionava assim: tinha uma unidade na USP [Universidade de São Paulo] lá perto da USP, tinha outra... Ah, meu Deus... Guacuri! É um lugar que fica perto de Diadema, lá perto da represa e tinha muitos. E, quando precisava, tinha eventos, a gente fazia evento de 400 componentes, era muita gente. E a gente assumia, todo mundo trabalhava, lá tinha médico, tinha dentista, tinha de tudo, de enfermeiro, tinha tudo. Mas não tinha ninguém nem alto e nem baixo, entrou lá e era igualdade e inventava de pegar turma. Tinha o programa do PCR, o PCR era Programa de Criança de Rua, eram oito grupos, e se juntava todo mundo quando era pra um evento, num lugar só. Levava o evento em tal lugar e iam todas as unidades, e as pessoas tinham que se deslocar. Aí, um belo dia, no fim da tarde, o diretor mandou me chamar no escritório e falou: “Olha, amanhã você vem decidida porque você vai pegar um ajudante e, quando for umas oito horas, a perua da Secretaria do Menor vai chegar aqui com motorista pra buscar, e você vai levar uma pessoa pra trabalhar porque estão precisando muito, senão, não dá conta do evento e você vai junto” – porque a gente tinha que fazer fantasia, figurino, programação, conversar, ter reunião, essas coisas. Aí, eu avisei em casa, e ele não aguentou aquilo ali. E eu falei: “Mas eu tenho que ir porque é do trabalho, tá dentro do trabalho, eu tenho que ir”. “Não, você não vai pra esse lugar! E mais com quem você vai?” – aquele ciúme que ele tinha, e eu fui. Quando cheguei lá, já escalaram. Eu tinha até que escolher, eu até parecia gente. “A Regina vai comigo, eu gosto de trabalhar com ela” – fomos eu e a Regina, a Regina também era casada. Quando nós chegamos lá, tanta coisa. E tinha o Pitanga, que tomava conta de uma turma de PCR na Paulista, por ali, aí já me informaram dele, naquele tempo não tinha celular, tinha o bipe. E já me deram o bipe dele pra eu passar, e ali nós começamos. Onde nós estivéssemos, não tinha lugar, não, fazia uma turma aqui em cima da mesa, em cima da pia, ali montava o que tinha que montar. Só que trabalhou e, quando foi lá pras dez horas da noite, falou: “Vocês não vão ter condições de voltar hoje, não. Não vai porque nós temos que dar conta desse serviço até amanhã à tarde, se não der, não faz o evento, porque aqui é onde tá mais atrasado e nós estamos pedindo funcionários das outras unidades e não tem. O único que liberou foi o Águia de Haia” – que era onde eu trabalhava. E eu fiquei, fiquei. Quando foi de noite, eu liguei em casa, eu já tinha telefone em casa. Liguei e falei pro meu filho: “Onde a senhora está, mãe, que não voltou pra casa?”. Falei: “Estou no Guacuri”. “O que é isso?” “É uma unidade que tem aqui, e eu não posso voltar hoje, a gente vai virar a noite trabalhando.” Quando meu marido soube disso, aquilo foi um desespero! Aí, o mundo quis se acabar em casa. Legal. Eles falavam: “Pai, a mãe não pode vir, ela está trabalhando. Ela está avisando, é uma responsabilidade, só vão terminar amanhã, não sei que hora do dia, a gente...”. E era assim, correria, era muita, era muito. Eram 400 pessoas que tinham que apresentar, era muito gente. Trabalhava com teatro, negócio de circo, de tudo tinha um pouco. Aí, beleza, fiquei lá, trabalhei o dia, trabalhei à noite, trabalhei o dia e, no outro dia, quando foi lá pras quatro ou cinco horas, terminou o serviço, a perua pegou e veio trazer nós. Primeiro passava na unidade e depois ia levar em casa. Ah, quando eu cheguei em casa, qual não foi a surpresa? Tudo bem, ele dormiu e ficou noite... A minha casa, tinha uma casa que era até uma casa grande e tinha um terracinho na frente com chão, um pedaço, e ainda tinha até mato. Ele não achou outra coisa, pegou meu colchãozinho novo (risos), nosso colchão, e pôs lá e fez um fogo e queimou o colchão. Por quê eu não sei (risos). Ele queimou o colchão. “Tá doido?” “Não, ela não veio, mas também não vai dormir mais nesse colchão, ela vai dormir no chão agora” (risos). Ela não dorme mais nesse.” “Mas o senhor tá doido?” E ninguém tomava a frente, ele queimou o colchão. E não era colchão velho, não. E os vizinhos todos olhando: “O que está acontecendo?”. Tacou fogo no colchão. Quando eu cheguei, já estava o comentário e ele já foi como uma fera: “Aí, sua filha da puta...”, falava palavrão mesmo! Tá bom! “Você não vai, você vai morar mais eles lá e você não sei o quê”, aquelas conversas. Tá bom. Não tinha onde dormir, eu durmo no chão mesmo, tinha um colchão de solteiro, ele foi dormir no colchão de solteiro. Falei: “Não faz mal, eu fico aqui”, me virei, tinha um sofá, fiquei me virando. Aí, eu falei: “Também não vou comprar outro colchão, pra comprar e você queimar, não vou comprar”. Até que passou uma semana ou duas, ele não gostou de dormir no chão, tem aquele povo que passa vendendo em periferia, vendendo colchão, e ele comprou. Ele não comprava as coisas pra casa, e eu disse: “Só assim pra você comprar um colchão” (risos). E aí foi essa do serviço. E da faculdade tem muitas. Agora aquela outra foi agora na última década, porque eu estou escrevendo as minhas coisas em casa é por décadas. Essa aí foi quando eu parei de fazer Letras, inclusive, eu paguei agora uma dívida de mais de dez mil reais, não era tudo isso, eu tive um reembolso, mas foi quase quatro mil reais, porque eu tive 30 dias que não podia desistir. Eu ganhei a bolsa integral, Letras, eu fiz a prova e passei e ganhei 100%, isso não faz muito tempo, não, foi 2012 pra agora, não faz muito tempo, não. Só que a coisa foi tão grande que eu fui procurada pela polícia muito, fugi, dormi na rua, fiz tudo isso. Aconteceu isso na minha vida, mas isso é coisa pro fim (risos). São coisas pra depois, porque minhas coisas são por décadas e essa daí... Passei uns momentos difíceis e antes também com esse maridinho aí, ele morreu. Esse maridinho morreu em 2007, dia 25 de dezembro. Ele já tinha arrumado lá umas namoradas e depois quis desquitar e eu: “Pra quê? A gente é tão velho!”. Pois tá bom, ele separou, pegou o colchão que era dele! (risos) Esse colchão deu até ele morrer, pôs no outro quarto, tinha um quarto de lá, ele disse que eu ficasse morando no quarto, que eu também não quis, só que o danadinho ficou doente e ele ia dançar todo sábado. Essa eu posso falar? Acho que não.
P/1 – Pode!
R – Concluí, por isso que pega no começo e vai no fim, isso aqui já foi da morte dele, quando ele morreu. E ele tinha uma namorada que a filha era uma beleza, e ele não queria mais saber de outra coisa e ele falava que tinha muita saúde. Ele tinha ficado internado uma vez, ele fez umas pontes de safena, e eu tinha um carro. Depois que eu fui trabalhando, eu tinha carro, e ele não tinha, o carro sempre foi meu, mas ele não tinha carta. E eu tirei carta, mas ele não deixava pegar no carro e toda multa, tudo que acontecia era comigo. E esse carro era pra ele passear, ir para os bailes, ir pra onde ele quisesse, e eu não andava no carro, só se ele quisesse que eu andasse. Mas beleza. Primeiro, ele ficou doente e operou, passou 48 dias internado e voltou e estava bom e fez as pontes de safena. Fez arte e voltou, por isso ele ficou muito tempo internado, porque ele foi dirigir e deu hemorragia interna e foi. Mas passou uns anos, ele ia dançar, todo sábado, às vezes sexta, sábado e domingo, até 11 horas. Descobriu um baile lá que era uma beleza. Baile da terceira idade. Por lá, arrumou uma namorada e por lá deu tudo certo, e eu, está bom, quer ir, vai, está bom. Mas ele ia, mas não queria que eu fosse pra lugar nenhum, nessa mesma época a filha da minha prima casou, uma festa bonita, ele não foi, foi pro baile lá, no bendito do meu carro e ainda bateu o carro e ainda teve uma confusão. E o carro estava novinho, foi o último carro que eu possuí. Aí, ele começou a chegar mais cedo, o horário dele vir, parava lá 11 horas, e ele chegava 11 e meia, meia-noite ou mais. Aí, começou a chegar às dez horas e quanto mais cedo ele chegava... “O que está acontecendo? Correram com você de lá?” “Não, é que eu tô velho, tô ficando cansado!” Só que ele começou a ficar doente lá e ele não queria falar que estava doente. Eu falei: “Faz o seguinte, eu vou marcar uma consulta, quero que você passe no médico”. “Ah, não precisa, eu não vou que esses médicos do posto demoram e não sei o quê” – não tinha mais convênio – “E eu não vou”. Eu fui num médico conhecido meu, marquei a consulta pra ele, ele foi. Eu falei: “Agendei uma consulta pra você, é uma vaga, você não vai esperar muito tempo, é tal dia” – era uma quinta-feira, ele foi. Foi, passou, brincou muito com o Doutor Oswaldo, ele contando dessa namorada, e Doutor Oswaldo brincando com ele, passou. Quando foi no dia dele voltar, ele não queria retornar, falei: “Você tem que retornar porque você tem que receber o seu exame”. “Eu não vou, eu não vou.” Eu digo: “Vai, porque você já passou no médico, pediu exame, você fez esse exame, vai buscar esse exame, não custa”. E ele era daqueles que só não ia no banheiro de carro porque não cabia! Mas era aquela ignorância estar dentro do carro, e o carro era meu, mas eu não estava nem aí. E ele foi. E era numa quinta-feira e amanheceu o dia, vai, e daqui a pouco ele voltou: “O Doutor Oswaldo falou que amanhã às seis hora ele tem que estar no Planalto, fazer um exame, tem que ir em jejum”. Falei: “Tá bom”. Só que era quinta-feira e no sábado ele tinha um churrasco, porque lá nesses grupos onde ele ia era um tal de velho e velha, cada um arrumava um namorado e cada um, tudo amigo dos outros. E eles ligavam pro outro e ligavam lá pra casa, e eles eram muito amigos. Eu até aceitava, eu digo: “Ah, está no fim da vida mesmo, é o que você quer, faz o que você quer!”. E ele dizia que não gostava de mim e que aquela mulher era a vida dele, pois tá bom. Quando foi na sexta-feira cedinho, ele se levantou pra ir, aquilo passou uns três ou quatro minutos, ele voltou e subiu, a casa tinha escada, ele subiu: “O que é? Não foi, não?”. “Ah, eu esqueci um papel e eu não vou mais não!” “Homem, você vai!” “Eu não vou, não, é conversa. Ele disse que tem um problema no sangue, Doutor Oswaldo está ficando doido, esses médicos estão ficando doidos.” Tá bom. E eu sabia que ele ia ter um churrasco no sábado e era na sexta-feira cedo, dia três de agosto, nunca vou esquecer, de 2007. Aí, ele saiu pras coisas dele, não sei o quê. Quando foi mais tarde, eu olhei no papel, quando eu vi: “Você sabia que isso aqui é grave e você não foi?”. “É conversa do médico!” “Conversa o quê, você fez o exame, isso aqui é grave.” Quando foi no domingo, eu falei pra Leda. Ele foi pra festa dele, bebeu, que ele gostava muito de beber, ele bebia cachaça, os colegas traziam cachaça de alambique e ele bebia cachaça mesmo, vivia de fogo e tudo. Eu falei pra Leda: “Leda, aqui está o exame do seu pai, você entende, isso aqui é grave e ele não foi fazer, não, e diz que não vai, que é conversa do Doutor Oswaldo”. Quando ela olhou, ela tinha um amigo no Santa Marcelina, ligou pro amigo dela: “Marca uma consulta pro meu pai porque nós não temos convênio, e ele tem que passar aí urgente, você pode marcar?” “Pode.” Naquela mesma semana, ele foi. Como era de carro, ele foi, pegou a Leda e foi. Quando chegou lá, a médica olhou: “O senhor está doido que tinha isso aqui sábado e não foi? Por que o senhor não foi? O senhor é louco? Isso aqui é câncer! O senhor tem leucemia e isso aqui está muito avançado!”. Quando a médica falou isso, o homem já morreu. Quando ele chegou em casa, sabe quando esmorece de uma vez? Ele era aquele homem muito de mexer com os outros, de ficar mexendo com mulher, a minha casa era sobradinho assim e, lá de cima da sacada, a mulher passava, e ele ficava falando piada, alguma coisa. Xingava todo mundo, brigava, ele era daqueles que, se não estivesse de mal com o vizinho da direita, o da esquerda ele estava, ele tinha que estar de mal com alguma pessoa (risos). Aí, ele não queria mais sair, o que aconteceu? A Leda ligou pra mim: “Mãe, o negócio do pai é muito grave, a médica deu a maior bronca e marcou pra ele voltar e nós temos que correr atrás disso porque está muito avançado isso aí”. E ele achava que não tinha doença, mas já estava sentindo. Aí, ele tinha ido no domingo antes almoçar na casa da irmã dele, ele começou a falar que a irmã dele tinha feito alguma coisa pra ele ficar doente, que a irmã dele tinha bronca dele porque ele tinha essa vida errada. “E ela fez alguma coisa pra eu ficar doente e pôs coisa naquele frango, por isso que fez mal e não sei o quê.” Começou a inventar e criou coisa na cabeça dele e não saiu mais de casa. E não saiu e começou a emagrecer assim imediato mesmo, e a gente levava no médico e também os médicos só desanimavam. E logo já foi marcada quimioterapia e já foi fazendo tudo, e ele já foi sabendo e ele morreu por si. Foi aquele canceroso que morreu antes (risos), vivo e morreu! Mas ele ficou internado 17 dias, pra fazer um monte de exames e avisou, mesmo assim, do jeito que ele estava, os colegas dele. Ligavam pra mim pra saber dele, as colegas dele perguntavam se podia visitar. “Pode visitar.” E essa namorada dele ia visitar, só que ele avisou no hospital que eu não podia visitar ele, que quem ia era essa mulher. E nisso ele passou 17 dias, e eu ainda ia, mas, quando eu ia, ele ficava doido, passava mal, até combinar de é melhor eu não ir, porque, pra ele, passar mal. E ela era quem ia lá e beleza. Passou 17 dias, deram alta, foi pra casa. Ele não quis ficar em casa, porque a mulher tinha que visitar ele lá em casa, e os amigos, primeiro foram os colegas, as colegas: “Posso ir visitar?”. “Pode, pode vir quem quiser.” Depois pediu pra ela ir. Minhas filhas, a irmã dele, ninguém aceitou. Tá bom. Pegaram, e foi pra casa da minha filha, pagaram uma enfermeira pra acompanhar ele lá. Minha filha trabalhava e tinha a moça que cuidava da casa, e ele ia ficar lá e essa mulher ia lá, quase todo dia lá. E começou a dar briga, e ele brigou e brigou com a enfermeira, e brigou com não sei quem, e brigou com minha filha, não quiseram mais na casa da minha filha. Foi na casa da outra filha, que morava mais perto da minha casa. Aí, o meu genro muito ao pé da letra, evangélico: “Não, aqui não vai ser aqui, não. Veio-se de lá, mas aqui não vai vir ninguém de visita aqui, não vai vir, só se for nossos amigos daqui”. Ainda mais, o homem é evangélico: “Não quero ninguém de forró, não quero ninguém aqui, eu quero que venha aqui gente da igreja”. Ficou lá. Só que a bendita da mulher ligava pra ele toda hora e aquilo foi irritando meu genro. E minha filha já foi achando ruim e a briga dos dois lá: “Seu pai vai ficar aqui, mas eu não quero que essa mulher ligue aqui, não sei o quê”, me chamaram lá. “Tá aqui, na minha casa eu não quero mais, pra onde vai agora?” Desceram lá embaixo, ele: “Sabe de uma coisa? Ele pode ser o que for, mas ele trabalhou muito. A casa lá? Eu não trabalhei só, não, trabalhei muito, mas foi mais ele e a casa é dele. E ele tem pra onde ir, vai pra casa dele.” Se foi pra casa das duas filhas, o filho já estava meio doido lá também, separado, parece que estava separado, não sei como estava naquele tempo, já estava todo atrapalhado. Eu tive muito problema na minha vida! Com um filho que usou drogas mais de 25 anos, cocaína da legal mesmo, sendo internado naquelas clínicas bem caras, vendendo tudo que tinha! Aí, o jeito que tinha era esse: “Vai pra casa dele”. “Mas a senhora tá doida?” Eu digo: “Vai pra casa dele, a casa é dele, não é só minha, não. E ele tem pra onde ir, ele trabalhou. Se tem aquela casa, ele trabalhou muito”. “É, mas tudo a senhora deixa, não sei o quê!” Foi pra minha casa. Chega na minha casa, logo os amigos: “Tá na sua casa, posso ir visitar?”. Primeiro, vai os amiguinhos, depois vai o amigo e amiga. Depois ligaram: “Pode ir a mulher?”. Eu digo: “Pode sim (risos), pode sim!”. “Mas isso é um absurdo!” “Pode sim.” Aí ela ia visitar ele, legal mesmo, chegava lá. Aí, inverteu, o quartinho que ele tinha, ele tinha dito que tinha separado e não queria mais morar mais eu. Porque, quando ele foi pra casa da minha filha, de lá ia morar mais essa mulher e não ia voltar mais pra casa. Mas, como não deu certo, ele voltou. Mas ele já voltou, eu fiquei no quarto grande com a cama de casal, e ele ficou no quartinho pequeno onde eu tinha ficado morando quando ele não quis que eu fosse pra outro. E de boa. E eu cuidando dele. Mas do meu jeito, cuidando. E a mulher ia lá e tudo bem, legal, e dizia que gostava dele e ligava a hora que queria e eu pegava o telefone, tinha extensão: “Tá aqui”. Falava com ela, falava: “Tá aqui seu remédio”. E aquilo foi. Mas ele foi só emagrecendo, se acabando, se acabando, se acabando e em pouco tempo ele ficou num nada da vida. E a doença foi tomando conta, já deu metástase, já passou pra cabeça. Mas, mesmo assim, ele pegou melhor a vida, foi no mercado e pegou tudo, mas já tinha tirado até aquele benefício, como é quando a gente tira? Os últimos resíduos que tem lá no INSS, fundo de garantia, essas coisas. Antigamente, já hoje tira antes. E tiraram tudo que ele tinha e ele já estava consciente. Aí, ele esmoreceu, esmoreceu, e foi, pegou uma melhora. Aí, foi, teve uma recaída. E ele era o dono do poder, pegou o dinheiro e ia comprar carne, ele gostava muito de carne e ia na casa de carne. “Eu vou também.” Eu digo: “Você não pode dirigir”. Pegou o carro, quando chegou: “Pra onde nós vamos?”. Aí, ele foi no Atacadão, fez uma compra assim e ele disse que era compra até o fim do ano. E foi mesmo. Quando ele chegou no caixa, ele esmoreceu. Aí, minha filha era da polícia, eu liguei rápido e ela veio com a viatura, levamos ele direto pro hospital e de lá ele não voltou mais em casa. Só que ele passou 28 dias internado, e eu todo dia de manhã ia ficar com ele. Ia, levava a roupa. Ele era muito vaidoso, gostava muito de roupa boa, de luxo, camisa de seda. Quando tirou... (risos) Aí, quando ela ia, a mulher era enfermeira da Beneficência Portuguesa. Quando ela estava de folga, ela ia. E a gente se encontrava, estava lá junto! Ela falava pra mim: “Você pode falar ou dizer que não gosta de mim, eu não acredito”. Eu digo: “Você é quem sabe. Você não gosta dele?”. “Gosto.” “Você não está me ajudando?” Os irmãos dele e as irmãs foram lá, meu irmão foi e nunca mais que foi visitar porque ela estava lá. Meu irmão calhava de ir no dia que a bendita da mulher estava. Um dia chegaram o irmão dele e a irmã dele lá, fizeram um escândalo no São Paulo todo, avisaram pra todo mundo como era que eu deixava e brigaram com a mulher e foram embora. As minhas filhas foram acostumando, não achavam muito bom, não, achavam ruim, mas eu digo: “Vocês não podem, estão trabalhando. Ela está me ajudando! Ela não gosta dele? Eu não vou dar conta, não. O dia que ela vier pra mim, beleza!” (risos) E assim se foi. Quando foram 28 dias que ele estava lá, morreu. Legal, passei a noite, porque, quando era... Mulher não ficava de noite, só era homem que ficava. Lá era aquela enfermaria, tinha três leitos e só era homem. E a noite que homem ficava, quem ficava de dia era mulher. E, quando foi de manhã, que eu cheguei lá, mas eu tinha pedido ao médico, Doutor Felipe, porque ele estava querendo ir em casa. E ele falou: “É, mas eu vou fazer o exame, mas quem tem leucemia, se injetar sangue, se tomar sangue, o sangue não para”. E eles tinham passado sangue pra ele. E, quando foi de manhã, que eu cheguei, ele tinha pedido pra levar uma cueca, acho que era uma cueca, que era de seda. Quando eu cheguei, procurei a enfermeira, ela disse: “Não, ele está bom, foi tomar banho só hoje” – que ele esperava pra tomar banho. Cheguei: “É essa que eu escolhi, é essa que você quer?”. Aí, ele voltou legal, conversando. Quando ele foi chegando, estava aquela roda de sangue, eu falei: “O quê que é isso?”. “Ah, um negócio que me deram aí, eu vomitei.” Aí, parece uma despedida. Chegou o meu filho, o moço que estava assim tiraram pra UTI [Unidade de Terapia Intensiva], e a televisão era dele. Ligaram pra, não sei, um dos meus filhos. Ligaram que tinha que levar televisão lá pro quarto. Aí foram minhas duas filhas. A minha filha que é professora tinha tirado licença um dia antes pra ficar com ele, que eu estava muito cansada. “A senhora já passou um mês, o próximo mês eu passo.” E a outra já estava lá com a televisão. Mas estava com dificuldade, ligaram pro meu filho. Ficaram os três lá, e ele conversando e falando de mulherada e brincando mais o homem que ficava do outro lado: “E nós somos amigos e nós somos bagunceiros mesmo!”. E eu tinha que fazer a unha, eu falei: “Olha, eu vou fazer minha unha, hoje quem vem é a minha vizinha, Dona Carmem e Seu José, e eu daqui vou fazer a unha. E vou comprar um colchão desse coisa de ovo aí, que esse do hospital é ruim”. Aquele que chama casca de ovo. Aí, eu desci, ele ainda brincou. Eu pagava uma pessoa pra ajudar na casa, porque eu ficava todo dia lá. E a Leda falou: “Mãe, vai fazer sua unha, a Dona Carmem vem à tarde, vai descansar”. E eu fazia teatro também naquele tempo. “A senhora vai descansar, volta pra fazer seu teatro porque eu tirei uma licença e vou passar um mês com o pai.” Ele olhou, ele era muito brincalhão: “Ó o golpe! A outra paga uma empregada, um salário pra uma cuidar da casa, dizendo que é porque cuida de mim, pra não arrumar a casa. A outra, pra não aguentar os alunos, tira uma licença”. Deu risada. Eu fui, fui fazer minha unha, de volta passei numa loja de colchão, resolvi, levei o colchão. Quando cheguei lá, a minha filha tinha ido almoçar em casa, cheguei lá e digo: “Ó aqui a surpresa!”. Ele estava como morto lá, e o moço falou: “Onze horas ele deu um grito e ficou desse jeito aí”. Eu fui, era uma segunda-feira, eu saí e fui procurar um médico, encontrei ele no corredor, ele falou: “Viu como valeu?”. Eu falei: “Não.” Porque ele tinha passado as oito horas: “Passei lá, tá legal”. Eu falei: “Vai ver como ele tá agora”. Quando ele chegou, ele estava assim. Ele falou: “A dor é muito forte, Seu Francisco?”. Ele nem respondeu, só balançou a cabeça. Ele olhou pra mim e disse: “Já estava previsto”. Eu fiquei à tarde com ele, que era na segunda-feira, e a mulher ia trabalhar na segunda-feira, era na terça. No domingo à noite, eu passei muito tempo com esse bilhetinho, eu podia ter guardado, né? Que ela: “Cleta, eu estou indo, é 10 pras seis, e só volto terça-feira, segunda-feira eu trabalho”. Passou muito tempo, estava lá em cima, eu pus no bolso do blazer e ficou por lá muito tempo. Eu fiquei à tarde com ele, ainda pus as bolachinhas na boca dele à tarde. Chegou o moço, o pai dele estava do lado, trabalhava até no Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]. Eu falei: “Olha, você cuida bem dele à noite, porque de dia, quando minha filha fica aqui, ela cuida bem do seu pai”. “Não, está bom.” Cheguei em casa, sosseguei, de noite tomei banho e fui pro teatro. Todo mundo: “Nossa, você está com um mês que não está vindo!”. Eu falei: “É, não estava podendo.” Fiz meu teatrinho, foi legal demais. Quando eu cheguei em casa, era calor, que me deitei – eu gosto de lençol no calor –, que eu pus o lençol na cama, toca o telefone: “É a família do Seu Francisco?”. “É sim.” “É pra trazer a roupa dele.” Eu falei: “Nessa mochila aí tem muita roupa.” “Então, traz os documentos.” Não deu outra. Cheguei lá, queriam esconder, eu digo: “Que nada, eu estou sabendo, estou preparada!”. “Mas a senhora...” “Que nada!” Ainda estava quentinho lá (risos). Ele morreu 11 e dez ou dez pras 11, uma coisa assim. E eu tinha chegado em casa essa hora, foi a hora que eu cheguei. Aí, morreu, foi Seu Chico. Aí, a mulher... Ainda até, não tive notícia dela depois, que tinha arrumado outro e tudo, não veio mais. E foi uma das coisinhas que aconteceu, das pequenas coisinhas que aconteceu. Teve outras bem pior do que essa, mas deixa pra lá!
P/1 – Como você se sentiu, Cleta, quando você soube, quando você recebeu a notícia?
R – Que ele morreu? Normal, eu sou tranquila! Eu me senti normal. Quando eles falaram assim: “Pega... Trazer as roupas dele”, eu falei: “Tem muita roupa na mochila”. Ele era vaidoso, eu falava: “Quer vestir essa hoje?”. Então, eu falei: “Não, mas tem muita roupa aí”. Quando ele falou o documento, “traz o documento”, eu não tinha dúvida! Eu fui preparada. Quando eu entrei, que eu entrei pelo particular, pelo segundo andar, e, pra ir lá pro necrotério, ah, fizeram aquele suspense! Eu falei: “Não, eu sei o que aconteceu!” “Ah, como que a senhora sabe?” “Pelo recado que me mandaram!” Minha filha já foi chegando, já fomos no necrotério, ele estava quentinho ainda. Nunca tinha visto uma pessoa quando morre, fica quentinho assim. Também foi normal. Minha filha desesperada chorando, não sei o quê. Eu fui no telefone que tem lá dentro, liguei pra meu irmão, liguei pros outros, aqui nós estamos, vamos levar e lá foi e continuou. Que eu sou assim mesmo. No outro dia no velório, uma colega minha: "Seu marido morreu, você não está chorando?”. Eu digo: “Se chorar fizesse alguém voltar! Ele morreu porque eu não mandei ele morrer, não!” (risos) Ele morreu na segunda-feira, na quarta-feira, eu voltei pro teatro. “Ah, e aí?” “Ele morreu ontem.” “E a senhora já está aqui?” Eu falei: “Minha filha, eu não mandei ele morrer, não, ele morreu!” “Mas você é louca!” Digo: “Não, não mandei ele morrer, eu vou continuar minha vida. Quem morreu foi ele”. Eu sou desse jeito! Quando meu irmão morreu também, passou dez meses naquele lugar que a pessoa fica sem saber de nada, que ele teve derrame cerebral, dez meses e 14 dias. E eu tenho um negócio em mim que eu sei lá, parece que a coisa é meio de vidência. E aquele dia eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu trabalhava na Secretaria do Menor, quando disseram: “Cleta, telefone pra você”. Quando eu peguei, ele falou: “Mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora, a senhora está preparada?”. Eu digo: “Já sei, Deinha morreu. Por quê?” “Pois é, mãe, ele morreu.” Eu já tinha assim um toque. Aquele dia eu tinha prova, me dispensaram do serviço: “Ah, seu irmão morreu, vai pra casa”. Fui lá no velório, levaram o corpo dele, fui lá, fiquei lá. Quando foi de noite, fui em casa, tomei banho, fiz a prova, voltei pro velório. Quando foi de manhã, enterramos ele, nem me lembro a hora. Fui em casa, descansei. De noite, tinha prova também, fiz a prova. Quando eu terminei a prova da faculdade, eu falei: “Professor, sinto muito, agora eu vou embora porque meu irmão morreu ontem e se enterrou hoje. E ontem foi velório e hoje foi enterro”. “A senhora está louca, por que a senhora não falou que a senhora pagava a substitutiva?” Eu digo: “Se eu pagasse e ele voltasse à vida, tudo bem, mas não volta!” (risos) Mas também não sou assim de... Eu sou assim meio... Cada pessoa tem um jeito, a minha loucura de vida é essa. Agora, por isso que vai muita conversa, porque eu fiquei pensando assim, naquele dia nós falamos até aquela história do primeiro namoradinho, quando era criança, depois e aqueles namoros que foram os mais de verdade, que foram umas histórias interessantes, aqueles que todos os encontros foram namoro, uma pessoa que eu encontrei, todas as vezes que eu encontrei foi namoro e morreu e não acabou esse namoro, porque uma coisa que foi tudo pincelada, mas existiu. Aquele que eu não casei porque... Aquele que eu falei, foi aqui ou foi no teatro? Não, essa história acho que foi no teatro. Eu tinha 16 anos, e era assim, namorava com os filhos dos compadres, com os vizinhos. Era um rapaz bom, tinha que casar. E eu já naquele tempo já tinha uma coisa na minha cabeça: “Eu vou casar nessa idade?” Eu via essas meninas tão novinhas casando, no outro ano tem um filho, no outro ano tem outro, e eu não quis casar. E eu queria muito estudar e pesquisar e não tinha oportunidade. E ele me pediu em casamento, foi tudo bonitinho. Aí, eu desisti com muito dó, doendo o coração. Porque não era amor, porque na verdade aquilo não era amor, mas eu gostava. Mas pra casar eu não achava que ia ser depois. Aí, eu sofri muito de besta, porque eu pensava que era amor e sofri por aquela paixão muito tempo, porque ele ficou muito sentido, foi namorar com uma grande amiga minha e eu fiquei com muito ciúme. Mas depois não deu certo e ele foi pra Fortaleza, e eu fiquei sofrendo por ele muitos anos. A mãe dele morreu doente, porque queria que ele casasse comigo e ele casou foi com outra. Mas depois a outra também morreu, eu falava pra ela: “Não esquenta, não, quando ele morrer, a viúva sou eu”. Mas ele morreu e eu já tinha casado e assim foi. Essa história foi uma história muito... E teve aquelas histórias na ignorância, primeiro dicionário da minha vida, aquelas coisas bem de antigamente, teve muito essas histórias. Foi coisa que ficou assim por esses meios. Porque eu tenho pra mim que tem que ser um livro mesmo, eu tenho muitas histórias de vida. Essa passagem desses namorados, dessas épocas de namoro. Uma outra coisa de criancice, que eu não falei naquele dia porque foi muita coisa pra conversar, as primeiras travessuras, as coisas que você fazia uma travessura porque você achava que precisava fazer. Ouvia a conversa dos adultos, que naquele tempo era muita privacidade, criança tinha que ficar longe. E eu tinha meu irmão lá, a gente tinha uma curiosidade, o que a gente ouvia, via falar uma palavra, você ficava pensando naquela palavra, o quê que é aquilo. E não existia dicionário, a gente não sabia o que era um dicionário. Na cartilha, no livrinho da escola, tinha no rodapé um vocabulário explicando alguma palavra. Aquilo pra nós era... Mas não era todos. Aí nós víamos os adultos, as pessoas que sabiam mais conversar, e prestava atenção e escrevia e o quê que é aquilo. Até que um amigo comprou um dicionário. Essa história desse dicionário é uma história muito, deu briga, deu fofoca, deu tudo! Eu tenho aqui no meu celular foto desse primeiro dicionário porque passaram muitos e muitos anos, eu já tenho 80, eles morreram com mais de 80, e eu conheci a família deles. A gente era pobre, pobre demais! Não sabia o que era um dicionário e ficava falando as palavras. Um dia, ele falou: “Tem um livro que a gente pode saber de todas as palavras”. Ele ouviu do povo, ele era o mais perto de Isidoro, meu querido Isidoro, onde tinha Doutor João, aquele que fugiu. E ouviu os outros conversando e ele falou. E ele deu um jeito e comprou esse dicionário. Andando... Ah, meu Deus, sete léguas? Eu não sei se são 30 quilômetros, eu não sei. Era muito longe, indo em cima de um caminhão pra comprar com o dinheiro da safra de algodão, que só tinha dinheiro no fim do ano pra comprar uma roupa. Uma roupa não, um pano, um tecido pra mandar fazer a roupa. Que só comprava uma roupa nova no fim do ano e era tudo coordenado pelos pais. Mesmo já sendo um rapaz com 18, 20 anos, mas era coordenado pelos pais. E ele foi comprar mais o meu irmão, fizeram a viagem, saíram de madrugada pra chegar de noite em cima de um caminhão, almoçar... Lá não almoçava, era uma sopa que não era sopa, era um caldo que o dinheiro sobrava pra tomar aquele caldo lá, pra comer de noite quando chegar em casa. E ele comprou o bendito dicionário, que custou, eu acho que era mil e 500 mil réis, que eu não sei quanto que é hoje, mas era um dinheiro. E o dicionário só quem tinha era médico, quem era que tinha um dicionário? Nem as professoras sabiam o que era dicionário, não! Nem as professoras mesmo que fizeram, naquele tempo chamava normalista, mas nem elas. Se tivesse, era uma, os mais velhos da família. Aí, esse amigo meu, irmão desse que eu não quis casar. E ficamos nós dois, e ele foi embora e nós ficamos na mesa assim, porque meu pai confiava neles. Não era nada de namoro, ele de um ladinho e eu doutro e a lamparina no meio e nós vendo esse dicionário. Ele não podia ver de dia porque ele trabalhava. Eu não podia ver porque eu tinha que ajudar em casa e tudo, lavar louça, lavar roupa, remendar roupa e fazer tudo. Mas eu me escondia dentro do quarto pra ler um pouquinho, porque ele não deixava o dicionário comigo. Mas, quando correu nas vizinhanças e na população que era muito pouco, que ele tinha pego o dinheiro que dava pra comprar uma roupa, um pano pra uma roupa ou um sapato – que todo mundo não tinha sapato, não, às vezes era alpercata – e ele comprou um livro! A crítica foi grande. E quando o pai dele soube, e esse dicionário era pra eu e ele estudar, aprender. Pra nós era uma grande informação, que realmente era, na época. Porque nós víamos uma palavra, nós tínhamos algum livrinho, muita pouca coisa, um pedaço velho de jornal que achasse, alguma coisa, um livro que foi de meu pai de antigamente, e nós víamos uma palavra e tanto ele quanto eu, a gente era interessado, sabia capturar o sentido da palavra por ter essa palavra aí. Nós ficamos muito sabidos naquele tempo com esse livro, esse dicionário, Dicionário Brasileiro não sei o quê, não era Aurélio, não. E isso já faz bem mais de 60 anos. É, eu tenho 80, faz mais de 60 anos. E eu fui passear em Rondônia, que a família dele é outra história muito bonita. Foram morar lá, morar no meio da mata e não sei o quê. E acabou começando uma cidade lá e por lá ele criou os filhos, morreu, eu fiquei na casa dele com a filha dele médica, família tudo bem estruturada e guardaram as coisas dele. E eu não trouxe o dicionário porque a família não se expõe, mas está aí no meu celular o dicionário, onde nós aprendemos as primeiras palavras. Velhinho, velhinho, mas está aí. Então, era alguma coisinha da vida da gente, passou por esses.
P/1 – A gente estava conversando, Cleta, só pra retomar, então, eu queria que você voltasse um pouquinho. A gente estava lembrando algumas coisas, aí você voltou nessa história do dicionário, voltou um pouco lá pra infância. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como foi ser mãe. Você casou e falou que muito breve você já teve o primeiro filho.
R – É, naquele tempo casava, não ia muito, dez meses nem 11 pra ter um filho! (risos) Até que eu demorei, porque eu casei no dia 30 de setembro, minha filha nasceu no dia 13 de agosto do ano seguinte. Isso aí era demorar a ter filho, porque normalmente no primeiro mês! (risos) Hoje é diferente, hoje engravida primeiro pra depois casar. Antigamente, era assim, a gente se via, se conhecia, se olhava, namoro era só olhar. Depois conhecia os pais, depois ia começar a namorar, depois casava na igreja, o católico, passava uma semana pra ir morar com o marido e depois com muito tempo era casado no civil. Foi o meu caso, eu casei, acho que com uns seis meses é que eu fiz o casamento civil. Agora é tudo diferente, primeiro se encontra, depois engravida, depois mora, depois casa no civil (risos). Hoje é tudo vice-versa! Mas aí foi normal, normal como sempre, me dava muito bem com minha sogra. Sabe pessoas ignorantes, tudo analfabeto? Acho que da época também, logo eu fui ser a dona do poder lá. Todo mundo analfabeto na família, analfabeto de pai e mãe. Só tem uma cunhada que foi, puseram numa escola longe de casa, acho que aprendeu a assinar o nome, mas até hoje ela não sabe de nada. E meu sogro começou aquele lugar, são uma família muito trabalhadora, conseguiu dinheiro, comprou aquela propriedade, fez uma casa grande. Aquelas casas que faz de tijolo, não faz acabamento, mas tá beleza. Depois o irmão dele comprou pertinho, fez uma. Depois o outro irmão comprou e foi fazendo. Aí começaram umas cinco casas no lugar, umas quatro ou cinco casas e tinha um outro lugarzinho mais aproximado que já tinha umas duas e hoje em dia chama Vila São José do Mandu. Porque, como cortaram a mata, mata mesmo pra fazer as casas, a estrada lá, fizeram estrada, puseram morada nova. Depois não sei como acharam esse nome, hoje em dia registraram a cidade, é Vila São José do Mandu, chama São José do Mandu, comunidade, escola lá é São José do Mandu. E eu fui morar lá. Só que não deu tempo de terminar a casa, que meu marido estava fazendo a casa do lado da casa do pai dele. E eu fui morar no outro lado assim, no outro sitiozinho, mas foi pouco tempo. Depois, quando eu ganhei a minha filha, já foi lá junto com minha sogra, mas foi bom porque quem é mãe – você não é mãe! (risos). Eu acho que é impossível uma mãe dizer que não é legal, ainda mais o primeiro filho, sempre as histórias de... Naquele tempo, eu já tinha minhas colegas lá pela cidade e eu era assim, pessoa que convivia com o pessoal da cidade, já estudava, já depois de casada fiz esse curso que, também, meu marido já gostou porque tinha o interesse, porque ia ganhar dinheiro mais. A proposta já era de eu ir morar por lá e dar aula na prefeitura, que era bem pouquinho, mas já era alguma coisa. E o meu interesse que sempre eu gostei de ajudar os outros, era de alfabetizar família, as crianças lá, adulto, quem... Eu queria ter escola lá já pra... Eu fui morar lá e engravidei e criei essa escola. Deixei porque vim embora pra São Paulo, minhas coisas ficaram lá, depois de muitos tempos eu voltei lá, destruíram, mas eu tinha todo aquele material de quando eu estava lá. E tive a menininha. Mas com cinco meses... Todo mundo gostou, todo mundo. Eles só tinham casado esse mais velho, que era casado com minha irmã, que morava bem longe. E o outro filho morava do lado, só eram os dois filhos casados. Essa menina foi a... Do outro, já tinha uns três netos, mas desse filho que era mais novo foi a primeira neta. Aí, foi muito bom ser mãe, ser mãe naquele lugar, aquela menininha. Viemos embora pra São Paulo, ela com cinco meses, que agora vai fazer no dia 18 de agosto, vai fazer 54 anos. Não é dizendo que eu sou velha, não, mas já passou esses anos todos! (risos) E é muito bom, ser mãe é uma coisa que você guarda todos os momentos. E também teve mais aquele privilégio, como eu já falei aqui. Naquela época, quando mulher ia ganhar nenê, a época já era parteira, ia buscar não sei onde, não sei o quê. Não tinha quase nada em casa, mas a minha já foi mais organizada porque eu já estava mais civilizada, eu já comprava algum enxoval, alguma coisa que o povo ia muito, era muito admirada pelo povo, que com as outras não acontecia aquilo ali. Com ninguém da família acontecia aquilo e comigo aconteceu, já tinha algum enxoval que era diferente dos outros. Mas meus filhos não se criaram com a família lá.
P/1 – Essa primeira, então, foi com parteira?
R – Não, já foi assim, era pra ser com parteira. Mas eu, já mais um pouco moderna, e tinha uma que era casada com meu primo também, que nós éramos muito amigas, morava num sítio perto, e nessa época já tinha pessoas que moravam no sítio e iam fazer o curso de parteira. Porque era parteira aquela lá, chegou e fez. É tipo um curso prático de enfermagem, mas só pra lidar com parto, chamava o curso de parteira. E essa mulher era uma pessoa que não morava muito perto e cobrava, porque a parteira, não, e essa se formou. Era uma coisa moderna, era uma coisa chique! E eu fui um dos primeiros partos que ela fez, foi o meu e dessa menina. É tanto que... Faz quantos anos? Minha filha já com quase 50 anos, com 40 e tantos anos, nós fomos lá e eu soube que ela ainda era... Por coincidência, nós estávamos próximos a esse lugar. Falei: “Mas aqui não é o Carretão? Aqui não tem uma mulher que chama Talita?”. Falou: “Tem e ainda é viva”. Eu digo: “Essa foi a mulher que fez o meu primeiro parto”. A minha filha: “Não acredito!” Mas nós íamos embora no outro dia, não deu tempo. Minha filha foi lá só conhecer essa mulher, tem a foto dela. E eu fui fazer uma visita pra ela. Agora, quando eu fui lá essa última vez, agora eu não sei se ela morreu. Ela deve estar agora com uns 90 e já deve ter morrido. Se não morreu, é de boba, porque já está com 98, 97 anos. Mas eu fui o parto em casa, mas com uma pessoa formada, que o pessoal, os mais faladores, tinha muita fofoca: “Ah, tá querendo ser rica! Porque toda mulher aqui ganha filho sem precisar de pagar e ela teve que pagar pra vir fazer parto em casa”. Teve essa história aí. E foi bom e fui mãe, criei três filhos. Teve outra, que foi da viagem, que meu marido falava...
P/1 – Essa primeira, então, quando vocês vieram pra São Paulo, ela estava com cinco meses. Como foi viajar pra São Paulo, como que vocês vieram pra cá com uma criança, como que foi a viagem?
R – Sempre minhas coisas têm que ter uma história! A gente morava no Iguatu. Só saía o ônibus, eu nunca tinha visto um ônibus na minha vida, nunca tinha visto um ônibus mesmo! E velha, que eu já tinha 25 anos e tinha uma filha. Meu marido também nunca tinha visto um ônibus, que nós morávamos no sítio, no Acopiara, a cidadezinha rural não tinha. E esse Iguatu, que era de onde o ônibus da Jaraguaense, que já viajava pra São Paulo, só saía do Iguatu ou do Crato, de Fortaleza, de lugar mais longe. A cidade mais próspera era essa. Só que normalmente quem ia viajar matava uma galinha ou duas e fazia uma farofa e punha numa lata, que eram umas latas que comprava bombom, eram umas latas quadradas assim, que eram pra comer na viagem. Ninguém sabia, aquela viagem tinha essa história. Todo mundo que ia viajar levava pra comer na viagem, porque saía de ônibus. Teve uns que vieram de caminhão, no caso do meu primo, antigamente. Mas já estava moderno, já estava vindo de ônibus. E fizeram essa bendita dessa farofa pra nós virmos embora. Eu também não queria vir, mas também nunca fui de encarar, nem de chorar. Chorava antigamente quando meu irmão veio, foi outra história que essa também, parecia que o mundo ia se acabar. Eu tenho a foto dele aí. E nós saímos de lá num domingo de manhã porque no sábado de manhã, num jipe, já estava mais moderno, tinha um homem lá que tinha um jipe. E nós já viemos foi de jipe. Quem tinha um jipe lá era Chico Deco, um homem rico e nós alugamos o jipe. Porque eu trabalhava, pedi a conta também do Estado lá, por isso que muita gente não queria que eu viesse embora! Porque eu ia perder o emprego lá. “Ah, em São Paulo você arruma outro, não sei o quê.” Mas eu vim porque meu marido era doente, pra mim o motivo foi pra ele fazer tratamento aqui. E nós saímos no sábado cedinho, o meu sogro chorou, chorou, foi embora pra não ver a saída, sumiu, acho que só foi chegar em casa no outro dia, de tarde. A minha sogra ficou doente, chorando. E eu me despedi sem choro, deixei minhas coisas lá: “Tá aqui, eu vou deixar isso, quando eu voltar”. E pegamos a menininha, pegamos a sacola e a bendita dessa farofa, essa coisa que fizeram, puseram lá em cima da mesa da cozinha, não sei onde, no fogão, e no choro, choro, esqueceram. E no outro dia tinha caminhão que ia pra cidade, que o povo ia pra essa cidade fazer compras. E o povo, tinha um negócio que anunciava no rádio. Já tinha radio, rádio de pilha no sítio. E anunciava da cidade pra alguma coisa. Quando nós cheguemos lá no Iguatu, que foi tirar as coisas, e cadê a farofa? Aí anunciaram no rádio e no outro dia foi pro povo do caminhão e essa farofa veio até perto de São Paulo! Mas, quando nós chegamos no Iguatu, era pra nós sairmos no dia primeiro de janeiro às sete horas da manhã. A gente vinha no sábado pra dormir na casa dos colegas, dos conhecidos lá, e saía no outro dia de manhã cedo. Já naquele tempo, já havia coisa. O ônibus vinha de São Paulo e mataram o motorista desse ônibus, da Jaraguaense. E teve que ir outro motorista, falaram: “O ônibus não vai sair”. Chegou lá na rodoviária, foi saber: “Não, vocês que compraram a passagem, esse ônibus só vai sair daqui amanhã. Porque mataram o motorista, e o ônibus atrasou e não sei o quê”. Nós vimos aquele ônibus tão grande, meu marido antes de viajar, ele foi ver o ônibus lá. Pra gente acostumado a ver só caminhão! Nós saímos no dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias. Logo que sai do Iguatu, vem uma cidadezinha, um lugarzinho que chama Lima Campos, que tem um açude muito famoso. Quando chegou nas águas daquele açude, que tinha que passar, tinha uma estrada que fica por cima da parede do açude. Aí, o ônibus quis dar uma virada, ah, tinha uma mulher que chorava! “Ai, minha Nossa Senhora das Candeias, bem que minha mãe sonhou com o dia de Nossa Senhora das Candeias!” (risos) Nunca vou esquecer dessa! E, conclusão, saiu de lá no dia 2 de fevereiro e chegamos aqui dia 9 de fevereiro. Esse ônibus era tão ruim que quebrava, e o povo descia tudo pra empurrar o ônibus! (risos) E nós nos hospedávamos pela Bahia, pelos lugares onde tinha tanta casa de cabrito, e meu marido gostava muito de carne e nós virávamos família e comíamos na mesa com eles. E finalmente chegamos aqui no dia 9 de fevereiro de tardezinha na Celso Garcia. Naquele tempo não existia rodoviária, os ônibus vinham até a Celso Garcia. E naquilo ali, é gente que vinha pra Rancharia, não sei o quê, pro interior de São Paulo, outros iam pro Paraná, vinha todo mundo junto ali. E, quando chegava ali, cada um tomava o seu destino. Meus irmãos já moravam aqui, nós tínhamos o endereço do meu irmão ali na Celso Garcia. E era bem pertinho de onde o ônibus ficava. E nós já fomos até espertos, peguemos nossas trouxinhas e fomos lá. Meu irmão estava trabalhando em uma sapataria, loja de sapato, quando viu: “Mas vocês vieram, que legal! Tem dinheiro?” “Tem, essa viagem deu dinheiro pra nós.” Deu dinheiro mesmo, na viagem mesmo. Aí, pegou um táxi, que eu também nunca sabia nem o nome de táxi! E levou lá na Água Rasa, e eu estou aqui até hoje. Amo meu Nordeste, amo de coração!
P/1 – Por quê?
R – A viagem deu dinheiro por quê? Porque a gente vinha e dormia nos cantos. Vinha, mas, quando o ônibus chegava no lugar, hoje vai dormir em tal canto. E chegou em Teófilo Otoni, nós fomos dormir. Um hotel, o casal vai. E fomos deitar. Quando foi de manhã, meu marido foi mexer no colchão, achou 360 mil réis, que era um horror de dinheiro naquele tempo, debaixo do colchão! Coitado, alguém que dormiu a noite lá. E nordestino tem essas histórias, de esconder dinheiro debaixo do colchão. E nós achamos esse dinheiro. Em cima da hora, o ônibus ia sair, nós saímos com esse dinheiro lá. Chegamos em São Paulo, que era pra chegar pobre, pobre, fomos ajudar os que estavam aqui em São Paulo! (risos) O bom da viagem foi isso! Outra coisa... Não, televisão eu já tinha visto. Meu marido disse que nunca tinha visto televisão. Meu pai que, depois de um ano, veio embora pra cá e, quando ele chegou, nunca tinha vindo em São Paulo, chegou de noite e disse: “Minha filha, eu vi um negócio que eu acho que é um radiotelevisão, vi na viagem. Nós paramos lá num canto e vi as pessoas” (risos). Eu tinha visto, porque eu já tinha ido em Fortaleza na morte do meu sogro. É muita coisa! Meu sobrinho morreu com leucemia, eu fui a Fortaleza a primeira vez. E tem, você falou umas aí que eu até me esqueci. Aquelas das travessuras de criança, mas teve outras bem legais.
P/1 – Quando você chegou em São Paulo, qual foi a primeira impressão que você teve?
R – Nem tanto assim, do povo falar que... Agora não, agora São Paulo e norte e Estados Unidos é tudo igual. Você vai, eu que já fui lá fora, você não vê muita diferença. Até a pessoa assim, eu toda vida não fui de me enrolar não. Quando eu cheguei em São Paulo, na Celso Garcia: “Mas, gente!” Mas não vi aquilo que o povo... Eu achei normal. Peguemos o táxi, fomos pra casa do meu irmão, sabe onde é Anália Franco? Naquele tempo, era o ponto do lixo, meu irmão ainda morava naquela rua de baixo. Foi ali onde eu cheguei a primeira vez. Mas não foi assim... Pra mim foi normal. Aí, no outro dia, o quê que vai fazer, vai tirar isso, logo meu marido aprendeu a andar sozinho, mesmo sendo analfabeto, começou a trabalhar, desmaiar no serviço, quando melhorava, vinha pra casa, era assim! (risos) Aí, nós fomos morar, tinha aquela família daquela, que era a que queria namorar com meu filho, já tinha vindo na frente, a gente era mesmo que irmão. Foram no outro dia cedo, foram nos ver lá, e a casa que ele morava tinha um cômodo e cozinha pra alugar no fundo. Já fomos morar lá. Ele já, que a gente, ele era irmão de criação do meu pai. E ali já adotou a menina, que eu nem criei essa menina porque eles tomaram conta da menina. Aí, eu já estava grávida, depois ainda eu tentei arrumar serviço, não deu tempo. A primeira vez que eu saí pra procurar um serviço sozinha, que eu também não fui... Eu me lembro, a primeira vez, não tinha quem me levasse, naquele tempo não tinha posto de saúde nos bairros. O posto de saúde que tinha, a gente morava na Vila Antonieta, pertinho da Vila Rica, lá pro lado do Shopping Aricanduva, que o Shopping Aricanduva naquele tempo era mata, mata mesmo. Ali era uma mata que a gente não via, só mata mesmo. E do outro lado tinha essa vila, chama Vila Antonieta e nós fomos morar lá. E o posto de saúde mais próximo que tinha pra levar as crianças bebês era na Penha. E era o tempo, quem sabe já ouviu falar, do bonde. Pra vir, a gente vinha de bonde. Vinha até o Belém, só tinha um ônibus que chamava Vila Rica-Belém. Só era esse, ele vinha no Belém e voltava. Pegava o Vila Rica-Belém, descia no Belém, ia “de pés”. Ali no Belém já descia, aquele tempo São José do Brás, que ali perto do Leonor de Barros, a gente descia até ali. Atravessava a rua pra voltar, pegava o ônibus pra ir pra Penha, ali na Penha de França, ainda tem esse hospital lá. Era um posto de saúde. E ali onde eu trazia as crianças pra BCG, eu nem sabia o que era isso. Trazia pequenininha, depois pra vir ganhar a outra, vinha. Mas eu, grávida, pegava a menina e vinha sozinha aí. E todo mundo: “Mas você já sabe andar em São Paulo?” E tinha mais, não tinha dinheiro da condução, depois eu acostumei, eu saía da Penha de França, ia pela Cesário Galeno, saía lá na Serra de Bragança, Francisco de Marengo, aquela rua eu sei desde quando eu cheguei em São Paulo! Fazia tudo isso pra tomar o ônibus no Carrão pra não pegar duas conduções. É longe pra caramba! Hoje em dia eu tomo às vezes duas conduções pra fazer isso. E eu fazia isso com uma criança no colo. E eu já vinha grávida, cheguei grávida, tinha engravidado já da outra. Tinha uma com um ano e cinco meses, mas eu já vim grávida, acho que os primeiros meses de gravidez. E eu ia pro Hospital Leonor de Barros fazer pré-natal. E o dia que eu saí, que eu fiquei pra internar, esse povo lá que eu morava era pai e mãe, todo mundo, também já era amigo lá do Nordeste. Eu morava nos fundos e passei na porta da cozinha dela: “Pra onde você vai com essa menina essa hora?” Eu falei: “Eu tenho consulta hoje, é meu pré-natal, são minhas últimas consultas”. “Você é doida!” Aí acordou uma menina dela, uma mocinha com 13 pra 14 anos: “Mimi, vai com a Cleta”. E, se ela não tivesse ido, tinha ficado internada as duas, porque eu fiquei internada pra ganhar nenê nesse dia. E tinha saído só de casa! (risos) Eu nunca fui assim de isso não deu certo, se não der certo, não deu! Vai viajar, e se o avião cair? Se cair, morre, tira o seguro! Eu sou assim. E aí vai.
P/2 – Cleta, qual foi o seu primeiro serviço aqui em São Paulo?
R – Eu não trabalhei porque era muito difícil em São Paulo. São Paulo, pra trabalhar, era muito difícil, muito difícil, e eu já estava grávida também. Aí, a minha vizinha, primeiro arrumaram um serviço, sabe aqueles que faz costura em casa? E eu não tinha máquina, parece que eu emprestei a máquina da vizinha, foi alguma coisa assim, nem deu certo. Era de uma mulher que dava umas camisas pra fazer em casa, mas eu não tinha máquina. Não estou me lembrando como era, acho que era da vizinha. Essa até passou. Mas aí a Maria falou: “Olha, tem uma placa” – eu via, que eu já morava lá – “na Rua Silva Jardim, no Belém. Vai lá”. Eu passei lá e perguntei. Aí, eu vim sozinha, achei a Rua Silva Jardim, fui. Eu não fiquei no serviço, parece que já tinha preenchido a vaga. Aí, eu fiquei gravida, fui ter nenê, não fui, passou, depois de um ano eu fui morar, saí daquela casa e fui morar lá em Itaquera, na região de Itaquera. Com duas crianças pequenas, fiquei trabalhando assim, fazia serviço avulso. Eu tinha deixado minha máquina de costura no Ceará, meu marido mandou vender lá, mandaram vender, e eu comprei outra aqui. Mas logo eu tive que vender essa casa pra trocar por um terreno, um pedaço de terreno lá, porque a coisa era assim: eu fazia costura nas casas e pagava não sei o quê pra mulher. Eu ficava emprestada. Aí, o primeiro serviço que eu fui trabalhar, meu marido resolveu com esse negócio dele não poder trabalhar, eu fui trabalhar na Celso Garcia, saí pra arrumar serviço. Cheguei lá, fiz um teste, era confecção. Ou não fiz o teste? Só ficou pra eu ir no outro dia. E não tinha quem cuidasse das crianças. Eu deixei uma prima, mulher do primo dele. Falou: “Eu cuido das crianças, você me paga”. E aí ficou. Eu saí cedo, peguei minha marmitinha e fui. Só que chegou lá, eu fui fazer um teste, foi muita gente e eu não fui selecionada. “A senhora vem depois porque hoje entrou muita gente.” Aí, eu voltei. Quando chegou em casa, a mulher disse que não ia cuidar das crianças, que dava muito trabalho, que ela já tinha duas e eram quatro crianças. Aí, desisti. Depois passaram muitos anos, eu fiquei trabalhando em casa, trabalhei muito em casa. Assim, pegava serviço, na cidade, de costura e fazia em casa. Mais adiante, quando as crianças já estavam mais grandinhas, eu não podia deixar as crianças, estudava e trabalhava. E as crianças estavam muito pequenas pra eu deixar só e não compensava deixar. Meu primeiro serviço que eu trabalhei foi... Deixa eu ver qual foi, ali na Celso Garcia, ali perto da Saldanha Marinho, não me lembro o nome da empresa. Eu trabalhei pouco tempo lá. Eu saí e digo: “Hoje eu vou arrumar serviço”. Eu fui, cheguei, passei no teste, era uma fábrica de calça e eu já passei no teste e fiquei trabalhando, trabalhei uns meses lá. Eu nem me lembro, parece que eu nem fui registrada lá. Porque a gente saía na hora do almoço, os coleguinhas, pra ver outro serviço melhor. Aí, eu arrumei ali na Saldanha Marinho, tinha uma confecção e estava precisando. Eu falei: “Eu trabalho ali, mas sei lá, eu queria mudar, eu acho lá tão pequeno.” Chama Raficris, lá eu trabalhei uns tempos, o primeiro serviço firme meu foi esse. Lá eu trabalhei, lá eu arrumei serviço pra várias pessoas, me dei muito bem no serviço. E essa empresa mudou pra Vila Formosa. Quando mudou pra lá, eu não fui mais. Depois parece que mudou pra São Caetano, e eu não soube mais. Foi esse o meu primeiro trabalho. Mas, depois, quando eu saí de lá, eu não parei mais. Eu fiquei numa e noutra, meu sonho, aquilo pra mim, eu queria trabalhar em tecelagem, não sei por quê. Nunca trabalhei. Depois foi passando uns tempos e eu fui trabalhando, arrumei trabalho perto de casa, é mesmo! E eu saí de lá porque tinha uma oficina perto da minha casa e eu trabalhei uns vários anos lá, na Jacivais. E depois eu trabalhei noutras e depois trabalhei num serviço... Sabe loja de fantasia? A maior loja de fantasia de São Paulo, eu trabalhei, na Paraíso Fantasias. Lá eu trabalhava pra TVS, às vezes estavam elas gravando, a gente terminando lá e já gravando lá e mandando recado pro Ronnie Von, esse povo aí! (risos) Meu marido morria de ciúme do Ronnie Von, meu pai do céu! Eu achava ele bonito mesmo e não sei como ele está agora, mas ele era bonito. Mas ele morria, ele achava que ali era o marido meu!
P/1 – Mas vocês faziam as fantasias pro programa do Ronnie Von? Como que era isso?
R – Não, figurino pra eles e trabalho de fantasia. Por exemplo, na época que o Ratinho começou aquele negócio de “café no bule”, não tinha uma história do “café no bule”? Aquele bule, o evento estava começando lá, e a gente estava terminando ali e aquele que fazia o Xaropinho, fazendo aquela voz, e nós tudo junto e vai. E estava na última hora e vira a noite assim. Eu peguei uma fama naquele trabalho, porque logo me deram pra eu tomar conta do serviço. E, quando tinha um evento, na época que começou aquela época da Festa do Cachorro Louco, a festa do Halloween e essas coisas, que era muito, nós trabalhávamos pra Fortaleza, pra Minas, eu fazia coisa de louco gente! Eu toda vida fui assim, ninguém fazia, eu ia! Uma, duas horas da manhã, eu estava na rodoviária esperando pra ir pra Minas Gerais... (risos) Pois era, pra ir pra Minas Gerais, levar, entregar umas coisas. Eles não vinham, depois a gente marcava um encontro pra se encontrar em tal cidade, tal lugar. Aí, eu já avisava: “Eu estou com tal roupa”, e o patrão ficava ligando lá: “Ela está assim e ela está com tal coisa”, e a referência é essa. E nós “se encontrava” lá e era uma coisa tudo rápida, entrega e vai embora. Uma noite eu cheguei quase duas horas da manhã lá na Ladeira Porto Geral, tinha uma unidade lá. Porque eu trabalhei aqui em muitos lugares dela, na Paulista, por ali, mas porque, quando chegou esse povo, era muito tarde, que eu ia pro sul de Minas, mas não tinha condições. Ligaram pra lá do trabalho, pra vir me encontrar lá, porque eu ia só. Senão, não dava tempo pra chegar no evento lá, eu indo de ônibus. E eles podiam vir buscar de carro. Porque era assim, pra ir pra Fortaleza tem que chegar uma coisa correndo, tem que ir pra Minas, tem que ir não sei pra onde. Eu voltei, peguei um táxi, voltei, cheguei lá de madrugada, não tinha mais como ir pra casa. O carro, tinha um carro, foi pro estacionamento lá, ali pela 25 de Março, pra ele poder me levar em casa. Essas coisas já aconteciam comigo! Só que, nesse tempo, já estava a coisa mais liberada pro meu lado assim, de marido, essas coisas. Mas essa daí é uma das coisinhas que aconteceu, porque nesse serviço aí de... Eu chegava meia-noite, a gente trabalhava sempre até cinco pra meia-noite porque podia pegar metrô e chegar em casa, depois de meia-noite não tinha. Quando via que não dava conta: “O que nós vamos fazer?”. Uma estava no computador, outra estava no outro, todo mundo trabalhava junto, ninguém comia, o tempo que a gente comeu mais pizza e cachorro-quente no mundo!
P/1 – (risos)
R – Porque não dava tempo, comia cachorro-quente porque era fácil. Aí lá se vai: “O que a senhora acha? Dá tempo de chegar de madrugada?”. Eu: “Não, dá, vamos virar a noite”. Todo mundo queria me matar, me processar! Mas no fim era legal, realizava, depois da festa falava: “Foi assim, foi assim”. Depois, tinha foto, era muito legal esse tempo aí. Foi uma das passagenzinhas na minha vida. Mas isso, eu tenho mesmo muita coisa lá de trás, daqueles tempos que a gente fazia arte, fazia coisa errada achando que era certo. A gente tinha curiosidade. De noite, os compadres, as comadres, cada um no seu lugar ia contar as histórias que fazia quando era jovem, quando era criança. E eu e meu irmão, eu tinha um irmão que era danado pra isso, queria fazer aquilo, uma coisa pra quando a gente ficar adulto. A gente era pequeno, pra quando ficar adulto, a gente ter uma coisa pra contar. Não era uma loucura? Fazia coisa errada e achava que era bonito aquilo ali! E sempre cada um tem a sua (risos). Essa época de sete, oito, nove anos, que faz as coisas porque vai passando na cabeça, eu sempre tive essa curiosidade de ouvir, coisa que eu sempre, até hoje, eu faço como Sócrates: “Eu sei que nada sei”. Mas assim, de alguém estar conversando e eu pensar: “Por que isso? Qual o sentido disso aí?”, pensar numa coisa. Por isso que eu faço teatro, você pensar numa coisa bem ativa e por quê isso. Aí logo dá uma história.
P/1 – Quando que você começou a fazer teatro?
R – Não faz muito tempo, porque eu sempre quis fazer alguma coisa e eu não sou normal! Fazer uma coisa que os outros não faziam. Mas não faz muito tempo, não. Acho que a primeira vez que eu fiz mesmo faz 11 anos, porque foi quando meu marido estava doente, acho que o primeiro foi aquele. Foi, que depois nós terminamos, depois fizemos apresentação, depois veio um pessoal de Brasília, achou muito bonito, nós fomos naquele negócio Setúbal lá, que tem pro lado da Mooca, praquele lado, e apresentamos. Depois, eu fiquei nessa mania de fazer todo ano. Ano passado, ainda fiz duas vezes, semana passada eu fui pegar o diploma lá, agora eu ainda faço, ainda penso em fazer. Mas o que eu quero mesmo é escrever, eu preciso escrever. Eu sempre pensei nisso na minha vida, em escrever. Porque eu pensei que eu nunca ia deixar de vontade de... Parar assim. Agora eu não quero mais fazer faculdade. Eu sou muito de me dominar, tem gente que não se domina. Eu nunca tive vício na minha vida de nada. Quando eu trabalhava fora, que eu não tinha café da manhã em casa, que tinha dias que eu não tinha, tinha dia que não tinha marmita, não tinha nada. Você chegava lá e se virava, pedia um pouquinho. Mas quando eram nove horas da manhã, se eu não tivesse tomado café da manhã, dava uma dor de cabeça, só faltava estalar. E aquilo não passava. Só no outro dia, só quando tomasse café. E quando foi um dia eu falei: “Mas eu não sou dominada por isso e eu não vou ficar com dor de cabeça”. Hoje em dia, eu não faço nem café em casa, tomo café na casa dos outros. Eu nunca fui dominada assim por nada, tomar decisão, faço isso. E era uma besteira esse negócio. É tanto que nós estamos em 2018, 2018 eu estava fazendo Letras na Uniesp [União das Instituições Educacionais de São Paulo], entre nove mil alunos. Depois eu falei: “Sabe de uma coisa? Não é melhor viajar? Não é melhor fazer teatro que eu estou trabalhando pra mim mesma? Fazer faculdade pra quê? Se eu quiser tomar conhecimento...”. Eu também sei se você, só se você quiser ser médica. Médico hoje não sabe fazer nada! Eu tenho consciência disso. Eles trabalham, o pessoal de hoje em dia, a não ser um pobrezinho aí que fez, mas pessoal mesmo, eles fazem é por status, não é porque ele queira ser. Médico é status, pra muita gente hoje é difícil. Acredito em médico velhinho ou algum honesto que tem na vida por aí. Ou se for mais ou menos nordestino, eu acredito. Mas aí eu parei com esse negócio de estudar e é assim.
P/1 – Eu queria saber por que você quer escrever? Sobre o que você quer escrever?
R – A minha vida, desde aquele dia que eu falei que nasci, essas travessuras de criança, o que aconteceu, tudo. Porque eu não estou, aqui são pinceladinhas que eu estou falando aqui. Você imagina o pessoal com 80 anos que lembra de coisas com três anos e meio, que, com sete anos, já fazia travessura pra quando crescer ter o que contar na vida, que teve aquele primeiro namoradinho como você sabe, que depois eu não quis saber de namoro, que tive aquele namoro que nunca me encontrei com ele pra não ser namoro, ele morreu e ficou, agora só lá do outro lado que vai encontrar (risos). Teve aquele que eu não quis casar, teve aquelas histórias de amiguinhas que foi... Muita coisa! Que eu nem me lembro tanto. Tem também história do meu dia a dia, essa minha vida em São Paulo, eu tenho 54 anos de São Paulo. São muitos anos, não é? São Paulo, eu tenho muitas fases de São Paulo. São Paulo antigamente não era, não tinha isso que tem hoje, São Paulo só tinha rádio. Eu não tinha um rádio em casa. A primeira televisão que eu comprei... Tem muita coisa na vida que passou. Ver televisão na casa do vizinho da outra rua e olhar e ver (risos). É muita coisa que passou nesses anos todos. E eu, apesar dos anos, eu tenho uma boa lembrança. Não lembro de tudo, mas lembro de alguma coisa, e uma coisa puxa a outra. E eu gosto de escrever, eu tenho mania de leitura, tenho mania de escrever. Eu estou, hoje mesmo, só limpei o pé porque estava muito cansada ali, eu vim de sapato fechado, estava calor pra chegar aqui. Mas eu vi um jornal no chão, ali sai uma conversa, ali sai uma coisa. Eu leio uma frase duma coisa, ali sai uma coisa. Eu ainda sou assim, e eu gosto da história, de falar da história. E nordestino é assim, quase todo mundo faz a biografia da família, faz isso. E eu tenho muito o que escrever. Não é por escrever, eu vou fazer um livro. É pra eu saber a minha história, quem quiser ver veja, quem não quiser... Eu passar aquilo ali, isso me faz bem. Esses dias lá no teatro, era pra gente criar uma história de minutos, cinco minutos ou menos, acho que era três. Criar uma história, lembrar de uma coisa e criar. Menino, eu lembrei uma coisa tão legal, meu Deus do céu!
P/2 – O quê?
R – (risos) De uma pessoa, eu criei, duas coisas que eu criei. Eu contei aquela, fez o maior sucesso. Porque teatro é assim: você pensa, vai pra sua mente, depois você leva ela pro corpo, depois você esquece que é você, você é uma personagem. Sua voz, está minha voz aqui, mas você não é você. Depois você para pra buscar você de novo. E é tudo muito rápido, coisa do teatro é muito rápida. Tem uma que eu vou apresentar agora, nós estamos nas férias agora, uma semana de férias, porque, quando chegou na minha vez, não deu tempo, chegou a hora também, acabou, só na outra. Depois eu também cheguei atrasada, quando eu cheguei, eu falei: “O barco está andando”. Ele falou: “É isso, isso e isso”. Eu pensei: “Uma criança que quis...”, mas tudo ao mesmo tempo e em três minutos. Foi criança inteligente, se sentiu inteligente, quis ser alguma coisa na vida e buscou. Depois ficou adulto e foi tudo muito difícil, conseguiu. E agora essa criança já está velha e está... Assim pode ser o futuro, mas no teatro você vê. Aí, eu vi em três minutos, eu vi o atual, a criança, o adulto e chama terceira idade, mas pra mim é velhice mesmo, na cara dura, não tem história de terceira idade, é gente velha mesmo! Os três ao mesmo tempo e isso foi em três minutos. Todo mundo foi falando: “Aí, como você vê agora?” Chegou na minha vez, ele falou: “Próximo". Na hora do intervalo, parou por causa daquela greve e enrolou tudo, e agora só quando nós voltarmos agora, semana que vem, talvez a gente já volta. E aí, legal. Depois foi que eu encontrei esse personagem, na hora eu falei um menino, foi o que veio na minha mente. E agora eu já comecei até a escrever, eu tenho esse personagem, infância, adulto, fim da vida, ainda está vivo, está com 90 anos e já está incluso e eu posso escrever isso aí.
P/2 – Ele tem nome?
R – Tem, tem nome, existe ainda. Porque você pode pensar num personagem que já foi. É esse que eu ia falar antes, esse nós já apresentamos lá, esse deu tempo. Porque é tudo coisa de minutos. Esse não existe. Depois o diretor falou: “Existe esse personagem?” Eu falei: “Não, esse não existe mais”. Porque também a gente pode, no dia de a gente fazer a peça, você pode trazer alguém e ser surpreendido, falou uma coisa mais ou menos assim. Mas esse do menino eu não pensei nadinha, depois criei esse personagem na minha mente. E hoje é quarta-feira, hoje é dia 18?
P/1 – Hoje é 19, quinta, 19.
R – Meu Deus do céu, não fui pro teatro ontem! Eu ontem tinha teatro! E era aula.
P/2 – Você ia contar sua história.
R – E era aula. Não, era outra coisa, era outra aula! É assim, cada coisa é uma coisa.
P/1 – E essa foi a coisa que você mais gostou de escrever já, Cleta? O que você mais gostou de escrever, por enquanto? Até hoje, das coisas que você já escreveu, o que você olhou e ficou satisfeita?
R – Eu tenho muito papelzinho escrito, muito papelzinho assim que eu estou no ônibus, estou no metrô, eu escrevo e vou jogando lá, vou pondo na sacola pra depois um dia pesquisar. Por isso que eu também não tenho muita pressa, não. Olhe, tem uma coisa que é triste pra mim, mas eu fiquei satisfeita que eu escrevi, eu me lembrei. Eu estava... Há tempos que a gente está fazendo uma, esse ano nós estamos trabalhando, cada ano é uma coisa. O ano anterior foi “criança”, o ano passado foi “pessoas de rua”, que eu fui muito bem sendo bandida! (risos) De repente assim, não teve quem quisesse. E eu entrei como bandida, assaltante de celular e tudo assim! (risos) Só eu mesmo, só eu fazer o grupo, eu ser a pessoa e fazer o grupo. E eu saí muito bem de bandida. Agora este ano nós estamos trabalhando com terceira idade, nós apresentamos lá no Bosque Maia, que chamou atenção de todo mundo, pensou que era verdade o que nós estávamos fazendo. Porque a gente vai apresentar num canto e o pessoal, o público pensa que ali... Aí, foi obrigado a falar: “Não, isso aí é teatro”. Porque já iam ligar pro prefeito! (risos) Era dentro do show que nós estávamos fazendo lá. Mas eu estava um dia no ônibus ou metrô, não sei onde, e eu fui escrever, eu quis escrever. Eu pensei, tinha passado lá umas cenas, coisinhas cênicas, muito simples, e eu pensei, eu me lembrei de um fato da vida real, com a minha mãe. Que, como eu escrevi muito, tenho ele escrito lá. Porque você escreve e depois fala, isso não podia, isso podia. Mas essa eu me senti bem e desabafei em escrever aquilo ali.
P/1 – Mas que história que é? Você não pode contar pra gente?
R – É uma história assim: a pessoa de hoje, a pessoa de idade, as pessoas não respeitam o idoso. Dizem que respeitam, inventam muita coisa, mas ainda tem muito preconceito, ainda tem muita coisa. O idoso sofre muito hoje em dia, a própria família. O cuidador, hoje em dia está cheio de cuidador, não pra cuidar do idoso, pra ganhar o dinheirinho deles. E isso aconteceu com minha... Comigo mesmo, com a minha família. Quando a minha mãe, ela morava só numa casinha. Foi morrendo todo mundo e meu irmão... Ela morava só. E era lá nos fundos, bem difícil, e era do lado da minha irmã. Mas ela não estava se dando bem lá, foram fazer um banheiro e estava um lugar mau pra ela, e ela começou a reclamar. E, na minha casa, eu tinha dois cômodos lá que eu não estava usando, só que era bem alto, era sobre a minha casa. E eu pedi, meu marido era muito ruinzinho, muito encrenqueiro, mas eu pedi pra ele, pra ela morar lá. E, quando eu falei pra ela, ela ficou muito feliz, porque ela não estava suportando onde ela estava. Minha irmã não gostou, meu cunhado não gostou. Não acolhiam, também a casa deles não era deles, eles também pagavam aluguel e era um quintal, tinha mais casa. Aí, ela resolveu ir morar e nós reformamos a casa. Meus irmãos, principalmente esse meu irmão com essa gente, arrumou foi o cômodo, cozinha, coisa bonitinha, ela se sentiu assim no paraíso quando ela mudou pra lá. Levou as coisinhas dela muito bem arrumadinha, pequenininha, banheirinho interno e tudo. Só que o meu marido começa a encrencar com ela, mas ela não importava. E ela fazia tudo por mim, e eu chegava da faculdade e ela ia levar, de noite, descia aquela escada e ia me levar aquela sopinha, ela se preocupava muito comigo. Inclusive, ela brincava comigo que eu falava: “Vó, a senhora está boa de arrumar namorado!”. Ela estava com 83 anos, naquele tempo. “Tá bom, é pena que, quando você tiver 83 anos, eu não estou viva pra falar pra você como é essa vida.” Agora eu sei como é a vida de mais de 80 anos. Eu brincava muito, eu falava muita besteira, agora eu sei. Mas o fato não é isso, o fato é que ela estava indo muito bem, ela morou quatro anos lá. Aquilo pra ela era o paraíso, as encrencas do meu marido ela já não importava muito. Eles brigavam, depois ela perdoava tudo. Ela se dava muito bem comigo, ela me admirava muito, o meu esforço, a minha vida como foi, eu sempre fiz tudo pros meus filhos estudar. Não é à toa que eu, em toda a pobreza, formei meus três filhos. E meu marido é que não quis e queria matar todo mundo e eu ainda consegui. E ela estava naquela casinha lá. Só que tinha a casa dela e tinha um quarto depois, que foi quando a minha filha ganhou uma menina lá, e meu marido fez mais essa escada, tinha um cômodo assim na frente, junto com o dela, mas o dela era individualzinho. E junto com o dela tinha outro. E ficou aquele quarto lá fechado, que minha filha depois deixou de morar lá e sei lá o que fez, nem me lembro, tanta coisa! E o meu filho noivou. Ainda bem jovem, agora não, ele está com 50 anos, a mulher faleceu, mas ele era jovem. E meu marido tinha começado a fazer uma lavanderia pra mim, porque lá em cima, bem ampla, bem... Do lado da minha mãe, até pra facilitar das duas sentarem juntas. Tinha que subir uma escadona, mas era lá. Meu filho noivou evangélica, e os crentes querem que case na outra semana! E a sogra quis que casasse: “Tem que casar!” Meu marido: “Tá muito pouco tempo pra casar”. “Não, mas tem que casar.” E eram duas filhas, e a outra mais nova ainda, as meninas bem novinhas, todos os namorados da igreja, meu filho era evangélico, e tinham que casar com aqueles meninos da igreja. E pra casar as duas, tudo na mesma semana. A velha queria se ver livre, e meu marido não concordou. “Aonde vão morar?” “Ah, não sei o quê.” “Eles não podem nem pagar aluguel, deixa eles arrumarem a casa.” Aí, inventou, eles tiveram a ideia, por já ter esse quarto, aqui onde é o quartinho da lavanderia, põe azulejo, põe não sei o quê e faz um banheiro, e ele mora aqui até ele poder pagar uma casa. Só que era do lado da minha mãe, pegado com o da minha mãe, e o da minha mãe tinha uma areazinha onde ela vivia num paraíso. Eu cheguei do serviço, contaram essa história. Eu falei: “E a vó?” “A vó, não, mas não sei o quê.” Resolveram fazer a construção lá, o banheiro, a cozinha. E os pedreiros muito cheio de conversa: “Como é que você vai casar e casado de novo e vai vir visita e essa ‘veia’ morando aí e gente velha vai encher o saco”. Fumava cachimbo: “Só a fumaça desse cachimbo e esse fedor!” Puseram na cabeça do meu filho e de meu marido, que já estava querendo que ela saísse mesmo. Quando cheguei uma noite falaram... Começaram a construção, e ela já ficou se incomodando por causa do barulho. Pedreiro bate, a pessoa com mais de 80 anos, 83 anos já, já tá incomodando, essa poeira faz mal! Puseram na cabeça que iam tirar ela daí, ela não ia ficar, era pra ir pra casa da minha irmã, que, se ela ia ficar doente, a gente, eles iam ser culpados com aquela construção, batendo, fazendo barulho na casa dela. Quando eu cheguei de noite, ela estava muito triste, muito triste mesmo! Eu também, doeu no meu coração. Eu discordei: “Ah, mas vai pra casa da sua irmã que também é irmã e não sei o quê”. Liguei pra minha irmã e tudo: “A vó vai passar uma semana ou duas aí, porque estão fazendo a construção aqui e é muita poeira, muito cimento, muito bate-bate, e estão dizendo que estão incomodando ela e ela fica perguntando as coisas, e vai atrapalhar”. Levaram a vó pra lá. E eu, muito triste, eu falei: “Vó, não esquenta, não, eu vou lá, eu vou lhe ver. Fim de semana eu vou lhe ver, vou ir lá e você depois volta”. “Muié, e minhas coisas como vão ficar, quem vai cuidar?” “Eu olho suas coisas todo dia, eu limpo.” “E vai cobrir de poeira!” Eu digo: “Eu venho limpar tudo”. Aí, levaram ela pra lá. Quando foi... Ela saiu, não deu outra! Juntou meu marido, os pedreiros e meu filho: “Você está doido, eles vão casar, aqui nessa área, na porta dela vai ter visita, aí vai receber visita, casado de novo assim”. Tiraram, puseram: “Ela não vai mais morar aqui, não.” Aí foi o que meu marido quis: “Não é pra ela vir mais morar aqui, que ela vai incomodar e vai chegar visita e ela está fumando”. Tiraram da cabeça. Quando eu cheguei de noite, eu falei: “Ah, não!” Como ela não mandava na casa, meu marido falou: “Quem manda aqui sou eu, a casa é minha!” E pra vó saber disso? Eu não tive coragem de dizer. Eu digo: “Eu não tenho coragem”. Eu: “Não é bom, vamos conversar, vamos deixar passar uns tempos, depois se incomodar”. Fui trabalhar, eu trabalhava. Quando passou um dia ou dois, eu cheguei, pegou o carro, meu marido: “Vamos lá”. Chegou e falou: “Olha, a senhora não vai poder mais morar lá. Vai acontecer isso, a senhora vai ficar doente lá e não sei o quê e vai se incomodar, lá vai subir muita gente, a senhora pode cair aí, vai dar problema”. Ela sentiu muito, ela chorou muito! Ela falou: “Acabaram com meu sossego, tiraram a minha casa”. Isso me dói até hoje. E dói, e eu não me perdoo. Eu não fui autoritária. Sei lá, eu não me impus. Eu podia ter falado: “Pois tira ela, tira eu, ou ela fica embaixo comigo, não sei o quê”. Também, se eu dissesse que ela fosse morar lá embaixo comigo, ele não ia aceitar, que eu conhecia muito bem a pessoa! E ficou por lá. Mas a vó impressionou. Aí, ela lá descia uma escada bem grande, subia e descia, morou quatro anos e nunca aconteceu nada, entrou nos cinco anos. Quando chegou lá, ela estava sentada lá na casa da minha irmã, tinha uma descidinha assim, um degrauzinho. Aí, ela amanheceu chorando. Quando eles saíram, ela chorou a noite todinha, não dormiu. Quando foi de manhã, ela saiu pra estender uma roupa no varal, escorregou ali e caiu, quebrou o braço. E gritou, gritou e chorou: “Ai, ai, ai”. Mas aí ela já ficou. Ela tinha aquele negócio, o vírus da carne de porco que a gente não sabia, ela se tratava de labirintite. Por isso que eu falo que esses médicos, muitos anos ela tratando de labirintite e tinha aquele vírus. Aí, virou, correram, minha irmã liga pro meu irmão, pegou, pôs no carro. Pois chega lá, fizeram uma coisa mal feita e aquela mão, aquele braço inchou, inchou, inchou e ficou doente, levaram no Santa Marcelina. Chegou lá, quebrou. Fizeram aquelas coisas expostas, aqueles ferros. Ela já estava impressionada, ele encucou, só falava que tinham tomado a casa dela, ela tinha caído e ela não tinha mais onde morar e onde estavam as coisas dela e tinham quebrado o braço dela e tinham remendado com prego. Ela ficou meia boba. Quando eu fui visitar os primeiros dias, aquilo me doía, doía mesmo, doía e dói até hoje eu ver ela naquela situação. Minha cunhada falou: “E ela não está boa. Ela está falando coisa que não, coisa por coisa”. Ela nunca mais melhorou e passou quatro anos lá com a minha irmã. Morando lá uns tempos. Falaram assim: “Não, pois faz assim”. Meu cunhado também, era uma casa pequena, já tinha três filhos. “Ah, mas levou pra lá, agora...” Não tinha outro lugar, ela pediu: “Rogério, deixa eu morar mais você?” Ela tinha um salarinho de aposentada: “Eu ajudo a pagar”. Ele falou: “Pois tá bom, tá bom, vó”. Mas não era de muita aceitação, porque minha irmã trabalhava, costurava em casa, ia atrapalhar. Juntaram todos os irmãos, fizeram uma reunião: “Vamos fazer assim, passar uma semana na casa de cada filho”. Na época tínhamos cinco filhos ainda. E aí passa o tempo, ela nem vai sentir. Só que ela não andou mais, ela ficou ruim da mente e meu irmão correu atrás, correu atrás, depois fez a ressonância e descobriu que, como ela tinha o vírus da carne de porco desde o interior lá, e ele mostrou, na radiografia você vê o cérebro dela estava parecendo queijo, uns furinhos assim, bem aqueles coisinhos brancos. Teve remédio e matou, só que ela não ficou sabendo mais de nada. E ela sofreu quatro anos. Aí, levava. Eu falei: “Não, vó, não esquenta, a semana que a senhora passar na minha casa, eu não vou...” Ela: “Se for pra lá, vão se incomodar, com quem eu vou ficar em casa?” Que, quando ela estava comigo, eu arrumei uma pessoa, sempre arrumava, veio uma moça até da Bahia uma vez pra ficar cuidando dela, ela na casinha dela, mas dando atenção a ela enquanto eu estava trabalhando. Falei: “Mas vai funcionar assim, a semana que a senhora ficar comigo, eu faço uma troca, eu tiro uma licença e fico com a senhora. É uma vez por mês mesmo”. E ficou tudo combinado. Aí, ficou uma semana na minha casa, outra na casa da minha irmã, da outra irmã, na casa da nora. Só que ela não pode mais andar, caiu e já pela idade, já ia fazer 85... Muitos anos lá! E ela já não estava andando. Ela tinha ficado na cadeira, na cadeira de banho, na cadeira de banheiro e ela dava muito trabalho. E na minha casa não, eu recebia de boa, ela morou lá, fez muita amizade, todo mundo ia visitar. Mas ela ainda chorava, pra mudar de casa, quando chegava no fim de semana, as vizinhas falavam: “Ela chorou a semana toda porque passou a semana dizendo que tinham tomado a casa dela e ela não tinha lugar pra morar”. E aquilo doía meu coração. E depois ela ficou nessa rotina uns meses na casa de um e de outro. Na minha casa, tudo bem, na casa da minha irmã, tudo bem, na casa do meu irmão, muito bem. Quando foi pra casa da outra irmã, não aceitaram porque gente cheia de frescura, porque a nora não quer ver e dá muito trabalho e tem que trocar fralda e ela chora muito e ela fala muito e ela fica chamando coisa que não é coisa por coisa e falava de noite. Aí, não aceitaram, só foi uma vez. Foi pra casa do outro irmão, a nora, Deus o livre! “Eu não aguento, eu já tenho minha casa, Deus me livre.” Foi pra casa do meu irmão mais velho, avisou, ela avisou mesmo: “Se você quer ficar com ela aqui, eu saio de casa porque dá muito trabalho, incomoda até os vizinhos”. Aí, o quê que vai fazer? Vamos arrumar uma pessoa pra cuidar dela e a gente paga um salário por mês. Fez o papelzinho lá, todo mundo pagar o salário, na casa da minha irmã, porque também minha irmã trabalhava, costurava em casa, era costureira, fazia muita roupa, vivia trabalhando. E ela não ia ter tempo de cuidar, porque ela já estava, tinha que ter muito cuidado. E ela ficou lá. Nisso foram quatro anos, só que eu me comprometi, todo sábado, eu trabalhava às vezes sábado, mas todo sábado eu ia lá, chegava cinco horas ou antes, ficava com ela. Dava banho, cuidava dela e ficava até certa hora, até o que eu pudesse com ela lá. E toda quarta-feira eu tinha aquele compromisso no trabalho de sair mais cedo pra ir dar banho nela e cuidar dela. Isso eu acompanhei os quatro anos. O último banho quem deu nela fui eu, num sábado às cinco horas quando eu cheguei, ela estava já que não sabia quase nada, aquilo geladinha, dei aquele banho, ficou cheirosinha, pôs na cadeira, falei: “Que bonita, né, vó?” Ela olhou pra mim, nem falou sim, ficou olhando pra mim. Quando foi no outro dia, ela morreu. Eu dei o último banho nela. Mas isso me dói até hoje! Aquele, sei lá, um sentimento de culpa. Hoje eu não faria isso, não. Eu tinha que ter sido mais autoritária: “Tá bom, pois eu arrumo a casa aqui, eu cuido dela, ela fica do meu lado. Não quer ficar na casa dele, eu alugo uma do lado, eu pago uma pessoa”. Porque eu já vinha pagando, eu mandei buscar uma mulher na Bahia pra... Uma pessoa lá falou, e veio essa mulher passar uns tempos com ela, amou essa mulher! E ela, os vizinhos gostavam muito dela. Hoje, se fosse hoje, eu faria o seguinte: não pode morar lá? Eu arrumo do lado aqui e eu durmo com ela lá, eu não estou nem aí, eu fico com ela, eu acompanho. Mas não foi. E ela sofreu muito com a falta da casa dela. Hoje é que eu sei, hoje que eu moro só, já passei as minhas coisinhas na vida também, eu morei com a minha filha no apartamento, Deus me livre! Falo na cara dura dela: “Pode ter brilho aqui, eu quero morar só”. Eu moro numa quitinete sozinha, amo morar só. Mas é bom? E a dor que eu sinto de minha mãe? Outra coisa, ela sempre pedia pra pôr ela no asilo, até hoje a minha irmã fala: “Deus o livre!” Eu nunca levei ela pelo menos pra visitar um asilo. Hoje que eu visito asilo, eu estou morando sozinha, mas eu avisei pros meus filhos: “Quando eu não puder mais fazer minhas coisinhas sozinha, ir no banco, fazer tudo, eu faço meu cadastro lá”. É, mas a senhora não se manda.” Eu digo: “Quando você quiser ir visitar lá, pode ir”. Porque eu acho uma ignorância você querer pensar que está ajudando e não ajuda. Pagar fulano, pagar... Essa história de pagar cuidador, isso aí é uma ignorância! Tem uns lugares, quem pode, tem casa de repouso, tem asilo bom, que eu visito vários. E essa é uma história que eu tenho ela escrito. Tudo bem que alguma coisa, se eu for contar tudo que aconteceu, no dia que foi, porque o dia que o meu marido foi lá, que eu cheguei à noite mais meu filho, que eu cheguei de noite que eles falaram aquilo, me cortou o coração. E no outro dia foi que ela caiu. Ela chorou a noite todinha, no outro dia, isso foi à tarde. E hoje, vou culpar meu filho? Vou culpar meu marido? Não, é coisa da pessoa, cada um tem seu... Faz as coisas do jeito que quer, ninguém pode mandar. Eu sei o que eu penso, o que eu sou. Mas do meu pai, da minha mãe, do meu filho, eu não sei quem são eles, não. E por isso que a culpa é minha, porque eu sei onde eu errei, sei! Eles, se eles queriam fazer assim, pra eles é satisfação pessoal deles, foi isso que eles fizeram. É uma das coisas, entre muitas que tem assim.
P/1 – E como você se sentiu depois de ter escrito sobre isso, depois de tanto tempo?
R – Sofri mais do que naquela época. Porque eu pensava, eu não esquecia. Eu escrevi esse ano, porque esse ano que nós estamos trabalhando com idosos. E eu sofri e ainda sofro mais do que naquela época. Isso é doído e sei que a culpa foi minha. Culpa por, como eu disse, por má fé? Não. Por falta de experiência. Eu falo que eu estou errando todos os dias, todos os dias a gente erra. Erra inconsciente, erra porque eu tinha que fazer isso como eu fiz, a gente é pra isso no mundo. Hoje eu faria? Não. Por isso que eu hoje faço tudo porque eu posso, eu faço coisas na vida... Teve uma época aí que eu trabalhei, eu sou assistente social sem a faculdade, porque onde eu trabalho, eles não precisam, você não precisava fazer um curso superior disso. Vocês que são daqui da cidade alta, não sei, mas em periferia tem a famosa biqueira. Eu trabalhei em biqueira, eu resolvi casos assim que... Meio estranho, que não dá pra contar, se eu for contar vai ter dois ou três dias pra ficar aqui!
P/1 – (risos)
R – (risos) Mas eu, se você entrar na biqueira com uns dois meninos e pegar o revólver assim e pôr um do lado e outro do outro, subir e entrar naquele bequinho assim, pra assistir gente lá dentro, os companheiros de trabalho não têm coragem de ir lá, eu já fiz isso. Quando eu chegar lá no primeiro bequinho, eles avisam: “Pode vir, é a pastoral, é a igreja, pode vir, pode entrar”. E ainda pedir: “Reza por mim?” Aí, eu desço e falo: “Eles estão errados? Mas lá em Brasília tem gente mais errada do que eles!” – isso vem na minha mente. As coisas pra mim acontecem uma atrás da outra, porque eu fiz coisa naquele lugar que... Teve um caso de um senhorzinho, que ele era alcoólatra e ele não tinha documento, perdeu tudo na vida, essa história eu nem escrevi ainda, mas estou falando aqui e vou escrever isso, que eu tenho 18 anos que trabalho nessa... Até ano passado, eu trabalhava na periferia, mudei no centro de Guarulhos, lá eu sou “consórcia” de uma conferência, a conferencia lá é fundada por gente que fundou Guarulhos, aquele povo rico, eu não me dou bem trabalhando lá porque o que eu faço é caridade, mas aquela caridade de sentimento e lá eles pensam no dinheiro. Eles ajudam sim, mas é 30 milhões não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Doutor Fulano, Doutor Fulano, e eu trabalhei mesmo foi na periferia e gosto! É uma das coisas que não está escrito, mas é uma das coisas de satisfação pessoal minha essa. Você perguntou e eu nem lembrava dessa. Eu lembrei desse da minha mãe que me dói. Me dói e eu sei entender que errei, mas que não tenho culpa de ter errado. Ela sofreu porque ela tinha que ter sofrido por isso. Eu estou sofrendo... Não estou sofrendo, é uma experiência minha! Isso aconteceu porque é uma grande experiência pra mim, foi uma experiência isso passar por mim e eu não ter agido, talvez, de outro jeito. Podia ser que não tivesse dado certo, a gente vê muitos casos aí, inventou isso por isso aconteceu isso, também podia isso. De repente, eu tivesse reagido de outra maneira, meu marido muito ignorante, podia ter acontecido alguma coisa até pior. O meu filho naquela empolgação porque ia casar, a sogra que também torcia pra ela sair de lá, ah, ia mexer com muita coisa e eu engoli aquilo ali, aceitei. E me dói. E eu estou cheia de papelzinho na vida! E eu quero uma história da minha vida, eu acho bonito, eu acho bom contar história e lá na minha família, nos parentes, tem essas histórias, as pessoas contam! Naquele livro, foi pra você que eu falei do livro que já está na segunda ou terceira edição? Eu vou trazer esse livro aqui. Da família do meu marido, meus filhos, o meu nome já está nessa não sei qual geração...
P/1 – Você começou a falar, Cleta, da história de um senhorzinho que era alcoólatra, mas aí interrompeu...
R – Porque eu não sei se eu devia falar, mas...
P/1 – Se você não quiser, tudo bem!
R – Não, é uma coisa simples. Quando eu entrei nessa conferência, eu queria trabalho voluntário e eu não tinha oportunidade. Estudava, fazia faculdade, trabalhava. Aí, quando eu trabalhava, eu saía em horário que eu tinha folga procurando trabalho voluntário, encontrei muitos obstáculos. Ah, tem que fazer curso disso. Ainda fiz um cursinho e não terminei e é muito difícil e não sei o quê e tem que não trabalhar. E eu, como sou católica, naquele tempo não ia muito na igreja porque não tinha tempo, trabalhava muito, tem esse defeito também na vida da gente! E eu já com muitos obstáculos, que sou a dona dos obstáculos, eu não tenho problema, quem tem problema é apostila de matemática. Eu tenho obstáculos. Eu não acho que sofri, acho que tudo foi experiência, eu só ganhei nas coisas. Eu estava na missa, não sei se vocês vão em missa, mas depois tem aquele negócio, os avisos. Aí falou: “Quem quiser ficar vai ter uma reunião e tal, tal, tal”, e saíram entregando uns panfletinhos, eu olhei e fiquei. Eu já queria, aí ainda trabalhava. Eu subi, e falaram como era o trabalho voluntário, aquilo me encheu e eu não era aposentada ainda. Mas já comecei a trabalhar e aí fui numa conferência e, dessa fui na de Paris dos 188 anos, quase 200 anos, uma história muito bonita também. Foram dois jovens que estavam na faculdade em Paris, imagina quantos anos atrás, e viu um velhinho também, no sacrifício, e tomaram essa atitude. E eu tenho lá na minha regra, eu tenho a foto deles lá, depois se juntaram com outros, naquele tempo só milionário, milhões dos barões que tinha naquele tempo e foi criado essa conferência e onde tiver gente, no planeta, existe ela. Ela existe a nível mundial e tem a nível metropolitano, tem a nível central e tem a nível particular e agora estou numa conferência, mas não consigo central. Mas a nossa é conferência de periferia mesmo, que eu gosto muito de coisa humilde. E eu me dei bem, naquele dia quando eu entrei, todo mundo diferente, por mera coincidência eu encontrei um professor que dava aula na mesma escola que eu dava e já era dessa conferência há muitos anos. E, quando ele me viu: “Ah, você aqui! Ah, isso é muito bom, eu trabalho nisso aqui”. Eu fiquei trabalhando, e a gente tem os assistidos, pessoas muito carentes, mas a nossa meta é atender os mais necessitados. Eu tenho vários diplominhas lá, eu tenho uma pasta só com diploma, porque a gente tem que se preparar, tem uma formação, fazer um curso, uma escola que chama Ecafo – é escola de caridade, Frederico Ozanam foi quem fundou, essa é a sigla, Ecafo. E eu tenho vários deles em casa. E eu fui fazer Ecafo e eu fui e comecei e, nos primeiros assistidos, logo depois de um ano, tinha um assistido alcoólatra, um senhorzinho que era muito sofrido. Quando ele ia nas “terças assistidas”, ele só ia bêbado, fedido e todo mundo reclamava de mim porque eu dava muita confiança, eu dava muita atenção pra ele. Falava: “Pelo menos ele vem e aqueles outros que são tudo bem bonitinho, arrumadinho e nem vem participar?” E ele era assíduo lá, só que não tinha documento nenhum. Ele tinha, não sei se casou, mas ele vivia com mulher que não era com quem ele tinha casado e ele... Pessoas que vêm do Nordeste sozinhas e perdem sua identidade, ele fica uma pessoa sem se identificar. E ali ele viveu, pessoa analfabeta, pessoa que nunca trabalhou num serviço, ficou assim, sabe? Aquele da rua, delinquente, morreu lá na favelinha dele? A vida dele foi assim. Mas era uma pessoa feliz e bebia, era alcoólatra. Catava coisa na rua, vendia e bebia. De noite estava lá, fedido que era uma beleza, nem tomava banho e nem nada, mas eu sempre abracei ele assim. Aí, eu, entrevistando ele, conversando, ele não tinha documento e ele era doente. E quando fica doente? Quando fica doente, leva ele no médico e levam um registro de outra pessoa. Documento de outra pessoa pra poder fazer a ficha pra ele, porque ele mal sabe do nome dele, ele falava do nome, mas não tinha registro, nunca tinha sido registrado, não sei lá como aconteceu, diz ele que tinha sido registrado. A única coisa que ele sabia era que nasceu perto da lavoura – ele não tinha nem sentido, não era bom da cabeça –, onde morreu Castelo Branco! Contava uma história assim. Aí, eu quis assumir, eu falei que um dia ele ia ter um registro e ele não acreditava. E eu passei três anos nessa luta, eu procurei muito, procurei, a última solução que me deram foi aquele lugar que tem perto da Praça do Correio em São Paulo, onde tem um prédio lá que identifica, que não tem outro recurso, pode registrar a pessoa. Ele falando o nome dele, ele falava o nome da mãe dele, que eu não sei se era aquele, falava o nome dele e falava umas coisas que não tinham muito sentido, era assim. Aí eu procurei, procurei, fui em muitos lugares, puxei todos os cartórios! Da Paraíba parece que ele era, daquela região que ele falava, eu procurava e não era nada daquilo, mas eu não desisti. Quando foi um dia, tinha um moço lá conhecido meu, era até estudante, fazia Direito. Aí, eu, conversando com ele, eu estava chegando de lá do lugar onde tinha ido, eu fui lá, marquei uma data pra voltar lá pra eles fazerem uma pesquisa, se não tivesse outro recurso, a gente ia dar um jeito de registrar ele como um filho nosso, um cachorrinho... Ele não tinha parente, não tinha nada. Mas ele era tão feliz, porque eu abraçava ele, porque eu nunca liguei. Antes, no mundo, nunca ninguém tinha posto a mão no ombro dele! Ele me abraçava, catava coisa da rua: “Olha, eu achei isso aqui, eu trouxe pra você!”, aquilo eu recebia com tanto gosto, abraçava ele e ali levamos muitos anos, uns quatro anos ou mais. Quando foi esse dia, o Anderson falou: “Ah, tá passeando?” “Não, estou chegando...” E contei. Ele falou: “Vou te ajudar”. O Anderson começou a ajudar e quando foi um dia o Anderson falou: “Tem sentido”. Não sei como ele foi lá pra Paraíba, descobriu parente dele e veio o registro de nascimento dele, ele tinha sido registrado. Ele morava não sei onde, os pais dele, e ele foi registrado lá. Descobriu irmã dele, o nome da mãe dele, acho que era Conceição, uma coisa assim, era esse mesmo e eu nem acreditei. Eu nem estava em casa, eu acho que estava na praia, não sei onde, ou era no sítio... Era no sítio! Porque era uma luta, todo mundo dizia pra desistir, meu filho dizia: “Desiste, mãe, a senhora está perdendo tempo. Isso é bobeira”. Lá na reunião, a gente tem uma reunião por semana, que era bobeira, que aquilo tinha mais que morrer, que eu dava muita confiança pra ele. Quando foi um dia, eu estava no sítio, o Airton falou: “Mãe, chegou aqui uma pasta marrom com um papel dentro e eu acho que é aquele caso da senhora” – aí, me arrepia. Quando eu abri, aí justo era fim de ano e quando é fim de ano a gente reúne eles e recomenda pelo ano, são todos vulneráveis, a gente ajuda os vulneráveis! E ele era classificado vulnerável mesmo. Mas ele gostava muito de mim, ele me agradecia muito porque às vezes ele ficava lá, fedido, sentado lá atrás, tinha vergonha de ir na frente e eu pegava: “Vem aqui, senta do meu lado”. Quando foi um ano, a gente dava sacolinha pra um, presentinho, coisa de Natal mesmo. Eu fui lá frente: “Eu vou ter pouco pra falar, mas eu tenho uma coisa importante. Vocês conhecem aquele caso do Seu Severino? E chegou o momento, Seu Severino! Seu Severino, o senhor conhece quando o senhor era jovem lá na Paraíba” – eu não lembro do lugar agora, eu tenho os papéis em casa – “que o senhor falou que tinha esse lugar que era assim e assim?”. “Sim, tem esse lugar.” “Tinha uma pessoa que tinha esse nome?” “Tem.” “O senhor se lembra que o senhor nasceu nesse lugar que sua mãe falava?” “Sei”, ele foi respondendo, falando tudo direitinho. Eu falei: “O senhor ainda tem esperança de um dia ser registrado?” Ele resmungou por lá: “A senhora me ajuda muito.” Eu peguei a pasta e chorei e todo mundo chorou. Quando ele me abraçou, essa foi uma coisa boa da minha vida que eu fiz. Não sei se foi bom, pra mim foi. Ele chorou muito, chorava como uma criança. Ele pegou e disse: “Agora eu vou ter documento, eu vou ter uma carteira de trabalho, eu vou trabalhar”. A gente só dava risada porque era uma época que não tinha emprego, e eu dizia: “Meu Deus, jovem de ‘zóio’ azul, 18 anos, não arruma emprego, Seu Severino desse jeito...” (risos) Mas eu falei: “Agora está na mão do senhor”. Não era muito longe, esse povo de rua está acostumado a andar “de pés”: “O senhor vai lá no metrô Itaquera, chega lá e pergunta onde é o Poupatempo, pede pra todo mundo, leva esse papel e fala que quer tirar uma carteira de trabalho e fala que quer tirar sua identidade, que eles vão te ensinar e eles não vão cobrar do senhor, não. E, se cobrar, me procura, que eu arco com o senhor”. Até depois ele trouxe umas notinhas lá que ele tinha que pagar. E aí ele fez. Quando foi à noite, que ele chegou lá, a alegria com aquela carteira de trabalho na mão: “Olha, agora eu posso trabalhar! Agora vou tirar minha identidade!” Tirou os documentos. Só que, logo em seguida, um dia eu fui fazer outra visita lá na favela, pertinho, chegou: “Sabe quem morreu anteontem? O Seu Severino. Não teve velório, não teve nada, lá do hospital levaram e enterraram ele”. Mas foi uma coisa que foi gratificante pra mim. Tem as histórias dos aidéticos, mas chega, né? História do aidético também foi uma história bonita. E hoje eles estão firmes na vida, o aidético está trabalhando e eu assumi essa família, essa eu assumi legal, eu assumi de pegar quatro crianças e a mãe internada pra morrer no hospital e o pai do outro hospital sumiu e nós localizamos depois da Via Anchieta, Imigrante, praquele lado, no meio da mata, numa casa de apoio. Sozinho, não, porque a gente não faz nada só, mais outro companheiro, fomos visitar, levamos as crianças lá e depois a mulher teve alta e tomaram a casa dela. Eles não tinham mais casa, era um barraco, um barraco bem dentro da biqueira. E acabou tudo, e as crianças não podiam assumir, eram quatro crianças pequenas. E, quando ela teve alta, não tinha aonde ir, uma outra pessoa da favela acolheu eles. Eu tinha contato com o lugar onde ele estava, uma casa de apoio, depois daquele pedágio da Imigrante, entrando bem na mata, uma fazenda lá que deram pra uma casa de apoio. E ele ficou lá e nós localizamos ele. Ainda levamos as duas crianças mais pequeninhas pra ele ver, e fiquei em contato com os enfermeiros de lá. Quando foi uma noite, eles começaram a me ligar que ele estava de alta e chorava e perguntava de mim, que só eu que podia tirar ele de lá. Porque ninguém ia, não tinha mesmo quem fosse, a mulher já tinha voltado do hospital e já estava no barraco que nós reformamos, eu trabalhava junto com o Cras [Centro de Referência de Assistência Social] lá, com assistência social e minhas colegas também. Arrumamos o barraco que estava caindo pra mulher ir pra lá, e ela já estava com os filhos em casa. Eu ia fazer visita e era aquele chororô dela, porque sabia que não ia mais ver ele, fazia mais de um ano que não via o marido, porque os dois eram aidéticos, eram não, são. Portador de Aids, e ela já tinha até arrumado um trabalho, mas teve crise e não souberam tratar em casa e eu não estava acompanhando. Depois atrapalhou tudo, e você ia lá e pensava que ela estava morta quando ia visitar ela. E ela chegou a voltar pra casa. Quando foi uma noite, ele ligou pra mim e eu falei: “Mas o que eu faço?” Aí, liguei pra esse meu colega e ele falou que não podia. Liguei pra meu filho e ele falou: “Mãe, só se for segunda-feira”. Eu falei: “Uma pessoa que tenha carro, que vá na Imigrantes, eu pago tudo”. É na Imigrantes, mas vai entrar na mata, não é coisa fácil. Aí, segunda-feira, eu retornei pra ele e ele: ”Não, se a senhora puder ir até São Bernardo do Campo e me pagar o pedágio, porque ele está num estado desesperador, ele está com as roupinhas dele dentro de um saco preto, saco de lixo, há muitos dias e chorando porque quer ver a mulher e os filhos. E ele falou que só a senhora tiraria ele daqui. Se a senhora puder ir” – e eu morava lá em Itaquera, no Parque do Carmo – “se puder ir até São Bernardo do Campo, eu vou fazer o plantão até às sete horas e se a senhora for lá e pagar o pedágio e pagar a despesa eu pego a senhora lá, porque ele precisa sair daqui. Até porque, nesses lugares, tira um pra pôr o outro”. Eu falei: “Pois eu faço isso”. Levantei de madrugada, quando foi cinco horas eu saí, quando o homem chegou, eu já estava esperando. O enfermeiro chegou lá, eu dei as dicas de como era eu, quando ele viu... Ele avisou: “Hoje você vai sair daqui, eu vou buscar Dona Cleta pra te levar pra lá”. Ele já estava no corredorzinho com aquele saco preto com as coisas dentro. Quando me viu, me abraçou, chorou. Ele falou: “E agora pra voltar?” “Não, eu pago. Pode ir que o combustível eu pago.” Nós viemos. Quando nós chegamos lá, ele morava bem na biqueira, sobe em buraqueira, o carro não ia até lá, ele já foi vendo um dos menininhos dele. “Ah, é meu nego que está ali.” Mas, quando nós entramos lá, também o pessoal da biqueira já libera, viram que eu estava entrando com ele: “Dá licença que eu vou levar o seu...”. Mas aquele foi um dia muito emocionante. Nós choramos muito. Eles dois, o marido, a mulher e os filhos, foi muito choro, foi muito choro. E o enfermeiro falou: “E agora? Ele só volta pra aqui... Ele só vai lá se for visitar, ele pode até trabalhar”. Ele falou: “Eu posso trabalhar?” “Pode.” Eu acompanhei. A mulher dele, que tinha parado de trabalhar, ela recebia um auxílio e era da minha responsabilidade. Eu que recebia esse dinheiro do INSS, eu que comprava as coisas pra eles. Eram as crianças, e ela deu a metáfase também, não pode mais voltar a trabalhar, e tinha o irmão dela, que morava e me agradece até hoje. Faz tempo que não tenho contato com ele, porque eu dei essa grande força em ajudar, era pobrezinho, ele não podia buscar, não podia gastar. Aí, tinha bronca porque dizia que ela pegou Aids por causa do marido e não sei o quê. Eles ficaram lá, e eu ainda acompanhei uns dois ou três meses. Um dia, eu digo: “Seu Evandro, agora o senhor vai andar com seus pés, vamos no banco...”. Eu falei pro gerente: “Vou passar a conta pro nome dele e o senhor vai cuidar da sua vida”. Eles tinham um salário mínimo: “Vai receber, vai ao mercado” – porque eu ia ao mercado, fazia compra – “o senhor vai fazer tudo isso. E o senhor vai trabalhar”. E o Seu Evandro hoje trabalha. É portador, mas a Aids hoje tem tratamento. Trabalha muito feliz, estão num barraquinho, mas estão fazendo até alvenaria. Eles, sabe aquele lugar que é tudo lixo? Faz tempo que não vou visitar, um tempo eu fui visitar, estavam com móveis novos, esse móvel da Casas Bahia, os meninos já estão rapazinhos, tem um que é muito inteligente, estão estudando, quatro filhos, a menina não. A menina se desandou, teve um filho, mas também eles ajudam, criam o neto, o pai do menino mora junto. Eu não vou muito lá, porque é assim, muita gente, muita coisa pra fazer, mas estou até pra fazer uma visita lá pra ele. É outra coisa que eu também... Agora, o Seu Severino parece até que eu estou vendo. Ele era bem baixinho, aquilo ali, não falava... Sabe aquela pessoa que não sabe se pronunciar, mas você sente uma sabedoria nele? Foi um dos casos.
P/1 – Cleta, infelizmente, nós já vamos pras perguntas finais, que a gente está com o tempo meio apertado!
R – Eu sei.
P/1 – Cleta, eu queria saber, pra gente já ir encaminhando pra finalizar, quais são os seus sonhos? O que você espera daqui pra frente da vida?
R – Olha, eu, o que eu espero, eu já esperei tudo na minha vida, agora eu só quero paz, sossego, fazer o que eu puder pelos outros, porque tudo que eu fiz foi muito pouco. O pouco que eu fiz foi o muito que Deus me concedeu. Eu não tenho... E gosto de viajar! Eu não queria parar de viajar por enquanto, não é um sonho, é desejo, é uma satisfação pessoal. Mas a pessoa na minha idade, eu gostava... Tem um sonho aí que é meio besta! (risos) Pode até ser que aconteça, mas depois vocês sabem. Não é sonho, não, é que eu penso numa coisa. Como eu mexo muito com teatro, eu tenho vontade, não é sonho, é uma vontade de ser entrevistada, que possa contracenar com artista!
P/1 – (risos)
R – Seja o Francisco Cuoco, seja esses mais novos aí, seja o Edson Celulari, seja uma dessas meninas novas, seja qualquer um ator (risos). Não sei, por causa da vivência que eu tenho, eu gosto de teatro, teatro é uma coisa que eu só vou parar quando disser: agora não vai mais, só vai atrapalhar. Mesmo quando eu estiver no asilo, porque é assim, eu comprei, é meu, onde eu moro, moro só, não moro só, moro com Deus. Sou católica de ventre, moro do lado da catedral, sou vaidosa também! Tenho minhas histórias de antigamente, tem coisa que me lembro, mas eu sei que... Eu entendo o que foi, que passou, que não pode ser! Tenho os meus defeitos, as minhas qualidades, possa ser que tenha, mas tenho meus defeitos também. E aí foi.
P/1 – Você falou de viagem, que viagem você quer fazer que ainda não fez?
R – Qualquer uma, porque eu já fui a Israel, quem vai na Terra Santa é a viagem da vida. A história da Terra Santa foi uma danada também. Por quê? O meu neto, que eu já falei, que faz engenharia espacial, ele estava com cinco dias internado na UTI, desenganado pra morrer, tirou meio metro de intestino. Eu ia no domingo e, na segunda-feira, ele internou. Na sexta-feira, nós passamos na casa do meu cunhado só de visita de cordial, conversar, ele não estava bom. Minha irmã: “Tá aí, não quer comer e está aí caído”. Quando é na quinta-feira, interna o meu cunhado, na sexta ele morre! Cirrose, essas coisas, morreu. Um na UTI, outro morto, eu falei: “Paguei a viagem pra Israel...”. Não era a viagem dos meus sonhos, não, a viagem que eu queria mesmo era pra Paris, por causa da conferência que eu sou. Mas meu filho arrumou essa pra Israel, eu não ia, mas você não vai perder uma viagem porque um está morrendo... Às quatro horas, não lembro o horário que meu cunhado sepultou, na Quarta Parada, agora vamos ver o menino. Chegou a notícia: o menino saiu da UTI, foi um sucesso e saiu, agora vai ficar lá por uns tempos. Meu irmão olhou pra mim: “Agora você vai pra Israel”. Um se enterrou e outro saiu da UTI! (risos) Eu fui, vi meu neto e viajei, quando voltei, foi minha primeira visita foi ver ele. “Vó, admiro muito a pessoa ir em Israel.” Ele falou, ele é um menino muito inteligente: “Vó, vou lhe fazer uma pergunta, a senhora iria outra vez em Israel?” Eu falei: “Não, é a viagem da vida, eu faço campanha se uma pessoa não puder ir, eu faço campanha pra ir, vendo até latinha pra ajudar”. Ele deu risada, e isso se for preciso eu faria. Mas sonho com isso... Vida é assim, você vai encontrando as coisas no que vai acontecendo porque também eu vou sonhar com quê agora? Eu já estou tão feliz na minha vida, não é? Mas esse negócio aí de pensar, ter vontade, sentir desejo, não é uma coisa que, se não fizer isso, eu vou ficar frustrada, mas eu tinha vontade de ir. (risos) Mas também não vou fazer nada pra ninguém aparecer, fazer um livro? Fazer um livro pra eu ver o livro, eu ler e quem quiser ler vê, mas eu li e foi isso que fiz! Não é uma coisa que aquilo fica pra mim pra toda vida e vai! Eu tenho... Não é casa, não, eu moro num flat, 25 metros quadrados, mas ali está bom pra mim (risos). E gosto muito de teatro, mas também eu faço teatro porque vou me apresentar? Eu faço porque gosto, me faz bem e é muito bom pra isso aqui também. E fazer as coisas voluntárias eu faço, eu dou aula um dia por semana, tenho aluna com 86 anos, pessoa que aprendeu a ler de um jeito e veio morar em São Paulo, não se importou e hoje vê as coisas de um jeito e quer ler. E eu comecei a participar lá desse lugar, e a assistente social falou que está precisando de uma pessoa pra dar aula pra pessoa assim, assim, assim, e eu gosto muito. Não é nosso beabá, é dar aula do nosso jeito! É com símbolos, porquê aquela palavra. Às vezes, a pessoa sabe escrever, mas não sabe aquela palavra, como eu não soube por muito tempo na minha vida. Eu mesma procurei, porque cada um procura, cada um sabe as suas dificuldades e eu vejo a situação daquela senhorinha com 86 anos, quando ela vê uma coisa diferente, uma palavra, não sabe ler como o pessoal lê normal e ela quer do jeito dela. “Tá bom, faça assim. Você entendeu que é assim.” A dificuldade que ela tem de ver uma placa, dividir. Eu já dei aula pra umas pessoas assim de sigla, de alguma coisa assim, de símbolo, de vezes, umas aulas de matemática pra pessoa saber por quê. O homem falava assim, era Lírio o nome dele, ele falava assim: “Eu via tanto isso, isso ‘x’ isso. Por que esse ‘x’?” Eu digo: “Isso chama vezes”. Isso aí aprendeu pra toda a vida. Já uma pessoa de idade que nunca sabia, não sabia encarte, pegar um encarte e dar aula pelo encarte. Porque uma pessoa dessa idade vai precisar de quê? Ele vai se formar, vai fazer uma faculdade? Tem gente que faz faculdade até com 90 anos, mas uma pessoa que vê um encarte, vai ler e não sabe porque isso é isso, seis vezes seis. Outra coisa nesse gênero parecido e aí vai.
P/1 – Cleta, pra encerrar, no outro dia você falou que não via a hora de vir aqui. Como que foi pra você vir aqui contar a história pra gente?
R – Bom demais! É tanto que eu não lhe paguei! (risos) Quando eu entrei no Uber que eu fui, eu digo: “Eu não paguei pro homem!” (risos) “Não, mas já está pago aqui.” Eu digo: “Eu tinha que pagar lá”. Aí, eu digo: “Beleza! Agora eles vão me chamar que eu tenho que ir lá”. E fiquei. O cartãozinho que você me deu, sei lá onde eu pus, você chega e joga, vai varrer a casa, acho que minha filha limpou a casa e se foi.
P/2 – A gente dá outro!
R – Dá outro, tem que dar porque eu fiquei: “Mas eu tenho que...”. E não encontrei. Eu digo: “Pera aí!” Fui no telefone e muita dificuldade e eu ocupada, liguei pra minha irmã: “Olha, procura aqui nessa rua”. Minha irmã daqui a pouco: “O telefone é esse”. Isso foi antes de ontem. Porque eu estava desesperada. Eu digo: “Mas eu não encontro o telefone, eu vou lá!” Minha irmã passou aquele telefone, eu liguei: “Este telefone não existe!”. Aí, eu falei, e agora? Será que minha irmã ligou errado, pegou errado e eu vou incomodar ela? Busquei lá, puxei, deram o telefone daqui. Quando liguei: “Este telefone está temporariamente não sei o quê”. Caramba, mas eu vou! Antes de ontem. Não, aquele dia mesmo, foi antes de ontem que você me ligou? Foi terça-feira que eu vinha da reunião. Foi segunda-feira e terça-feira mesmo, quando eu vinha da reunião. Eu digo: “Mas eu vou lá! Eu vou pra reunião essa semana, eu vou lá caminhando, eu vou pagar pra ele e dou uma conversa pra ele me chamar!” (risos) Aí a coincidência, eu estou no metrô. Foi você que me ligou por último?
P/1 – Foi a Gabriela.
R – Quem me ligou falou que eu não estava nem atendendo primeiro, porque o metrô tem hora que vai e volta e eu digo: “Ai, que beleza!” Já liguei pra minha irmã, beleza, não via a hora de chegar!
P/1 – (risos)
R – É tanto que eu esqueci de ir pro teatro ontem! (risos) Eu tinha que fazer duas aulas agora nas férias, mas não daquela peça que nós estamos preparando. A gente trabalha o ano todo e no fim do ano a gente busca, porque é um grupo, cada um com seu caso, cada um com sua história, cada um diferente, cada um uma coisa. Que eu não te falei, mas fica aí!
P/1 – (risos)
R – Aquela lá daquele dia que eu fiz a encenação, essa foi muito legal, foi legal pra caramba! Todo mundo se surpreendeu. Cada uma tem a sua história, inventava, uma não deu muito certo, porque é assim, eu chegar e dar boa noite, eu sou o personagem. E converso, eu falo de alguém, de uma colega, de um parente. Eu vou lá no camarim, volto e venho com uma pessoa que não é eu, já foi outra. Eu mesma sou a pessoa que eu vou apresentar, que eu falei que ia buscar essa pessoa pra apresentar. E a pessoa foi mesmo. E a pessoa que eu encontrei lá, até ele falou: “Essa pessoa existe?” Depois de tudo, que teatro tudo é muito corrido. Eu falei: “Existe não”. “Mas no dia da peça, se fizer uma peça com essa personagem aí, pode uma pessoa ver e lembrar?” Eu falei: “Eu conheço uma pessoa que, se ver mais ou menos isso aí, chora!”
P/1 – (risos)
R – Que foi bem na época! Porque é coisa de muitos anos atrás e na hora você cria e depois você busca e junta os pedacinhos. E eu amei vir aqui! Vocês é que estão incomodados comigo.
P/1 – Imagina! Foi um prazer, Cleta.
R – Porque eu falo muito e não falo quase nada do que eu tenho que falar!
P/1 – Não, falou um monte!
R – (risos) Não, porque, olha, aquelas coisas de criança que nós não falamos, de travessura de criança, daqueles outros namorados de verdade, porque aquele que eu falei não era. Aquele, depois eu pensei, foi tão emocional aqui, a gente fica tão assim, porque eu tinha que falar, aconteceu isso e isso, o primeiro namorado. Congela! Aí, depois não, outro dia era que eu ia responder. Não é assim que tinha que funcionar? Na minha mente é assim!
P/1 – (risos)
R – Esse foi em tal tempo, tal. Congela esse. Inclusive aquele, que depois eu encontrei, não tinha nada que falar aqui, foi aquele tempo e acabou. Vamos passar, daqui a 10 anos... Não tem aquele negócio? Depois de 10 anos, antes de 10 anos? É assim! Eu vou escrevendo e, pra não esquecer, qualquer papelzinho de pão, que eu pego pela rua, porque eu lembro de alguma coisa, eu ponho tal década, porque tem que ser, a gente fica velho, não fala mais tantos anos, é década! Eu tenho que contar pelas décadas da vida, porque foram muitas coisas, inclusive aquela que eu não falei, essa foi das outras décadas, foi em 2012 pra 2013.
P/1 – É que é muita história, Cleta!
R – Essa de 2012 pra 2013, essa daí foi muito doida. Mas eu sou uma pessoa feliz também, fique sabendo que eu sou feliz. E, se você souber os obstáculos da minha vida, tem gente que diz: “Eu morria!” Morre nada, que eu não morri! Que eu já passei coisa na minha vida que foi coisa muito difícil mesmo. Mas estou aqui contando minha historinha. Tem mais uma coisa na minha vida, eu não me sinto velha! Sou velha, mas não me sinto velha. Não dá tempo, eu não tenho oportunidade pra velhice! É tanto que eu falo: “Mas você está nova ainda, porque fulano é mais velha”. Eu digo: “Sabe o quê que é? Eu morava na periferia. Quando a velhice passou na minha casa, que apertava a campainha, eu nunca estava! (risos) Aí ela pegou e desistiu e me deixou.” Os velhos que se danem!” (risos)
P/1 – (risos)
R – Pois é. Vejo assim, tenho respeito de todas as etapas. Esse povo doido hoje, que vive tudo doido, não sabe o que é nada, mas eu digo, é assim mesmo, na minha época não tinha isso, eu tenho que respeitar onde ele está. Eles estão tudo doido com esse celular, essa coisa, outros usam droga, mas eu tenho que aceitar tudo na vida. Não é brincadeira. Eu tive um filho, eu sofri muito com isso. E eu participei de reuniões, foi aqui na classe alta, como o pessoal fala, Itaim Bibi. Eu conheci pessoas nessa época, meu filho vivia ficando internado e... Meu filho ficava internado em lugar que era 500 reais por dia a diária! Era um absurdo! Outros eram 1500, era assim. Mas ele. A mulher dele é do Banco do Brasil e tinha convênio, por isso que ia, porque a gente não podia pagar, não! Mas a gente acabou muita coisa em casa com isso. Mas eu via coisas muito piores do que isso, eu fui em reuniões no Itaim Bibi assim, a gente tem que participar. Uma coisa puxa a outra. Tem coisa que eu não sei por quê, eu queria tanto lembrar o médico japonês que me falou uma coisa sobre ciência, sobre essas coisas, que eu não sei por quê eu passei naquele médico. Eu não sei, eu descubro depois. Porque tem gente, você vê ali a famosa Sete de Abril, você vê aqueles caras caídos ali, cara bem parecido, não vai pensar que é lá da periferia, não. Eles são aí do Centro, que a família não aguenta mais e não passa naquela rua. Aqueles nariz empinado, quando você vai nessas clínicas onde meu filho ficou, os dias que junta todo o grupo lá, que está a coisa melhorando e você vê aquelas “nariz empinado”, outros abandonam de tudo! A gente vê casos que você aprende na vida com isso, que não é nada pela gente. Sabe o que é casal jovem, você vê, saber e ver casal todo cortadinho porque a droga não é ele que se manda, não se domina? E a família não tem mais jeito de abandonar e deixar ir e depois saber que achou... Quantas pessoas não acham na rua morto, que não é da periferia? A família deixa. E aqueles casos, filho mata pai, como aquela moça matou, tudo são esses casos que à vista do meu é pequenininho. E hoje meu filho é recuperado. Agora mesmo, nesse momento, ele está naquela praia bem famosa da Bahia, porque eu não sou normal! Eu tenho três filhos, as filhas, nenhuma não casou, uma tem duas filhas, eu tenho duas bisnetas, e a outra não casou, teve uma vida de 22 anos, separou. Todo mundo está formado, ela e o marido são formados, mas, hoje em dia, foi muito interessante quando ela avisou pra mim que ia separar, porque não vai dar certo. Quando meu genro chegou em casa, ainda me chama de sogra, no fim, eles e eu dando risada, 22 anos, não deu certo, pra mim tudo é normal! (risos) Só que dos três filhos, só quem casou foi o filho e casou três vezes com a mesma mulher, no mesmo cartório! E estão de lua de mel agora, foram pro Chile, voltou, ele foi lá em Floripa, mas foi com o cunhado e agora ela é gerente do banco, tirou umas férias e ele também está de férias, que ele é da educação e agora mesmo eu abri, eles estão na Bahia. E ele se diz recuperado. E quantas vezes antigamente eu não vi médico falar: “É doença e não tem cura”. Tem coisa que não tem cura, mas existe tratamento. Existe meio pra você. E dependendo muito da pessoa. A coisa não tem cura quando a pessoa não quer se curar. Não é que você quer, não é capaz, porque também todo mundo não é obrigado a ser louca como eu. Foi engraçado, a juíza falou assim: “32 anos de juíza nesse cartório, eu já vi caso de quem casou duas vezes com a mesma mulher, mas casar três vezes é o primeiro!” Acontece comigo essas coisas.
P/1 – Acabou a fita?
R – Pois é, comigo acaba até a casa!
P/1 – (risos) Cleta, foi um prazer enorme!
R – Eu também, amei vir nisso aqui!
P/2 – Muito, muito obrigada!
R – E vou fazer agora o meu livro.
P/2 – E manda pra gente quando acabar!
R – Vou, vou fazer (risos).
Recolher
.jpg)







.jpg)







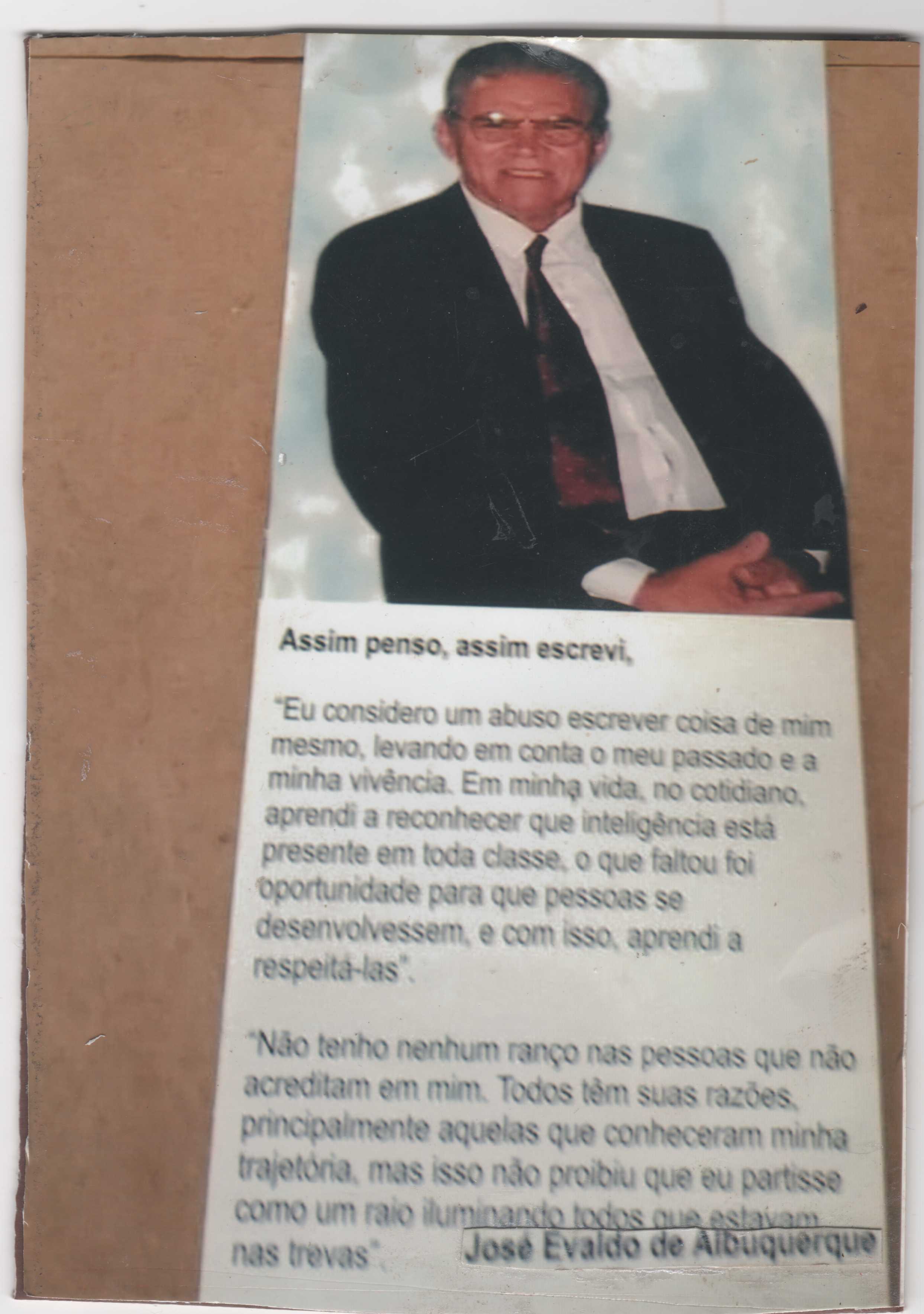
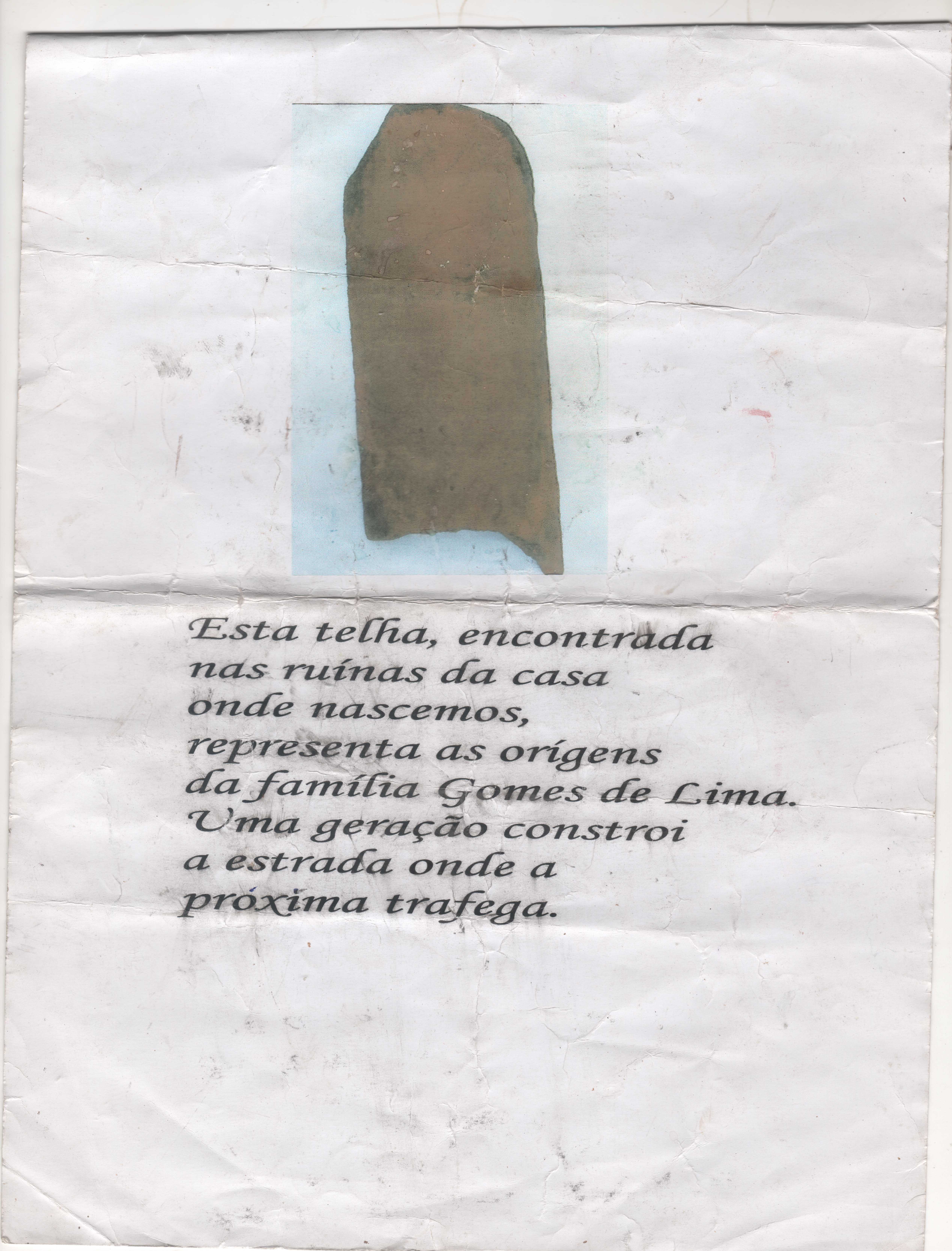

.jpg)






