Programa Conte Sua História
Depoimento de Juliana Tostes
Entrevistado Denise Cooke e Carol Margiotte
Belo Horizonte, 16 de abril de 2018
Entrevista número PCSH_HV649
Realização: Museu da Pessoa
Revisado e editado por Bruno Pinho
P/1 - Juliana, primeiro a gente queria te agradecer muito por estar aqui com a gente contando sua história.
R - Obrigada.
P/1 - Eu queria começar perguntando para você o seu nome, o local e a sua data de nascimento.
R - Eu me chamo Juliana Milagres Tostes. Eu moro aqui em Belo Horizonte, mas sou de Barbacena. Eu tenho 24 anos e nasci dia 07/07/1993.
P/1 - E quais são os nomes dos seus pais?
R - Maria do Carmo Milagres (Corsi) [00:01:00] Tostes e Luiz Cesar Tostes.
P/1 - Você tem irmãos?
R - Tenho uma. Chama-se Ana Paula Tostes.
P/1 - E ela é mais velha ou mais nova?
R - Ela é mais nova. Ela vai fazer 20 anos agora em abril.
P/2 - Você sabe como os seus pais escolheram o seu nome?
R - O meu eu não sei. Acho que o meu foi à toa: ‘‘Juliana é legal’‘. Eu sei o da minha irmã. Tinha uma jogadora de vôlei que se chamava Ana Paula e o meu pai gostava muito de esportes. Então, disse: ‘‘vou chamar de Ana Paula’‘.
P/1 - E você sabe alguma coisa sobre o dia do seu nascimento, como foi?
R - Eu sei que eu nasci na Aeronáutica, na EPICAR, que é onde meu pai trabalha. Tem um hospital lá do lado e eu nasci lá. Era pertinho de casa, porque eu morava na rua do lado. Eu acabei saindo de lá, porque a minha mãe ficou um pouquinho só. Ela me teve, saí de lá e atravessei a rua e já cheguei na minha casa. Eu acho que é mais ou menos isso que eu sei do dia mesmo.
P/1 - E fala para a gente como foi passar a infância ao lado dessa base da Aeronáutica.
R - Foi, não sei nem dizer... foi muito emocionante. Toda vez que eu volto lá, é muito... é divertido, mas é difícil para mim, porque meu pai morou lá esse tempo inteiro com a gente e trabalhava do lado. A gente tinha essa ligação de quando ele precisava de alguma coisa lá, ele chegava no muro, assobiava e a gente já sabia que tinha de ir lá para levar alguma coisa. Ou então ele tinha de entregar alguma coisa para a minha mãe e eu ia lá, pegava e entregava para ela. Nisso, eu vivi muito lá. Eles têm um pátio em que todos os dias tem de cantar o Hino Nacional e algumas outras questões lá. Isso ficou na minha cabeça o tempo inteiro, todo dia. Eu já sabia o horário, já sabia o horário da volta, porque, à tarde, eles tinham de fazer a mesma coisa. Bater continência, acho que é o nome. Eu fui praticamente criada lá dentro. Eu ia e voltava. Era só aquele bairro, assim. Aí, quando eu fiz dez anos, eu descobri que meu pai estava com câncer e a gente entrou nesse processo. Ele já sabia que tinha câncer há muito tempo e a minha mãe também já sabia. Só que como era um caroço... não sei ao certo onde é, mas é aqui ao lado do pescoço... quando ele era mais novo, ele sabia que tinha alguma coisa, mas estava muito pequeno e ele não queria mexer. Ele tinha muito medo e essa é a história que minha mãe e as minhas tias, irmãs dele, me contam. Aí ele foi deixando aquilo e foi aumentando. Em algum momento, isso já estava muito grande e não tinha mais o que fazer. Começou a pegar o nervo do rosto. Eles chegaram lá no dia e falaram assim... minha irmã tinha cinco anos e eu tinha dez. Minha mãe falou: ‘‘eu vou ter que ir com o seu pai para o Rio, para ele operar’‘. Em nenhum momento eu pensei que poderia ter uma perda ali. Para mim, quem morria eram pessoas velhas. Nunca tinha visto alguém muito próximo morrendo. Minha mãe levou o meu pai com um dentista, que era amigo dele e que trabalhava com ele. Fez a cirurgia. Lembro que foram umas 17 horas de cirurgia, se não me engano. Aí no mesmo dia – ou no outro dia – minha mãe ligou para dar notícia e falar como é que foi a operação, porque podia dar alguma coisa de errado e já acabar ali. Ela ligou para as minhas tias... a gente ficou lá com elas, onde era a mesma casa da minha avó. Eu chamo agora de ‘‘casa das minhas tias’‘ porque minha avó já morreu. Mas ela ligou para a gente lá e meu pai começou a conversar. Ele estava com uma voz, assim, que, para mim, não era dele. Era uma voz muito rouca, muito grave, mas isso era óbvio que ia acontecer porque ele tinha acabado de tirar um tumor da garganta, então não teria como a voz ficar do mesmo jeito. E eu falei com o meu pai e foi tudo muito bacana. Eu estava esperando ele chegar. Nesse dia que ele chegou, eu lembro que, para mim, foi muito estranho, muito difícil, porque eu não reconhecia meu pai. Era outra pessoa, para mim. Fisicamente, assim, nada emocional, nada de ligação, mas, consequentemente, foi. Quando eu vi ele, ele estava, praticamente, sem a metade do pescoço. Para mim, aquilo já causou um estranhamento para o qual eu não estava preparada. E aí, quando eu fui abraçar ele eu fiquei com muito medo. Parecia que era outra pessoa, não parecia que era o meu pai. Eu falei: ‘‘o que é isso, o que é que está acontecendo?’‘. Só que aí, depois, eu acostumei, porque era o meu pai, era a mesma coisa e ele só tinha tirado o tumor. A partir daí ele tinha de fazer rádio e quimioterapia. Ele começou a ficar muito ruim. É muito estranho, porque a relação que eu tinha com o meu pai sempre foi muito próxima e eu o tinha em um pedestal da força. Sabe aquela coisa péssima de achar que o pai é uma figura protetora da família, que tem a mãe – que o pai está protegendo – e tem os filhinhos que a mãe está protegendo e ainda tem o pai que está protegendo. Eu tinha muito aquilo na minha cabeça. E como eu era muito ligada ao meu pai, para mim, era como se ele me envolvesse o tempo inteiro. Era como se ele fosse a minha proteção. Eu não tinha medo de nada, do externo. Eu achava que eu estava protegida. Aí ele foi ficando ruim, eu fui vendo aquela coisa acontecer e eu não sabia o que fazer. Eu tinha dez anos. E até ali, naquele momento, eu não sabia que ele poderia morrer. Para mim, ninguém poderia morrer, a não ser que estivesse muito velho. Então, ok, não iria acontecer. Acho que eu nem sabia o que era morrer, na verdade. Ele foi ficando muito ruim. Eu lembro de um episódio em que a gente estava dormindo, à noite, e aí meu pai levantou para ir ao banheiro e a minha mãe o ajudou, porque ele já não estava conseguindo andar muito bem. Meu pai tem 1,90 m e a minha mãe deve ter 1,60 m ou menos. Eu lembro que estava acordada nessa hora, porque eu estava com muito medo. Sabe aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa? Ou então: ‘‘se acontecer alguma coisa, eu estou aqui’‘. E aí minha mãe o levou no banheiro e quando chegou lá, em algum momento, ela não conseguiu segurar ele e ele foi para trás. Ele caiu no banheiro. Nisso, a minha mãe começou a gritar e eu levantei. Fui lá na porta. Eu não sabia muito o que fazer, então liguei para a minha tia, que morava embaixo. Eu falei: ‘‘tia, corre aqui que meu pai caiu’‘. Ela falou: ‘‘já sei, eu ouvi o barulho’‘. Ela já estava na porta... uma das tias subiu correndo. Moravam duas tias com a minha avó. Não podia vir as duas, porque a minha avó estava de cama. Se ela soubesse que meu pai tinha passado mal ou caído, ela ia começar a passar mal também. Então, uma ficava lá com ela fazendo a pêssega, no sentido de ‘‘não tem nada acontecendo, está tudo bem, vamos dormir’‘. E aí, minha tia subiu. Nisso, ela entrou no banheiro. Elas pegaram meu pai e foram arrastando, porque ele é muito pesado e não tinha como subir. Ele já estava meio que desmaiado, meio sem condições. Elas foram arrastando. Eu lembro dessa imagem direitinho. Foram arrastando ele até o quarto, no chão. Depois as duas o colocaram em cima da cama. Depois desse dia eu notei que estava muito ruim. Eu já não sabia quem era ele. Agora, ele só andava de cadeira de rodas, até que ele foi para o Hospital da Aeronáutica, para ficar lá. E nisso eu tenho uma lembrança de que teve um dia em que eu ia fazer a minha primeira... sabe quando você vai levar seus coleguinhas pela primeira vez na sua casa, para fazer um trabalho? Eu estava muito nervosa. Comparado com a casa dos outros meninos, a minha casa não era muito boa, na minha visão de sei lá quantos anos atrás. Agora, eu tenho uma super consciência de que a minha casa é muito boa, mas eu já tinha ido na casa daqueles meninos. Eu falei: ‘‘ai, meu Deus, eles não vão gostar da minha casa. Ela é muito mais simples’‘. E isso estava me preocupando muito. Hoje, eu fico assim: ‘‘que coisa mais nada a ver’‘. Nisso, eu tive que ir lá no hospital pela primeira vez para pegar a chave da casa com a minha mãe. Aí eu vi meu pai. Eu falei: ‘‘oi, pai, como é que você tá?’‘ e ele estava sentado, do jeito que eu estou aqui. Ele estava na cama e falou assim: ‘‘o que que você vai fazer agora?’‘. Eu falei: ‘‘eu vou lá levar os meninos. A gente vai fazer uma pesquisa’‘. Ele falou assim... ele me chamou de chimbica, que era um nome carinhoso e que a gente sempre usava lá. Ele falou, meio que tipo assim: ‘‘oh, chimbica, então toma cuidado’‘, mas uma coisa... quando eu ouvi ele falando isso do jeito que ele estava falando, para mim foi: ‘‘ele está melhorando já e daqui a pouco vai poder voltar’‘. Eu não fiquei muito tempo lá. Foi muito rápido porque o meu foco era levar os meninos naquela casa. Aí depois disso, depois de três dias, ele morreu. Isso, para mim, é uma coisa muito significativa, no sentido de que eu nem tenho mais contato com aqueles meninos. Nem tenho aquelas amizades. E eu fico pensando que eu poderia ter... que eu deveria ter ficado lá com ele. Eu não tinha essa noção de que ele iria embora. Para mim, não iria acontecer. Não tinha como. As pessoas não morrem agora, está novo. Isso me marcou muito, no sentido de que eu achei que... eu acredito até hoje que eu não fui muito feliz na minha escolha... naquela época foi bom ou foi ruim. Enfim, aí eu vivi muitos momentos felizes naquela rua, de brincar com os meus colegas. Eu vivia na rua. Acordava de manhã e umas 8h já estava na casa dos meus colegas: ‘‘a Lorelai está aí para brincar? Tá aí, chama, chama’‘. Aí ia almoçar e já voltava de novo. Jantava e voltava de novo. E nisso ficava até umas 22 horas, nos dias que eu não tinha aula. Quando tinha aula eu ia, chegava, fazia a tarefa e depois ia para a rua. Eu lembro desses momentos bacanas, que eu não queria que tivessem acabado, mas vão acabando por conta da vida e teve esse momento ruim, assim, de perda. De lembrar que no dia que ele morreu tinha uma galera na rua. Eu estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu não queria aceitar, porque tinha muita gente chorando. Eu vi muita gente chorando, muita gente na minha casa... aí quando a minha mãe chega e dá a notícia para mim e minha irmã... aí fala: ‘‘seu pai foi ficar com o Papai do Céu. Ele estava sofrendo muito’‘. E essas coisas são, para mim, situações que são super pesadas, porque eu não acredito nisso que a pessoa vai para um céu e que vai... ou então, que a gente vai rever essas pessoas. Eu não tenho isso para mim hoje. Não que eu não vá ter, porque eu sou muito aberta em relação a isso. Já fui super católica, já frequentei outras religiões e para mim isso é super pesado. Então, eu não lidei muito bem com isso quando minha mãe falou. E aí que a minha vida foi se transformando, depois desse momento que o meu pai morreu.
P/2 - E o que mudou em casa? Rotina... O que mudou depois disso?
R - Mudou tudo, completamente, porque o meu pai... o meu pai não era muito presente, na verdade. Ele trabalhava na EPICAR, mas ele falava para gente o tempo todo: ‘‘eu odeio esse trabalho!”
P/1 - O que ele fazia?
R - Ele era protético na EPICAR. Ele trabalhava com os dentistas. Ele fazia as dentaduras para os dentistas. Só que essa coisa militar, para ele, era muito difícil, assim, no sentido de ser muito preso. Você tem regras a cumprir, então. Só que ele sempre falava: ‘‘eu estou nesse emprego por conta das meninas’‘. Porque quando você está em um trabalho assim, você tem alguns privilégios. Você tem hospital para a sua família, se precisar. Acho que é mais essa parte de dentista... e tem um salário fixo, o que, hoje em dia – e antes também – muita gente procura essa saída para ter uma independência. Assim que ele saía da EPICAR, ele pegava a Variant dele e ia pescar. Então, ele ficava até... se ele ficava só a manhã trabalhando, dava meio-dia, ele almoçava, pegava a Variant dele e chegava só, tipo, 22 horas.
P/2 - Você, alguma vez, foi pescar com ele?
R - Essa é uma coisa esquisita, porque eu nunca fui, nem a minha mãe e nem a minha irmã. É uma coisa que eu me pergunto, assim, no sentido do porquê ele não levou, mas eu acredito que seja porque ele ia com muitos caras lá. Pessoas que iam para pescar mesmo. Ele competia também nesse negócio de pesca e ganhou vários troféus. Acho que ele não queria, meio que, juntar essas duas coisas. Família é família, pessoas da pesca, da pesca. Enfim, não sei. Essa é uma coisa que eu queria muito ter tido a oportunidade. Por que que eu estava falando isso? Eu não lembro. Qual que foi a pergunta? A rotina.
P/1 - O que que mudou.
R - É, exatamente. Aí meu pai fazia esse papel protetor da casa e não tinha mais. Minha relação com a minha mãe nessa época da minha vida, depois que o meu pai morreu, começou a se transformar em uma relação muito ruim, muito difícil. Não ruim, mas muito difícil. A gente tinha muito choque de tudo. De ideia, de comportamentos e eu fui ficando muito distante dela. E tinha a minha irmã também. Minha irmã pequena, tinha cinco anos. E ela também é muito colada comigo. Para onde eu ia, ela vinha comigo. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça depois de uma fala do meu pai, dessa época que ele estava doente. Era um café da manhã, estávamos eu, minha mãe e meu pai. Ele falou assim: ‘‘Ju, assim que eu for embora, você é que vai ter que fazer o meu papel. Você é que vai ter que tomar conta da sua mãe e da sua irmã para mim’‘. Aquilo ali para mim, na hora, eu nem levei a sério, mas eu lembro disso até agora comigo, no sentido de tipo: ‘‘ok, vai ser eu’‘. E, para mim, eu fui... não sei o que aconteceu comigo, mas eu tomei esse papel para mim. Eu tenho que cuidar da minha irmã e da minha mãe, como se eu fosse mais forte. E, obviamente, não fui. Nem precisava ter sido, também. Eu vejo isso hoje. E aí que começou a rolar essa questão da dermatite na minha vida.
P/1 - Mas na sua cabeça de menina de dez anos, como é que você estava exercendo esse papel?
R - É estranho, porque eu pensava que o meu pai, então, tinha ido embora. Saiu, foi para o céu, naquela época. ‘‘Mas agora eu vou ser o meu pai e vamos ver como é que eu vou me virar nessa situação. O que que o meu pai fazia e o que eu tenho que ser para me tornar essa pessoa? Aí eu fui tentando fazer algumas coisas para ser essa pessoa. Pegava minha irmã como minha responsabilidade para tudo. Até porque, quando ela queria brincar, ela ia atrás de mim também. Então, eu ficava com a responsabilidade por ela em tudo. E eu não sabia como chegar na minha mãe, no sentido de que meu pai e minha mãe eram um casal amoroso e eu sou filha da minha mãe. É uma outra relação. Não é uma relação igual. E eu ficava, assim: ‘‘e agora? O que é que eu vou fazer?’‘. E aí a gente começou a se chocar. Para ela não. Ela acha que a gente nunca teve um relacionamento ruim. Eu já acho que o nosso relacionamento foi totalmente ruim nessa época. Então, para uma menina de dez anos ter que passar de uma pessoa protegida ali para ser a pessoa que protege e não ter nenhuma pessoa para proteger, porque eu achava que não tinha ninguém para me proteger. Minha mãe não seria essa pessoa na minha visão daquele tempo. Eu achava que só o meu pai que poderia me proteger. E eu falei assim: ‘‘agora eu tenho que proteger a minha mãe e a minha irmã, mas ao mesmo tempo, eu não tenho ninguém para me proteger. Então, eu estou meio ferrada’‘. Aí eu acho que tudo foi acontecendo, assim, psicologicamente na minha vida. A minha mãe, assim que o meu pai morreu, brigou com os meus tios paternos, que moravam embaixo. Então, foi uma dificuldade, porque a gente saía de casa... eu gostava muito de brincar. Era o que eu mais gostava. Eu não ia deixar de sair. Eu saía de casa e se eu visse meus tios, minha mãe não deixava eu falar com eles. E eu fui, assim, praticamente criada com eles lá. Eu ia para a minha casa de cima só para dormir, praticamente, e para tomar banho. Porque o resto, para comer, para fazer tarefa e fazer tudo, era tudo ali embaixo, com os meus tios.
P/1 - Tinha primos?
R - Não. Eu e a minha irmã, a gente sempre foi as... a gente tem primos, mas eles são mais velhos. Então, da nossa idade, era só a gente. A gente sempre foi muito próxima deles lá debaixo, os meus tios, a minha avó, e a minha mãe cortou esse nosso laço. Se a gente os visse, a gente não podia nem parar para falar. Então, para mim, foi uma ruptura. Primeiro perdi meu pai, depois perdi todo mundo lá debaixo, meus tios e minha avó. Aí minha mãe resolveu sair daquela casa e mudou para outro lugar. Minha mãe construiu um local para gente, que é a casa em que moramos até hoje e a gente mudou. Aí teve também essa ruptura de lugar e pessoas. Colegas de bairro e tudo mais. Eu nunca tinha saído daquele bairro. Só conhecia aquele nicho de pessoas ali.
P/2 - Como foi a mudança, Ju?
R - Para mim, foi assim, péssimo. Eu não queria de jeito nenhum. Minha mãe já estava há dois querendo sair da casa. A gente via uma casa e eu falava que eu não gostava da casa. Eu inventava as coisas para dizer que não gostava. A casa era maravilhosa e eu falava que não gostava da casa porque não estava muito boa. Tipo, só inventava. Não quero, não quero. Até que minha mãe falou assim: ‘‘então você não está gostando de nenhuma? Vamos ver agora. Vou construir’‘. Aí ela construiu a casa e eu não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer. Aí a gente foi e mudou. Para mim, nossa, foi tudo muito novo, muito complicado ter que mudar para outro bairro em que não conhecia ninguém. Aí eu já não tinha mais amigos. Foi uma época em que eu não tinha mais amigos nem para brincar. Eu já estava ficando mais adolescente, então não tinha mais aquela coisa de brincar de pique-esconde, mas nem que juntasse a galera para conversar... não tinha isso. Aí a gente meio que ficou confinada naquela casa. Nisso, logo que a gente mudou, a minha avó materna teve um AVC. Ela perdeu um lado e foi morar com a gente. Morávamos minha mãe, minha avó, minha irmã e eu. Aí aconteceu que, nessa época, eu comecei a ter dificuldades com a alergia, com a dermatite e com o meu psicológico, porque está tudo interligado.
P/1 - Antes disso a dermatite já tinha se manifestado de alguma maneira?
R - Sim, desde que eu nasci que eu já tinha ela, mas era muito branda, bem pouquinho. Eu nem me preocupava e nem a minha mãe se preocupava muito. Eu tinha asma também, então é todo um processo alérgico. Só que depois que o meu pai morreu, essas coisas foram se desenvolvendo muito. Aí, quando vi, comecei a ter muita alergia, a minha asma piorou muito e até que quando chegou nos meus 13, 14 anos, eu entrei em depressão. Eu fui diagnosticada. Aí foi uma época em que eu já não conseguia mais lidar com essa situação. Porque quando se é adolescente, se tem essa coisa de tentar ser boa, no sentido de ter uma turminha, se legal, ser bonito, das pessoas quererem falar com você. Ter alguém que goste de você, uma paquera, sei lá. Aí eu já estava com o meu corpo meio que ruim... eu me escondia nas roupas. Só colocava moletom. Eu lembro que de quinta a oitava série, eu ainda segurei bastante. Segurei porque eu gostava muito de esporte. Eu jogava vôlei, jogava handball, jogava futsal, então aquilo ali para mim ainda era um motivo de estar em sociedade, como se diz. Quando formo na oitava série e vou para o primeiro ano, para mim é outra ruptura, como se fosse uma perda. Eu perco todos os meus colegas que eu custei para fazer de quinta para oitava série. Aí, isso para mim, assim, foi totalmente difícil, porque na minha cabeça, os processos de perda são: ‘‘nossa, mais um agora’‘. Não é uma pessoa. São vários amigos que você perde e cada um foi para um colégio. Eu fui para um colégio com uma das minhas amigas, que se chama Isadora. Só que eu não me adaptei ao colégio, que tem pessoas maldosas, assim. Pessoas que não me queriam no grupo por conta da dermatite. Dava para notar que eu tinha dermatite. Dava para notar que eu ficava só no meu canto, que eu não sabia interagir. Até porque eu não sabia interagir porque as pessoas não aceitam fácil. Tem muita gente que fala que isso é contagioso, que não pode ficar perto, senão vai pegar, que é muito feio de ver e tudo mais. Aí ok. Eu fui ficando mal, não estava mais indo nas aulas. Nisso eu comecei a tomar remédio para depressão, que tem algumas questões que vai deixando com muito sono... para algumas pessoas funciona muito bem, mas para outras você vai ficando com muito sono, vai perdendo a vontade de algumas coisas. Ou você começa a comer muito, ou você para de comer. Aí eu me vi, assim, em uma situação em que eu dormia demais, em que eu não estava querendo ver mais ninguém, não estava querendo sair de casa... então eu faltava aula demais da conta. Até que eu perdi o meu primeiro ano, porque eu faltei aula, totalmente. E aí, para mim, aquilo ali foi a gota d'água, no sentido de que eu era responsável pela minha mãe e pela minha irmã. Eu tinha na minha cabeça que eu era a pessoa que protege as pessoas. Eu não sou a pessoa que falha nas coisas. E aí eu falhei. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de ter as minhas coisas bem certinhas, de responsabilidade. Eu nunca deixava a pessoa ter uma coisinha pequenininha para falar: ‘‘oh, você não fez isso aqui, viu?’‘. Aí deu isso. Eu não passei de ano, a minha mãe veio me dar essa notícia e eu fiquei: ‘‘nossa, eu não estou acreditando que eu fiz isso com a minha vida’‘. E eu senti que a minha mãe ficou muito triste também, porque ela queria que eu estudasse, né. A visão de mãe, daquela que ‘‘eu quero que o meu filho estude, que vá longe na vida, que consiga um emprego bacana e tudo mais’‘. Aí, para mim, aquilo foi a gota d'água. Não consegui recuperar no sentido de, tipo, ‘‘não, ok, você perdeu esse ano, mas o outro ano você pode recuperar’‘. Para mim não, para mim já tinha acabado. Eu falhei uma vez, acabou. Não dá mais, não tem mais o que fazer, já era. Aí eu entrei em um processo de... eu falo que é de autodestruição mesmo, no sentido de que eu fiquei de cama muito tempo, muitos anos, assim. Nessa época, a minha alergia já tinha tomado o corpo inteiro. Tinha épocas que eu dei... chama-se impetigo o negócio e é meio que... você tem a dermatite e você vai coçando tanto e vai entrando em processo de infecção. E começa a dar uma outra doença lá, que tem a ver com a infecção. Começou a dar na minha cabeça inteira, em vários pontos marrons no corpo. Eu achei que era catapora, porque ainda não tinha dado. Mas não era. Era impetigo. Começa a soltar uma água e coçar. Nisso, eu estava sentindo tanta dor... a dermatite fica vermelha e seca. Quando você começa a coçar, você coça porque a pele está seca. Você coça e ela abre. A pele abre. Sabe quando tem uma pele no dedo e já dói para danar? É como se fosse aqueles cortes em todas as partes. Então, estava cheia de parte aberta na minha pele, de não conseguir andar mesmo, de não conseguir dobrar a perna. Quando eu fui ver, a pele do meu couro cabeludo já não fechava mais. Estava saindo muita água e meu cabelo estava colando. Eu lembro direitinho, como se fosse agora: eu estava com tanto medo de ir no banheiro e tomar banho, que eu falei: ‘‘mãe, não vou’‘. E nisso tinha dois dias que eu não tomava banho e a minha mãe me pegou. ‘‘Juliana, não tem condições mais’‘. Já estava dando mau cheiro e infecção você não pode deixar ali. Vai tomar remédio e lavar isso. A minha mãe me levou. Eu fui com um pouco de dificuldade para o banheiro e ela colocou uma cadeira lá dentro do box. Eu sentei. Essa é uma das coisas que eu mais lembro da minha vida, sobre a dermatite. De auge de coisa ruim. Quando a minha mãe ligou aquele chuveiro em cima de mim, eu comecei a chorar tanto, porque estava doendo tanto... eu tinha a impressão de que eu ia passar a mão no meu cabelo e ele ia cair todo, porque a pele começa a enfraquecer, vai ficando... foi o auge ali de coisa ruim. A minha mãe me deu banho. Eu saí daquele banheiro... eu estava com infecção de segundo grau, acho que fala. E junto com essa alergia desencadeia outros processos alérgicos. Minha asma estava totalmente atacada, meu olho começa a ficar muito vermelho e começa a virar uma coisa só. Um processo infeccioso só. Eu tomava muito corticoide naquela época. Eu já estava lotada de corticoides no corpo. Naquele momento a gente via que eu tinha que sair, ir para fora para fazer algum tratamento. Então, eu fui para o Rio fazer o tratamento e descobrir o que estava rolando.
P/2 - Antes do Rio, até então em Barbacena, vocês já tinham procurado um apoio médico?
R - De dermatologista você está falando?
P/2 - Se você puder contar um pouco dessas experiências de médico ainda nesse começo, de tentar entender o que estava acontecendo.
R - Sim. Logo no início, assim, quando ela começou, minha mãe já começou a me levar no dermatologista, no alergista... só que é sempre muito difícil. O diagnóstico foi fácil para mim. Já chegou e falou que era dermatite atópica. Pode ter muita dificuldade de uma pessoa para outra. Mas não, era dermatite atópica. ‘‘Mas e aí, o que a gente vai fazer?’‘. Para mim, tinha corticoide. O corticoide, ele é assim: você toma ele por dois ou três dias e ele te melhora. Se eu tiver com corticoide, eu nunca vou ver minha pele tão boa... se bem que não, não posso falar isso, porque tem outros medicamentos que são eficazes nesse sentido. Mas eu lembro da minha pele boa quando eu tomava o corticoide. Boa, assim, de um jeito que eu nunca vi. De um jeito hidratado e tudo mais. Quando você tem dermatite atópica, é porque a sua pele é muito seca. Então, tudo o que você passar ali... é meio que um deserto. Você joga um hidratante ali e é como se fosse uma garrafinha de água no deserto. Chupa rapidinho assim. Então, tinha o corticoide e eu vivia tomando. Acabavam os sete dias do corticoide, passavam uns cinco dias e eu já ficava ruim de novo. Então, já tinha que entrar com corticoide ou então alguma pomada que é de corticoide. Então, a minha vida, foi basicamente isso. Eu ia nos médicos, corticoide. Tanto faz o médico, se era alergista, se era dermatologista... eu passei por todos lá de Barbacena. Depois a gente chegou a ir para Juiz de Fora, que é uma cidade perto e maior. Fiz tratamento lá também. Nisso, eu estava fazendo tratamento conjunto. Tratamento para a alergia e para a depressão e eu já acho os medicamentos da alergia muito complicados e já nos afetam muito. E quando você coloca ainda mais os outros medicamentos, eu me vi uma hora em que eu estava entupida de remédios. Eu fui em uma psiquiatra que me internou para fazer desintoxicação do organismo. Ela falou que nada mais fazia efeito no meu corpo porque eu estava lotada de remédios. Aí, a partir daí, vimos que não tinha mais condições. Tínhamos ido em Barbacena e Juiz de Fora, já tinha vindo em BH. Foi isso. Eu já estava com muito medicamento no ponto e ela resolveu me internar para desintoxicar mesmo o organismo. E aí eu meio que... a gente vai ficando muito debilitada, assim. É muito procedimento. Nisso, eu já tinha passado por vários procedimentos, fora esses orais da dermatite. Eu já tinha feito fototerapia – que é um procedimento em que você entra em uma cabine de luz muito forte e aquilo começa a queimar o seu corpo para ver se ajuda. Eu já tinha usado ciclosporina, que é um remédio perigoso, no sentido de atacar o fígado. Mas eu já estava em níveis de medicamentos complicados. Não tinha mais o que fazer. Já tinha ido para todos os lugares e a minha mãe falou para irmos para Belo Horizonte, que foi na época em que eu já estava com esse impetigo, assim. Já não tinha mais o que fazer e ninguém mais dava conta. Chegando em Belo Horizonte, a gente foi em uma clínica que é bem conceituada. Não sei o nome da clínica, mas é bem conceituada pelo médico, que é mais velho e tinha alguma coisa a ver com a dermatite, uma pesquisa. Eu fui lá, depois fui naquele hospital... acho que se chama Fundão, não sei se existe mais. Na época que eu fui no Fundão, me falaram que eu estava com uma infecção secundária, que tinha que cuidar, tirar a alimentação, tirar as coisas que causam alergia, tipo mofo, perfume, tudo o que tiver cheiro, cortina... eu sabia de tudo isso e eu já fazia, desde sempre. Minha mãe já sabia que não podia ter coisas com cheiro em casa, não podia lavar roupa com coisas de cheiro... e a alimentação também. Eu fiquei um ano sem tomar leite e sem comer coisas com trigo, para ver se melhorava, assim. Mas até que eu fui descobrir por mim mesma, formas de autoconhecimento mesmo, de que a minha alergia não era por questões externas e sim pelo meu psicológico. E aí toda a minha alergia foi por conta desse meu lado psicológico, que vem de lá, daquela questão do meu pai. Primeiro perdas e tudo mais e processo de escola, falha na escola e aí, nessa época, em que eu estava na depressão e em crise mesmo, que foi dos 14 aos 19, 20 anos, mais ou menos, eu ainda tentei voltar para a escola. Mas na minha cabeça, eu estava muito atrasada. Então, eu não podia ir para a escola normal. Eu precisava ir para aquela escola... antes eu não sabia o nome, mas se chama EJA – Educação de Jovens e Adultos. Eu precisava ir para essa escola, o que iria me adiantar para pegar os meus colegas, onde eu estaria na minha situação normal e poder voltar para a minha vida. Aí, com 16 anos, eu estava no EJA. Até a professora falava: ‘‘o que você está fazendo aqui no EJA com 16 anos?’‘. Tinha pessoas na minha sala com 50 e poucos anos. Aí eu falei: ‘‘não, é porque eu preciso alcançar as pessoas, os meus amigos’‘. Fiz o meu primeiro ano e quando chegou ao final, deu uma crise muito forte e eu voltei para casa, assim... ficar só em casa, só na cama.
P/2 - O que que motivou essa crise?
R - Eu acho que, às vezes, é muito difícil fazer tudo sozinha. Eu estava nesse processo da alergia, estava no processo da depressão, tentando lidar com isso sozinha. Sozinha, assim, sem amigos, porque tinha minha mãe, tinha minha irmã. Mas a minha mãe nunca entendeu muito essa situação. Para ela, assim... para ela não é uma coisa preocupante. Minha irmã era muito mais nova, então ela não entendia. E eu ainda ajudava a cuidar da minha avó, que estava muito mal lá em casa. E eu acho que as coisas foram juntando muito, assim. Em momentos eu ficava muito sobrecarregada e eu não sabia mais o que fazer, assim. Aí no primeiro ano aconteceu isso. Aí depois fiquei mais um tempo em casa e voltei para fazer o segundo ano no EJA. Antes disso, quando a professora começou a falar comigo que eu, com 16 anos, no primeiro ano do EJA e que eu tinha que sair de lá, eu tentei voltar para o colégio normal. E eu tentei ir no colégio onde estavam todos os meus colegas. O pessoal do fundamental foi todo para um colégio. Eu ainda tentei voltar. Eles estavam no segundo ano e eu começaria a fazer o primeiro. São tempos diferentes, né? No EJA é só meio ano. Em meio ano você faz um e na escola você tem que fazer o ano inteiro. Falei ‘‘eu vou voltar para o primeiro ano porque eu não aprendi nada direito no EJA. Quis fazer. Só que aquele processo de ver os meus colegas à frente de mim e eu lá atrás... eu também não tinha uma relação boa com as pessoas no sentido de que eu ficava mais na minha e elas também não gostavam de ficar muito perto, por conta da dermatite... não era uma dermatite igual agora. Agora, eu estou muito boa assim. Mas na época era uma coisa que era visível no meu corpo inteiro. Por mais que eu estivesse de manga comprida, você olhava para mim e dizia que tinha alguma coisa errada. Tipo, ‘‘ela está com alguma coisa’‘.
P/1 - Nesse período você passou por situações de rejeições? As pessoas se comportavam de alguma maneira que te afetou em relação à sua dermatite?
R - Sim. Isso acontecia no primeiro ano, que foi até esse ano que eu perdi, porque estava faltando muito. Acontecia com os meninos da minha sala. Eles não gostavam de ficar muito perto. Na educação física eu estava sempre com a blusa de moletom e eles falavam para eu tirar aquela roupa, que eu ia morrer assada. Ou então... quando eu tirava a blusa, por exemplo, a blusa debaixo era branca. Ela ficava cheia de sangue porque a minha pele estava aberta. Não tinha como. Então, aí era motivo de essas conversinhas, de ficar fazendo risinho e tudo mais. Então, eu já me isolava mesmo. Eu não queria passar por essa situação. Já estava muito difícil.
P/2 - E nem os professores ou alguém mais velho tentava entender o que estava acontecendo?
R - Não teve. Não teve assim... essa coisa é uma coisa... eu faço algumas matérias na faculdade, da licenciatura. E quando eu estou fazendo a matéria, eu penso muito na minha vida. Os professores nem tinham, assim, para nada. Nunca nem me perguntaram, nem nada. Eu lembro que no final do meu primeiro ano, eu fui conversar com a diretora do colégio. Eu fui falar que eu estava com o processo da dermatite, com depressão e não sei o quê. Ela me respondeu de uma forma péssima, no sentido de ‘‘eu não tenho nada a ver com isso. Aqui eu estou lidando com o colégio, com o grupo. A gente não lida com pessoas, individuais’‘. Isso, para mim, só foi piorando as coisas ainda mais. Eu fui me sentindo mais rejeitada. Se a gente já é rejeitada no sentido da pessoa te ver com a pele ruim e não querer ficar perto porque acha que vai pegar, quem dirá nessa questão, assim, mais pessoal. Ela nem quis saber muito. Os professores também nunca perguntaram e também nunca entraram nessa situação. Quando chegou nessa minha outra escola, quando eu fui tentar retomar o primeiro ano todo, eu comecei a ficar muito mal, porque os meus colegas eram do mesmo tipo. Essas risadinhas, essas coisas e também tinha sempre um preconceito por eu ter repetido de ano. Então, eu era mais burra. ‘‘Então, não temos contato’‘. Era uma escola particular. Uma escola de Barbacena com pessoas que realmente podem pagar aquele dinheiro. Eu não fui justamente por conta disso, porque a maioria das pessoas tinha conseguido bolsa ou tinha como pagar e eu fui para uma outra escola. Aí minha mãe falou: ‘‘vou dar um jeito e colocar ela lá, para ver se ela melhora’‘. Ela achou que era isso, porque eu fiquei fora da escola e não tinha mais os amigos. Aí, quando eu fui para lá, comecei a me sentir muito insuficiente porque eu ainda estava no primeiro ano e os meninos já estão no segundo, não tinha colegas e as pessoas continuavam rindo de mim: ‘‘eu estou aqui cheia de remédio e não sei mais o que fazer para melhorar’‘. Esse processo da dermatite é assim. Estamos o tempo todo caçando alguma coisa para nos melhorar e a gente vai em qualquer remédio. Remédio natural, remédio de farmácia... fototerapia, que você sabe que vai arregaçar toda a sua pele, mas você está lá fazendo porque você acha que tem uma esperança na vida. Sei lá, eu acho que foi meio nessa hora que as coisas foram ficando incontroláveis e o meu psicológico todo foi passando para a pele. E aí foi dando essas erupções, essa vermelhidão e, é igual eu converso com o meu psicólogo, assim: foi o jeito que eu achei para colocar as coisas para fora. O jeito que o meu corpo acha não é chorar ou falar, vem na pele. E aí, nisso, eu saí do primeiro ano, porque foi uma tentativa que não rolou. Eu comecei a me sentir muito ruim. Fiquei ainda um tempão muito ruim em casa e aí voltei para o supletivo. Fiz o segundo ano. Quando eu fiz o segundo ano, eu resolvi fazer uma prova do governo. É tipo como se fosse o ENEM, sabe? Eu esqueci o nome da prova.
P/2 - Prova Brasil? Provinha?
R - Não sei. E aí falei assim: ‘‘eu vou fazer essa prova, porque se der eu já formo, mas se não der, só falta o terceiro ano’‘. Aí fiz e eu passei na prova: ‘‘então não volto mais no supletivo, já passei’‘. Só que aí eu entrei num processo... eu não sei onde que eu estava com a cabeça, mas eu entrei em um processo de que eu queria fazer faculdade. Só que eu não tenho base para fazer o vestibular, o ENEM. Eu tinha o primeiro e o segundo ano e só. No primeiro e no segundo ano do EJA você não vê a matéria inteira da escola normal. Então, eu falei: ‘‘oh, então eu não vi nem a matéria do terceiro ano, então vou ter que dar um jeito de estudar’‘. Chega no cursinho... eu tive que começar a fazer cursinho, porque não tinha condições de passar. Fiz cursinho e eu chego lá e eu vejo que é um método de reforço e não um método de ensinar para as pessoas, no sentido de tipo... todo mundo que está ali no cursinho já passou pelo primeiro, segundo e terceiro ano. Então, você já vai reforçar as coisas, fazer exercícios, relembrar. Só que no meu caso, eu não tinha que relembrar. Eu tinha que aprender. E aí eu vi que aquele local não era o meu local. Eu teria que fazer isso sozinha. Aí eu comecei a estudar em casa e eu fiquei estudando uns três anos para... porque a minha nota era sempre baixa para passar nas coisas.
P/2 - Mas você já sabia o que queria cursar?
R - Não. Não sabia. Isso que foi uma coisa doida na minha vida. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer Biblioteconomia, aí depois no outro ano eu queria fazer Ciências Sociais. Aí no outro ano eu queria fazer Engenharia Ambiental. Aí eu falei assim: ‘‘gente, o que é que está acontecendo? Tudo está muito doido’‘.
P/1 - Mas o teatro e a música não estavam presentes na sua vida desde a infância, então?
R - A música, ela esteve por conta do meu pai, que era baterista e os meus tios, que são percussionistas. Então, assim, toda hora a gente ouvia. Meu pai ficava lá no terraço tocando, os meus tios também. A minha tia sempre gostou muito de samba, então a casa dela, lá embaixo, colocava o CD todo. Você ouvia o CD todo no dia e depois ela já colocava outro. Então, assim, essa questão rítmica para a gente sempre foi muito presente, mas na infância eu não fiz aula de música e nem nada. E ninguém também da minha casa fez. Todo mundo aprendeu, assim, sozinho.
P/1 - Mas você não cantava na infância?
R - Cantava. Eu comecei a cantar no banheiro. Tipo assim, eu gostava de cantar, de ouvir o CD e repetir. Então, eu fazia muito isso no banheiro. Ok, é uma forma de ficar feliz. Cantar e felicidade, para mim, são sinônimos. Aí, quando eu fui crescendo, com 18 anos eu entrei na aula de canto e na aula de teatro, porque eu falei: ‘‘o teatro, para mim’‘? A mulher perguntou o que eu queria com o curso no primeiro dia, o que eu esperava. Eu falei que estava indo lá porque eu estava em uma situação depressiva e que eu queria melhorar isso. A minha intenção nunca foi a de ser atriz. Nunca, jamais. ‘‘Eu não quero ser a protagonista de alguma coisa. Eu não quero ser o centro das atenções, porque eu já fui muito na minha vida, por causa da dermatite. Eu era a pessoa, assim’‘. Então, eu falei: ‘‘não, eu só quero melhorar essa fase’‘. E no canto eu fui porque eu gostava muito de cantar. Então, eu falei assim: ‘’eu vou cantar para me deixar mais feliz’‘. Justamente por estar nessa fase mais ruim, triste e tudo mais. E aí e o teatro e o canto foram ganhando uma dimensão na minha vida que eu não sei. Eu não sei até hoje, assim, como é que isso tudo cresceu. Quando eu vi, eu já tinha... quando eu estava no meu quarto ano do teatro, a minha cabeça já era outra. Eu não quero fazer teatro porque eu estou triste, eu quero fazer teatro porque eu quero realizar uma peça. Eu quero estar ali em conjunto. E foi justamente no teatro que essa minha visão de individual e grupo começou a mudar. Antes eu era muito individual. Não gostava do grupo porque ele me colocava para baixo. Eu não vejo o teatro sem o coletivo. Para mim, existem monólogos, mas por mais que você esteja em um monólogo, tem muita gente por trás ali, de tudo. Então, para mim é coletivo.
P/1 - E no teatro você, de alguma maneira, trabalhou a dermatite, a maneira como você se sentia, a reação das pessoas?
R - No teatro foi uma coisa doida. Quando eu entrei nessa escola de Barbacena de teatro, você começa a pensar, né. Você começa a virar parte de um grupo, mesmo você não querendo. É isso, teatro é grupo. Tudo começa a acontecer para você virar um grupo. As pessoas foram meio que me acolhendo. Eu fui me sentindo acolhida. Só que ninguém sabia que eu tinha dermatite no corpo, por exemplo. As pessoas viam aqui porque aqui não tem como esconder. Eu ainda usava blusa, mas nem tanto. Mas ninguém tinha visto, assim, a minha crise e tudo mais. Eu só fui conseguir mostrar ou falar alguma coisa de alergia para alguém quando eu estava no meu quarto período da faculdade, quando foi, justamente, a peça que eu fiz sobre Mariana, que chamava ‘‘A Nossa Cidade’‘ a peça. Nessa peça eu fazia uma personagem de uma menininha que morava com o avô e ela tinha que usar saia. E eu falei: ‘‘nossa, nem a pau que eu vou usar uma saia de figurino’‘. Era justamente disso que eu tinha medo. Eu não queria me mostrar para as pessoas porque eu tenho uma doença que deixa a minha pele estranha e eu não queria ser chacota de novo. Para mim, eu seria chacota. Só que aí eu entrei num processo de ter de soltar isso, de ter que parar com essa situação. Fodam-se as pessoas. E aí eu fiz. E a partir dali eu nunca mais escondi nada, assim. Nunca mais. Hoje em dia, se eu estiver com alergia, eu não vou ali pegar uma blusa para eu colocar. Isso aqui é alergia e não pega não. Mas se quiser pegar aqui...
P/2 - O que que mudou?
R - Eu acho que, primeiro, a minha relação comigo mesma, no sentido de aceitação. Acho que a principal dificuldade que eu vejo na minha vida e também vejo no pessoal do grupo da dermatite é a gente se aceitar, assim. Se aceitar com essa pele. Aceitar que não é porque a gente tem mancha e um outro tipo de funcionamento que vamos ser piores. Obviamente que isso bate diretamente com a sua autoestima sim. É um processo muito grande. Tanto é que eu só fui conseguir usar roupa curta ou mostrar coisas quando eu tinha 22 anos. Então, pensa: dos 10 aos 22 anos eu me escondi o máximo que eu podia. E você chega no teatro, o teatro foi e é uma porta incrível para a abertura. Você não pode fazer teatro se você tiver... não, minto. Não é que você não pode fazer teatro, mas você, em um momento ali, você quer dar mais e passar algumas fronteiras. Essa é uma das fronteiras que eu precisava ultrapassar para poder chegar em outros momentos da carreira que eu queria. ‘‘Então, é agora’‘. Agora, é uma oportunidade. A gente tem uma montagem só no curso inteiro e é uma montagem coletiva. Então, falei assim: ‘‘essa é a minha oportunidade de fazer isso. Então, eu vou me assumir como essa pessoa’‘. Todos os meus colegas também já sabiam como era, mas todo mundo tinha uma expectativa. ‘‘Nossa, eu nunca vi a perna dela. O braço dela, como é que é’‘? E eu falei assim: ‘‘vai ser agora’‘. E aí foi.
P/2 - Você consegue detalhar como foi?
R - A gente tem um processo em que ficamos três dias da semana ensaiando. Nesse ano era segunda, quarta e sexta e você começa todo o processo de espetáculo com o texto, vê o que você quer falar e aí começa a tentar criar as personagens. Quando a gente estava ainda fazendo alguns exercícios cênicos que todo mundo faz, para começo de processo, a gente já estava tentando colocar uns figurinos, já que a gente sabia que queria tratar sobre interior. Então, primeiro que eu já gostei muito da temática, no sentido de que eu vim do interior. Para mim estava muito próximo aquilo ali. Até que me chegou essa personagem, de ser uma menina. Uma menina mais novinha. E o pessoal do figurino falou que achavam que eu deveria usar uma saia. Aí, logo nos ensaios, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu ia arriscar mais, no sentido de sair da minha zona de conforto. Então, eu comecei a colocar short e aí eu vi o pessoal falando comigo, que eu estava colocando short. Eu fui notando que aquilo não era tão ruim como eu pensava. Eu achei que quando eu colocasse short, as pessoas iam falar: ‘‘nossa, Juliana, agora eu realmente entendo por que você está... eu acho que você devia voltar com a calça’‘. Mas ninguém falou isso. As pessoas me incentivaram, sabe? Aí comecei a vivenciar uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha passado. ‘‘Nossa, tem gente que gosta de mim do jeito que eu sou’‘. Aí eu falei: ‘‘se eu estou usando short e está todo mundo gostando, por que que eu não vou usar a saia? Ou então, por que agora eu vou retroceder e usar só calça’‘? E aí foi isso, assim. Eu fui me sentindo tão bem, tão leve, porque foram 12 anos meio que presa. Na minha infância eu não usava calça nunca. Era uma coisa que até minha mãe me fala: ‘‘Juliana, não sei se você lembra, mas tudo o que era para comprar para você, você falava assim: ‘’compra vestido, compra short, compra saia'’’. Nunca era compra calça ou compra blusa de frio’‘. Tanto é que eu tenho várias fotos minhas em que eu estou assim, de cropped, eu estou meio que com um sutiã. Não sei o que é aquilo. Estou com um short que parece uma calcinha. Gente, como é que é diferente, assim... e, realmente, quando eu pego as minhas fotos, em praticamente todas eu estou com roupinha bem curta. Aí chegou os 12 anos e me transformo em outra coisa. Faltava eu colocar uma burca, ali, assim, porque, sério, eu queria me tapar o tempo inteiro. Tapar tudo, total. E aí agora começo a voltar a... não talvez a aquele processo de criança, mas começar a entrar em uma outra fase minha, assim. E aí eu acho que o teatro faz toda a diferença para a minha vida, como o canto também, que eu começo a reconhecer a minha voz e eu começo a reconhecer que a minha voz tem tudo a ver com o meu externo, como eu vejo o mundo e tanto é que agora eu uso o canto como forma de expressão mesmo, artística. E é o que eu procuro fazer na minha trajetória. Na minha trajetória na faculdade é exatamente isso que eu procuro fazer. Trabalhar com música e com a minha voz, sabe? Não ter vergonha dela. Eu acho que já tive tanta vergonha do meu corpo que eu fiquei assim: ‘‘não, a voz não’‘. Eu gosto muito de cantar. Eu não quero ter vergonha da minha voz. Eu quero... por mais que às vezes eu tenha muita vergonha de mostrar, que seja um processo em que eu pego aquela coisa lá de trás, de exposição, de medo de exposição, mas é uma coisa assim: não, eu não tenho vergonha nenhuma da minha voz. Nenhuma. E aí eu fui estudar o canto, paralelamente ao teatro e aí entrei na faculdade.
P/1 - Você falou de todas essas rupturas dolorosas na sua vida. Como foi a ruptura de sair de Barbacena e vir para Belo Horizonte?
P/2 - Pode ser antes ainda? O momento da escolha desse curso que você faz. Como que foi esse encontro? Pode já emendar com essa vinda, que é super importante também.
R - Na verdade, acho que eu não escolhi o curso. Escolheram para mim, no sentido que eu estava no quarto ano de curso livre de teatro em Barbacena e dois colegas meus falaram para fazermos a prova da UFMG, para teatro. Eu falei que jamais faria isso. Num medo surreal. Primeiro: vou ter que me expor. Eu não quero me expor além desse local, dessa escola. Eu quero me expor aqui. Só que aí eu já estava naquele processo todo de três anos estudando, não sabia o que fazer, a minha nota não dava e não tinha como eu recorrer ao cursinho... eu falei: ‘‘gente, agora está danado assim, eu não sei o que fazer mais’‘. Aí eu falei assim: ‘‘acho que eu vou com os meninos’‘. Era a Carol, o Gigio e eu. A gente falou assim, que íamos fazer as nossas inscrições. Nisso, eu estava indo muito no bonde, no sentido de que eu estava com tanto medo, que praticamente eles que estavam fazendo tudo para mim e me colocando para frente: ‘‘vai, Juliana. Sua cena, cria a sua cena’‘. Aí, o que que eu fiz: nesse ano de vestibular eu não precisaria decorar um texto pronto. Eu poderia fazer o meu próprio texto. Eu já tinha uma cena do teatro, então eu vou pegar a cena e vou reapresentar. Não vou ter nenhum trabalho a mais de decorar ou alguma coisa assim. E quando a gente foi fazer a prova, o Gigio desistiu. Aí agora eu falei: ‘‘ai, meu Deus, sozinha eu não vou’‘. Se a outra menina não fosse, nossa, jamais. Eu nunca pensei em fazer teatro como curso superior porque era o que eu queria da minha vida. Nunca. Eu poderia fazer teatro ali porque eu me sentia muito bem e acolhida naquele lugar, mas eu falei: ‘‘não, nada mais do que isso’‘. Só que aí a gente foi. Fomos nós duas fazer a prova. Chegamos lá: tinha prova de texto, canto, dança, movimento e chegou o primeiro dia e eu me lasquei na prova, total. Eu falei: ‘‘nossa, eu não volto nisso aqui nunca mais, Carol. Eu não vou voltar mais não porque está danado’‘.
P/2 - Como foi?
R - Foi assim: no primeiro dia eram os movimentos. Eu tinha que fazer uma partitura de movimentos. Eles numeravam a gente e sorteavam. Bater, arrastar... verbos assim. Eles colocavam, na hora, dez movimentos. Tinha que decorar tudo na hora. A gente ia para outra sala, nos preparávamos e ia um por um. Aí chegava lá e tinha que fazer esses movimentos para a banca. Eu já não lembrava mais de nenhum movimento. Eu falei assim: eu só lembrava de dois, que um era lento, outro rápido e outro era uma coisa de pesado. Eu falei: ‘‘Nossa senhora, vou fazer qualquer coisa’‘. Aí eu fiz lá o que eu lembrava e acabei. Nisso eu falei: ‘‘já era, ferrou’‘, porque eu fiz três movimentos e eram 10. Falei: ‘‘já era, perdi e é isso mesmo’‘. E a outra prova desse dia era improvisação, em que você improvisava com outra pessoa. Era prova em dupla, sem fala. Tirávamos alguma coisa de uma caixa, que não existe. Uma caixa que está no chão e da qual você tira alguma coisa. Nós tiramos um bebê. Essa pessoa que fez comigo essa prova, é o Felipe, que te mostrei na foto. É um dos meninos que veio do interior e virou o meu melhor amigo aqui. Aí tirei o bebê e a gente não pode falar. O comando é ‘‘esse objeto vai, em algum momento, viver e em algum momento vai morrer’‘. Vive e morre dentro da improvisação. Quando ele vivia, a gente achava que ele estava chorando muito. A gente não sabia o que fazer com aquele neném, jogávamos para o ar e coisas assim. E depois a hora que ele morre, é quando a gente devolve ele para... a caixa vira uma outra coisa. Um bercinho, onde a gente coloca ele para dormir e tudo mais. Nessa eu achei que foi bom, mas eu falei: ‘‘nossa, já fui uma droga no movimento. Não vou voltar mais’‘. A Caroline falou que foi ótimo. Eu falei que não queria nem voltar. Já estava assim. Aí ela falou: ‘‘não, vamos voltar sim’‘. Era no outro dia a outra prova. Aí, no dia que eu fui ver a minha nota, eu vi que essa da improvisação foi muito ruim. Eu achava que tinha sido ótimo. No outro dia eu voltei. Era uma prova de atuação. Você tinha que fazer a sua cena para a banca. Tinha uma prova de canto, e nós cantamos uma música que se chama ‘‘Puro Teatro’‘. Cantamos para a banca.
P/2 - Você pode cantar um pouquinho como é essa música?
R - Nossa Senhora, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro agora.
P/2 - Nem um pedacinho? Só um pedacinho, assim.
R - Não lembro mesmo, quer ver? Não lembro da letra, que é em espanhol. Aí eu sou bem jegue para essas coisas, mas depois eu posso olhar para você. E tinha alguma outra coisa, alguma outra prova mais de boa, assim. Aí fui lá, fiz minha cena. Nossa, quando eu fiz minha cena, nunca me senti tão de boa. Eu falei ‘‘nossa, nessa cena não vai dar certo’‘. Eu já estava pensando que na cena, mais do que em todas as outras, vai dar errado. Mas aí eu fui lá e fiz. Foi bem bacana. Na hora do canto eu também já estava mais segura. Como eu fazia aula de canto, as pessoas chegam lá e nem todo mundo sabe de canto. Eu, por exemplo, não sabia de movimento. Tem gente que chega lá super formado na dança. E aí eu falei que eu não precisava me preocupar tanto com a prova do canto. Aí fiz e depois voltei para casa. Eu estava comigo que eu não tinha passado, mas ainda tinha uma expectativa, assim, total. Aí eu vi que eu passei. Aí começou todo um processo de tipo: ‘‘mãe, passei no vestibular, para o teatro’‘, que não é uma coisa bem aceita.
P/2 - Sua mãe não sabia que você estava fazendo para teatro.
R - Não, ela sabia que eu tinha feito o vestibular. Mas ninguém da família da minha mãe tinha feito faculdade. Então, para você ver como era isso. A visão da maioria das pessoas, naquela época e hoje em dia ainda, é que quem faz teatro são pessoas vagabundas que não estudam, que só ficam fumando, bebendo e não tem nada para fazer na vida. E aí minha mãe também não era aquela pessoa de falar que eu não ia porque eram vagabundos, mas... ‘‘não é isso o que eu queria para você, que eu esperava’‘. Mas também não tinha outra coisa. ‘‘Eu esperava medicina’‘. Para mim, obviamente, parece que tem um padrão. ‘‘ meu filho tem que fazer medicina, ou direito, ou engenharia, porque vai dar dinheiro’‘. Aí comecei todo o meu processo de tentar convencer a minha mãe de me deixar vir, porque eu precisar da ajuda dela aqui, obviamente e eu ia sair da minha cidade. Nunca tinha morado sem minha mãe e sem minha irmã. Aí vim morar aqui sozinha. Até que eu consegui convencer ela, assim. A minha amiga passou também, só que para o primeiro semestre. Eu tinha passado para o segundo. Então, eu fiquei seis meses tentando convencer a minha mãe, até eu vir. Aí deu tudo certo.
P/2 - Qual foi o argumento?
R - O argumento foi que depois que eu comecei a prestar atenção na minha vida e falar: ‘‘gente, o que que eu estou fazendo querendo fazer Biblioteconomia, Ciências Sociais?’‘. Ciências Sociais eu até faria na vida, mas Biblioteconomia, Ciências Sociais, engenharia? Sendo que o que me faz mais feliz e me tirou de um momento tão péssimo e ainda me tira, no sentido de que estar fazendo teatro e cantando agora... eu não me vejo em nenhum momento fora disso agora. Nunca. Se me tirar disso, eu acho que eu volto para aquela situação de quando a vida não faz sentido sem algumas coisas? Eu acho que é isso: não faz sentido.
P/2 - Aí você convenceu a sua mãe.
R - ‘‘Mãe, o teatro para mim é muito importante e você mesma viu que ele me ajudou muito nessa situação. E sempre foi o meu sonho fazer uma faculdade’‘. Meu pai não fez faculdade, minha mãe não fez faculdade... eu falei assim: ‘‘gente, eu quero’‘. E eu também tinha essa coisa minha, de querer ser responsável por mim. Eu quero poder me manter. Não quero depender de outras pessoas. E minha vida inteira, minha adolescência toda eu dependi muito. Por mais que eu não quisesse, eu dependi muito da minha mãe e da minha irmã e das minhas tias, porque elas precisaram cuidar de mim. Então, eu falei: ‘‘agora essa é uma oportunidade que eu não posso perder’‘. E eu também sabia disso. Eu falei que não ia dar conta de passar num vestibular normal. Eu também, assim, não queria ficar naquela cidade. Ir lá para o centro, trabalhar em uma coisa em que eu ficaria lá o dia, das 8h às 20h só por fazer isso, só para conseguir o meu salário. Para mim, assim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido escolher isso do que escolher uma coisa que eu mais gosto, por mais que não seja valorizado aqui, né? Porque a gente ganha muito pouco, tem poucas oportunidades... mas não me importa, sabe? Eu prefiro muito mais fazer aqui e passar o meu perrengue total para conseguir o dinheiro no final do mês do que estar trabalhando num local desses, assim. Aí a minha mãe meio que falou... ela nunca falou assim: ‘‘ok, então vamos lá, eu vou te levar, minha filha’‘. Não. Ela só foi indo. Eu meio que fui... falei: ‘‘mãe, é isso. Eu já estou indo, na verdade. Não importa muito o que vocês acham’‘. Minhas tias também não queriam que eu fosse, porque, tipo assim: ‘‘A Juliana é doente. Ela não tem muita estabilidade psicológica e tudo mais. Todo mundo com muito medo. Então, eu falei assim: ‘‘oh, eu só estou indo’‘. E quando eu vim... também, tipo, no começo eu me ferrei muito. Muito.
P/1 - Como foi a sua primeira noite em Belo Horizonte, quando você já chegou, mudou? Como é que foi?
R - Eu morava há três ruas daqui, nesse mesmo bairro. Primeiro foi aquele processo de achar uma casa. Aí achei a casa e aí trouxe as minhas coisas. Quando eu vim, minha mãe, minha irmã e minha tia vieram comigo. E, na verdade, eu não fiquei muito péssima nos primeiros dias não. Como era uma nova rotina, eu estava super eufórica com aquilo tudo. Eu tinha que resolver as minhas coisas sozinhas e tive que começar a lidar com tudo. Tem uma casa para arrumar, lixo para tirar, tem de fazer uma comida para você senão você não vai comer. Não tem mãe ali para fazer tudo. Para você chegar na sua faculdade, você tem que levantar da sua cama e ir tomar banho. Você tem que ir até lá. Se você não for lá ninguém vai te levar. E eu tinha muito isso. Quando eu estava na cama, não queria ir no médico, não queria ir tomar banho. Elas praticamente me levavam à força. Então, eu estava me readaptando a muitas coisas. Só que aí quando chegou no segundo, terceiro mês, eu ainda voltava. A minha cidade é a duas horas e meia, mais ou menos, daqui. Aí quando estava chegando no terceiro mês, já tinha um mês que eu não as via e aí elas vieram aqui para a gente ir passear, para irmos no shopping, assim. Elas nunca tinham ido num shopping grande e tudo mais. Aí a gente foi no shopping e quando a gente voltou, elas já tinham que pegar a estrada e tudo mais, me deu um aperto no peito, eu falei que queria ir embora com elas, que eu queria voltar. São as três das quatro mulheres que eu mais amo na vida. A outra tinha ficado lá em Barbacena. As três pessoas que, assim... É com elas, são elas a minha vida e a base de tudo. E aí minha mãe foi se despedir e já estava com o olho cheio de lágrimas. Minha mãe é muito emotiva. Eu e minha tia sempre nos demos muito certo desde sempre. Só não deu certo quando a minha mãe rompeu os laços. E minha irmã, né? Eu e ela, assim, está para nascer irmãs que se dão melhor do que a gente. É sem condições. A gente briga bastante e tudo mais, mas nossa, a gente é muito unida. Tanto é que ela faz teatro hoje também. Aí quando a minha mãe foi embora, comecei uma choradeira no meu quarto, que eu... ‘‘Meu Deus, que droga, eu não quero mais’‘. Só que aí eu fui começando a entender essa situação. Até hoje, assim, eu fico um pouco longe delas e é muito difícil, mas é a vida, assim. É meio que ir desapegando e tudo mais.
P/1 - E quando você começou a compor?
P/2 - O que que mudou?
R - Eu acho que, primeiro, a minha relação comigo mesma, no sentido de aceitação. Acho que a principal dificuldade que eu vejo na minha vida e também vejo no pessoal do grupo da dermatite é a gente se aceitar, assim. Se aceitar com essa pele. Aceitar que não é porque a gente tem mancha e um outro tipo de funcionamento que vamos ser piores. Obviamente que isso bate diretamente com a sua autoestima sim. É um processo muito grande. Tanto é que eu só fui conseguir usar roupa curta ou mostrar coisas quando eu tinha 22 anos. Então, pensa: dos 10 aos 22 anos eu me escondi o máximo que eu podia. E você chega no teatro, o teatro foi e é uma porta incrível para a abertura. Você não pode fazer teatro se você tiver... não, minto. Não é que você não pode fazer teatro, mas você, em um momento ali, você quer dar mais e passar algumas fronteiras. Essa é uma das fronteiras que eu precisava ultrapassar para poder chegar em outros momentos da carreira que eu queria. ‘‘Então, é agora’‘. Agora, é uma oportunidade. A gente tem uma montagem só no curso inteiro e é uma montagem coletiva.
P/2 - Você consegue detalhar como foi? Então, falei assim: ‘‘essa é a minha oportunidade de fazer isso. Então, eu vou me assumir como essa pessoa’‘. Todos os meus colegas também já sabiam como era, mas todo mundo tinha uma expectativa. ‘‘Nossa, eu nunca vi a perna dela. O braço dela, como é que é’‘? E eu falei assim: ‘‘vai ser agora’‘. E aí foi.
R - A gente tem um processo em que ficamos três dias da semana ensaiando. Nesse ano era segunda, quarta e sexta e você começa todo o processo de espetáculo com o texto, vê o que você quer falar e aí começa a tentar criar as personagens. Quando a gente estava ainda fazendo alguns exercícios cênicos que todo mundo faz, para começo de processo, a gente já estava tentando colocar uns figurinos, já que a gente sabia que queria tratar sobre interior. Então, primeiro que eu já gostei muito da temática, no sentido de que eu vim do interior. Para mim estava muito próximo aquilo ali. Até que me chegou essa personagem, de ser uma menina. Uma menina mais novinha. E o pessoal do figurino falou que achavam que eu deveria usar uma saia. Aí, logo nos ensaios, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu ia arriscar mais, no sentido de sair da minha zona de conforto. Então, eu comecei a colocar short e aí eu vi o pessoal falando comigo, que eu estava colocando short. Eu fui notando que aquilo não era tão ruim como eu pensava. Eu achei que quando eu colocasse short, as pessoas iam falar: ‘‘nossa, Juliana, agora eu realmente entendo por que você está... eu acho que você devia voltar com a calça’‘. Mas ninguém falou isso. As pessoas me incentivaram, sabe? Aí comecei a vivenciar uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha passado. ‘‘Nossa, tem gente que gosta de mim do jeito que eu sou’‘. Aí eu falei: ‘‘se eu estou usando short e está todo mundo gostando, por que que eu não vou usar a saia? Ou então, por que agora eu vou retroceder e usar só calça’‘? E aí foi isso, assim. Eu fui me sentindo tão bem, tão leve, porque foram 12 anos meio que presa. Na minha infância eu não usava calça nunca. Era uma coisa que até minha mãe me fala: ‘‘Juliana, não sei se você lembra, mas tudo o que era para comprar para você, você falava assim: 'compra vestido, compra short, compra saia'. Nunca era compra calça ou compra blusa de frio’‘. Tanto é que eu tenho várias fotos minhas em que eu estou assim, de cropped, eu estou meio que com um sutiã. Não sei o que é aquilo. Estou com um short que parece uma calcinha. Gente, como é que é diferente, assim... e, realmente, quando eu pego as minhas fotos, em praticamente todas eu estou com roupinha bem curta. Aí chegou os 12 anos e me transformo em outra coisa. Faltava eu colocar uma burca, porque, sério, eu queria me tapar o tempo inteiro. Tapar tudo, total. Agora, começo a voltar talvez, àquele processo de criança, mas começar a entrar em uma outra fase minha. E aí eu acho que o teatro faz toda a diferença para a minha vida, como o canto também, que eu começo a reconhecer a minha voz e eu começo a reconhecer que a minha voz tem tudo a ver com o meu externo, como eu vejo o mundo e tanto é que agora eu uso o canto como forma de expressão mesmo, artística. E é o que eu procuro fazer na minha trajetória. Na minha trajetória na faculdade é exatamente isso que eu procuro fazer. Trabalhar com música e com a minha voz, sabe? Não ter vergonha dela. Eu acho que já tive tanta vergonha do meu corpo que eu fiquei assim: ‘‘não, a voz não’‘. Eu gosto muito de cantar. Eu não quero ter vergonha da minha voz. Eu quero... por mais que às vezes eu tenha muita vergonha de mostrar, que seja um processo em que eu pego aquela coisa lá de trás, de exposição, de medo de exposição, mas é uma coisa assim: não, eu não tenho vergonha nenhuma da minha voz. Nenhuma. E aí eu fui estudar o canto, paralelamente ao teatro e aí entrei na faculdade.
P/1 - Você falou de todas essas rupturas dolorosas na sua vida. Como foi a ruptura de sair de Barbacena e vir para Belo Horizonte?
P/2 - Pode ser antes ainda? O momento da escolha desse curso que você faz. Como que foi esse encontro? Pode já emendar com essa vinda, que é super importante também.
R - Na verdade, acho que eu não escolhi o curso. Escolheram para mim, no sentido que eu estava no quarto ano de curso livre de teatro em Barbacena e dois colegas meus falaram para fazermos a prova da UFMG, para teatro. Eu falei que jamais faria isso. Num medo surreal. Primeiro: vou ter que me expor. Eu não quero me expor além desse local, dessa escola. Eu quero me expor aqui. Só que aí eu já estava naquele processo todo de três anos estudando, não sabia o que fazer, a minha nota não dava e não tinha como eu recorrer ao cursinho... eu falei: ‘‘gente, agora está danado assim, eu não sei o que fazer mais’‘. Aí eu falei assim: ‘‘acho que eu vou com os meninos’‘. Era a Carol, o Gigio e eu. A gente falou assim, que íamos fazer as nossas inscrições. Nisso, eu estava indo muito no bonde, no sentido de que eu estava com tanto medo, que praticamente eles que estavam fazendo tudo para mim e me colocando para frente: ‘‘vai, Juliana. Sua cena, cria a sua cena’‘. Aí, o que que eu fiz: nesse ano de vestibular eu não precisaria decorar um texto pronto. Eu poderia fazer o meu próprio texto. Eu já tinha uma cena do teatro, então eu vou pegar a cena e vou reapresentar. Não vou ter nenhum trabalho a mais de decorar ou alguma coisa assim. E quando a gente foi fazer a prova, o Gigio desistiu. Aí agora eu falei: ‘‘ai, meu Deus, sozinha eu não vou’‘. Se a outra menina não fosse, nossa, jamais. Eu nunca pensei em fazer teatro como curso superior porque era o que eu queria da minha vida. Nunca. Eu poderia fazer teatro ali porque eu me sentia muito bem e acolhida naquele lugar, mas eu falei: ‘‘não, nada mais do que isso’‘. Só que aí a gente foi. Fomos nós duas fazer a prova. Chegamos lá: tinha prova de texto, canto, dança, movimento e chegou o primeiro dia e eu me lasquei na prova, total. Eu falei: ‘‘nossa, eu não volto nisso aqui nunca mais, Carol. Eu não vou voltar mais não porque está danado’‘.
P/2 - Como foi?
R - Foi assim: no primeiro dia eram os movimentos. Eu tinha que fazer uma partitura de movimentos. Eles numeravam a gente e sorteavam. Bater, arrastar... verbos assim. Eles colocavam, na hora, dez movimentos. Tinha que decorar tudo na hora. A gente ia para outra sala, nos preparávamos e ia um por um. Aí chegava lá e tinha que fazer esses movimentos para a banca. Eu já não lembrava mais de nenhum movimento. Eu falei assim: eu só lembrava de dois, que um era lento, outro rápido e outro era uma coisa de pesado. Eu falei: ‘‘Nossa senhora, vou fazer qualquer coisa’‘. Aí eu fiz lá o que eu lembrava e acabei. Nisso eu falei: ‘‘já era, ferrou’‘, porque eu fiz três movimentos e eram 10. Falei: ‘‘já era, perdi e é isso mesmo’‘. E a outra prova desse dia era improvisação, em que você improvisava com outra pessoa. Era prova em dupla, sem fala. Tirávamos alguma coisa de uma caixa, que não existe. Uma caixa que está no chão e da qual você tira alguma coisa. Nós tiramos um bebê. Essa pessoa que fez comigo essa prova, é o Felipe, que te mostrei na foto. É um dos meninos que veio do interior e virou o meu melhor amigo aqui. Aí tirei o bebê e a gente não pode falar. O comando é ‘‘esse objeto vai, em algum momento, viver e em algum momento vai morrer’‘. Vive e morre dentro da improvisação. Quando ele vivia, a gente achava que ele estava chorando muito. A gente não sabia o que fazer com aquele neném, jogávamos para o ar e coisas assim. E depois a hora que ele morre, é quando a gente devolve ele para... a caixa vira uma outra coisa. Um bercinho, onde a gente coloca ele para dormir e tudo mais. Nessa eu achei que foi bom, mas eu falei: ‘‘nossa, já fui uma droga no movimento. Não vou voltar mais’‘. A Caroline falou que foi ótimo. Eu falei que não queria nem voltar. Já estava assim. Aí ela falou: ‘‘não, vamos voltar sim’‘. Era no outro dia a outra prova. Aí, no dia que eu fui ver a minha nota, eu vi que essa da improvisação foi muito ruim. Eu achava que tinha sido ótimo. No outro dia eu voltei. Era uma prova de atuação. Você tinha que fazer a sua cena para a banca. Tinha uma prova de canto, e nós cantamos uma música que se chama ‘‘Puro Teatro’‘. Cantamos para a banca.
P/2 - Você pode cantar um pouquinho como é essa música?
R - Nossa Senhora, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro agora.
P/2 - Nem um pedacinho? Só um pedacinho, assim.
R - Não lembro mesmo, quer ver? Não lembro da letra, que é em espanhol. Aí eu sou bem jegue para essas coisas, mas depois eu posso olhar para você. E tinha alguma outra coisa, alguma outra prova mais de boa, assim. Aí fui lá, fiz minha cena. Nossa, quando eu fiz minha cena, nunca me senti tão de boa. Eu falei ‘‘nossa, nessa cena não vai dar certo’‘. Eu já estava pensando que na cena, mais do que em todas as outras, vai dar errado. Mas aí eu fui lá e fiz. Foi bem bacana. Na hora do canto eu também já estava mais segura. Como eu fazia aula de canto, as pessoas chegam lá e nem todo mundo sabe de canto. Eu, por exemplo, não sabia de movimento. Tem gente que chega lá super formado na dança. E aí eu falei que eu não precisava me preocupar tanto com a prova do canto. Aí fiz e depois voltei para casa. Eu estava comigo que eu não tinha passado, mas ainda tinha uma expectativa, assim, total. Aí eu vi que eu passei. Aí começou todo um processo de – ‘‘mãe, passei no vestibular, para o teatro’‘, que não é uma coisa bem aceita.
P/2 - Sua mãe não sabia que você estava fazendo para teatro.
R - Não, ela sabia que eu tinha feito o vestibular. Mas ninguém da família da minha mãe tinha feito faculdade. Então, para você ver como era isso. A visão da maioria das pessoas, naquela época e hoje em dia ainda, é que quem faz teatro são pessoas vagabundas que não estudam, que só ficam fumando, bebendo e não tem nada para fazer na vida. E aí minha mãe também não era aquela pessoa de falar que eu não ia porque eram vagabundos, mas... ‘‘não é isso o que eu queria para você, que eu esperava’‘. Mas também não tinha outra coisa. ‘‘Eu esperava medicina’‘. Para mim, obviamente, parece que tem um padrão. ‘‘ meu filho tem que fazer medicina, ou direito, ou engenharia, porque vai dar dinheiro’‘. Aí comecei todo o meu processo de tentar convencer a minha mãe de me deixar vir, porque eu precisar da ajuda dela aqui, obviamente e eu ia sair da minha cidade. Nunca tinha morado sem minha mãe e sem minha irmã. Aí vim morar aqui sozinha. Até que eu consegui convencer ela, assim. A minha amiga passou também, só que para o primeiro semestre. Eu tinha passado para o segundo. Então, eu fiquei seis meses tentando convencer a minha mãe, até eu vir. Aí deu tudo certo.
P/2 - Qual foi o argumento?
R - O argumento foi que depois que eu comecei a prestar atenção na minha vida e falar: ‘‘gente, o que que eu estou fazendo querendo fazer biblioteconomia, ciências sociais’‘? Ciências Sociais eu até faria na vida, mas biblioteconomia, ciências sociais, engenharia? Sendo que o que me faz mais feliz e me tirou de um momento tão péssimo e ainda me tira, no sentido de que estar fazendo teatro e cantando agora... eu não me vejo em nenhum momento fora disso agora. Nunca. Se me tirar disso, eu acho que eu volto para aquela situação de quando a vida não faz sentido sem algumas coisas? Eu acho que é isso: não faz sentido.
P/2 - Aí você convenceu a sua mãe.
R - ‘‘Mãe, o teatro para mim é muito importante e você mesma viu que ele me ajudou muito nessa situação. E sempre foi o meu sonho fazer uma faculdade’‘. Meu pai não fez faculdade, minha mãe não fez faculdade... eu falei assim: ‘‘gente, eu quero’‘. E eu também tinha essa coisa minha, de querer ser responsável por mim. Eu quero poder me manter. Não quero depender de outras pessoas. E minha vida inteira, minha adolescência toda eu dependi muito. Por mais que eu não quisesse, eu dependi muito da minha mãe e da minha irmã e das minhas tias, porque elas precisaram cuidar de mim. Então, eu falei: ‘‘agora essa é uma oportunidade que eu não posso perder’‘. E eu também sabia disso. Eu falei que não ia dar conta de passar num vestibular normal. Eu também, assim, não queria ficar naquela cidade. Ir lá para o centro, trabalhar em uma coisa em que eu ficaria lá o dia, das 8h às 20h só por fazer isso, só para conseguir o meu salário. Para mim, assim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido escolher isso do que escolher uma coisa que eu mais gosto, por mais que não seja valorizado aqui, né? Porque a gente ganha muito pouco, tem poucas oportunidades... Mas não me importa. Eu prefiro muito mais fazer aqui e passar o meu perrengue total para conseguir o dinheiro no final do mês do que estar trabalhando num local desses, assim. Aí a minha mãe meio que falou... ela nunca falou assim: ‘‘ok, então vamos lá, eu vou te levar, minha filha’‘. Não. Ela só foi indo. Eu meio que fui... falei: ‘‘mãe, é isso. Eu já estou indo, na verdade. Não importa muito o que vocês acham’‘. Minhas tias também não queriam que eu fosse, porque, tipo assim: ‘‘A Juliana é doente. Ela não tem muita estabilidade psicológica e tudo mais. Todo mundo com muito medo. Então, eu falei assim: ‘‘oh, eu só estou indo’‘. E quando eu vim... também, tipo, no começo eu me ferrei muito. Muito.
P/1 - Como foi a sua primeira noite em Belo Horizonte, quando você já chegou, mudou? Como é que foi?
R - Foi, justamente, para esse espetáculo de Mariana. Nesse espetáculo aconteceram muitas coisas. Foi essa coisa de querer me mostrar para o mundo no sentido da pele mesmo, mas eu falei: ‘‘cara, eu canto e essa é a minha pesquisa na faculdade. Então, vamos fazer alguma coisa de canto, pelo amor de Deus’‘. Não que eu não tivesse feito ainda, mas eu falei assim: eu quero muito trabalhar com sonoplastia de espetáculo, então é isso. Eu não quero sair dessa faculdade sem pelo menos ter levado uma proposta de cena com música. Aí eu me juntei com esse meu amigo, o Felipe, e a gente começou a compor essa música. Um dia eu estava na minha casa – já morava em outro local – e comecei a fazer a harmonia da música e aí rolou. A gente levou a proposta, o professor gostou muito e aí começou a acontecer, assim. Não que eu seja a super compositora, porque eu não tenho muitas coisas. Para mim é muito difícil externalizar as coisas que estão dentro de mim. Para mim é muito mais fácil, se você me der uma música, eu cantar ela para você. Agora, escrever coisas pessoais e colocar uma música ali já é, assim... é como se fosse uma exposição, daquela que eu tento correr o tempo inteiro e agora, com o teatro, estou tentando tirar isso de dentro de mim, para tentar me expor totalmente.
P/1 - E dessa música você lembra um trechinho para cantar para a gente? Essa de Mariana?
R - Lembro. Eu precisaria do violão. Depois eu posso pegar.
P/1 - Então, vamos deixar isso para o final. Quer falar do grupo do Facebook já?
P/2 - Na verdade, da dermatite ainda também tinha uma outra pergunta. Da dermatite – e vamos falar do Facebook também, mas antes eu queria explorar um pouco os momentos de crise que você teve, que você falou que chegou até a ficar acamada. Se você pudesse descrever um pouco, se for possível, Ju, esses momentos de ficar acamada, quanto tempo durou, o que você fazia para passar o tempo, o que passava pela sua cabeça, qual era o papel da sua mãe ali?
R - Bom, primeiro, quando eu comecei a ficar assim, mais... teve um ponto na minha vida quando eu estava em crise de que eu só estava na cama e que eu entendia que aquele local, aquele quarto, eram a minha vida. Então, tipo, quando eu ia na cozinha ou em alguma coisa, mas o meu quarto era o meu porto-seguro, a minha proteção. E o que eu tinha para fazer ali? Eu ficava no computador vendo as pessoas cantarem, o tempo todo. Eu não sou católica, mas eu tenho uma compulsão pelos corais gospels americanos. Até hoje. Hoje eu acordei e já vi várias coisas. Todo dia, se eu não ouço uma música dessas, a minha vida não faz sentido nenhum. E então, eu fui. Aquilo ali, por mais que eu não estivesse analisando a voz deles, aqui tem um drive, aqui não sei o que, eu estava treinando o meu ouvido ali, o tempo inteiro. Então, aquilo ali era ótimo para mim. E eu também tinha muitos livros, então eu ficava lendo bastante. Eram as únicas coisas que eu tinha para fazer. Não gostava de ver televisão nem nada. Via muito filme.
P/1 - Você não tinha contato com amigos, mesmo pelas redes sociais?
R - Os meus amigos sumiram nessa hora. Nessa hora que eu estava ruim, até as minhas amigas mais amigas sumiram, total. Eu não conversava com elas. Elas não iam me visitar. A gente já voltou a ter contato, mas é uma coisa que eu nunca cheguei para elas e falei: ‘‘olha, na época que eu estava ruim, vocês nem ligaram, vocês nem foram me visitar ou mandaram mensagem. Nada’‘. Mas essa é uma coisa que já passou, sabe? O que me importa mais é a nossa relação agora, assim, como ela se dá. Mas na época eu não tinha ninguém mesmo. Minha irmã era muito mais nova do que eu, então a gente não tinha assunto em comum. Eu jogava muito no computador. Adorava jogar, porque além dessa coisa de ficar jogando, tem uma parte bacana do jogo que é fazer a social. Tem jogo que você consegue conversar com as outras pessoas. Então, eram os meus amigos, assim. Aí foi isso.
P/2 - Em que momento você percebeu que não era a única portadora de dermatite atópica?
R - Quando eu resolvi criar o grupo.
P/2 - Que grupo?
R - O grupo de dermatite atópica do Facebook, que eu que criei. Por que que eu criei? Eu estava um dia no banheiro, mal. Eu falei assim: ‘‘ai, meu Deus, eu já não aguento mais, não tem ninguém nessa cidade que tem esse negócio’‘. Não que eu conhecesse. ‘‘Mas não é possível. Se eu gosto tanto de ficar no computador e eu acho que tem muitas pessoas que ficam no computador, então eu vou achar outras pessoas nessa rede. Então, eu vou criar um grupo no Facebook para a gente se ajudar’‘, porque eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Minha mãe, por mais que ela esteja ali, por mais que a minha irmã esteja ali, minhas tias, elas não sabem o que que é o negócio ou o que é passar... às vezes elas acham que é bobeira, que está fazendo drama, que não está doendo... então eu falei assim: ‘‘eu vou criar um grupo’‘. Aí eu falei assim: ‘‘nossa, imagina se a gente consegue dez pessoas para conversar? Vai ser muito bom’‘. E nisso eu comecei a caçar pessoas no Facebook que tinham dermatite atópica, tipo, sei lá. Eu colocava dermatite atópica. Aí tinha uma pessoa que curtiu alguma coisa sobre dermatite atópica e eu ia atrás dessa pessoa. ‘‘Moço, você tem dermatite atópica? Vamos conversar’‘? Aí depois ia em outras e em outras... e aí a gente fez um grupo. Mas era um grupo pequeno, assim, no começo. E aí a gente conversava, falava de remédios, falava o que está dando certo e o que não está, o que se poderia fazer além do que já foi feito, que se fez tudo, em qual médico estão indo... enfim. Aí o grupo foi crescendo, assim. Eu não precisava mais ir atrás de ninguém. As pessoas estavam indo atrás do grupo e hoje são 15 mil pessoas. São muitas e eu fiquei assim: ‘‘eu só queria ter dez pessoas amigas para conversar’‘. E quando falei dez, pensei que dez já seria muito, porque eu nunca tive convívio com dez amigos. Então, tem que ser um pouco menos. E eu não sei porque eu falei assim... olha, eu já fui em tanto médico, já fui em tanto trem, já usei tanta coisa, que se eu puder falar essa minha experiência para as pessoas isso vai ajudar e elas também vão falar o que eu ainda não usei e que ainda posso usar para ver se vai dar certo em mim. Sério, quem tem dermatite atópica fica com compulsão para achar alguma coisa que vá dar certo. Se, tipo, sair alguma coisa lá na China, todo mundo já está ali mandando no grupo: ‘‘nossa, está tento vacina com rato’‘ e a gente já fica assim. Ok, tem muitas coisas que não são acessíveis no sentido de que... tem muita gente que tem dermatite atópica e passa muita dificuldade. Nem todo mundo tem uma condição boa para comprar os remédios. Eles não são baratos. A gente tem que usar creme o tempo inteiro e fora remédio mesmo, via oral, pomada que a gente precisa passar... e tem muita gente que não tem condição. E aí é justamente isso: nem todo mundo tem dinheiro para pagar a medicação e a gente está ali falando sobre isso também. ‘‘Alguém tem alguma alternativa mais barata para isso aqui? Um médico mais barato, um médico mais acessível’‘, porque tem muita gente que pode pagar umas coisas mais caras, mas tem muita gente que não. Algumas pessoas conseguem a medicação pelo governo, mas nem todas. Então, é difícil. Tem gente que gasta muito dinheiro do salário, assim, por mês. Tem muita gente que posta lá sobre ‘‘o meu kit sobrevivência do mês’‘. E se for ver quanto vai ficar aquele kit ali, você não tem noção. É muito caro. E é um kit que eu digo que são cinco produtos. Hidratante, alguma pomada, alguma outra coisa que você vai precisar. Aquilo ali passa de 500 reais, facílimo. Então, você fica assim... alternativas, alternativas e a gente vai começando a se ajudar.
P/1 - E surgem terapias alternativas ou até mesmo bizarras ou coisas assim, caseiras?
R - Surge, mas isso também é uma dificuldade no nosso grupo, porque o grupo não tem caráter de recomendação de remédio, até porque a gente não pode fazer isso. Só que chega muita gente falando assim: ‘‘toma tal coisa, assim, assim ou assim que você vai melhorar’‘. E isso não é recomendável, tanto é que essa é uma regra do grupo, assim, mas muita gente recorre ao natural. Primeiro é mudar a alimentação, total. Segundo é receitinhas de hidratante. Hidratante, às vezes, é muito caro. Então, qual produto que eu vou usar para fazer um hidratante rapidinho? Eu vou usar babosa para secar as feridas, para passar no couro cabeludo... então você começa a ouvir muita coisa assim, que não vende na farmácia, sabe? Assim, coisas que a gente tem que começar a se virar, mas a gente entende também que é um processo muito mais demorado e mais difícil. Até você achar os ingredientes que serão bons para você e o tempo da planta ali, daquele material em você, às vezes é mais demorado e as pessoas não tem muita paciência – o que eu também não tenho. Eu só falo assim porque às vezes o negócio está tão ruim, está doendo tanto, que eu vou ali e tomo um corticoide porque vai rapidinho. Em um dia já está fechando. Agora, a planta ou alguma coisa assim não, demora muito.
P/2 - Quando esse grupo virou 100, que virou 150, que virou 200, como que foi perceber esse crescimento?
R - Menina, eu nem sei. É aquele negócio que eu falei: dez pessoas, para mim, já é muito para conversar e tudo mais. Mas eu vou fazer esse grupo então. E quando eu vi, começaram a aparecer muitas solicitações para membro. Ok, vamos aceitando. Quando vi, foi crescendo a discussão no grupo. E aí começaram a entrar uns fakes, nada a ver. Aí pensei que tinha que fazer alguma coisa para isso, o que foi, realmente, logo agora. Depois que a gente foi na Sanofi no ano passado – eles nos convidaram para ir lá falar sobre dermatite atópica e sobre a conscientização da dermatite atópica – que eu fui entender como que você organiza o grupo. Ok, eu sou administradora e tem moderadores e tal, mas eu estou ali participando das questões. Não é uma pessoa fora que cuida só da administração do grupo e coisas assim. Não, eu estou lá dentro. Então, para mim, não tinha que ser um grupo fechado, não tinha que ter essa coisa de membro, olhar as publicações de quem está falando coisas ruins e quem não está, quem está saindo das regras e quem não está. Agora, pouco tempo atrás, começou a entrar um pessoal que estava falando coisas nada a ver. Ou pessoas que entram no grupo só para xingar. ‘‘ você tem um problema de pele’‘, ‘‘sua pele é’‘... Gente, eu não estou acreditando numa coisa dessas. A pessoa tem de entrar no grupo para falar isso para o pessoal? Não acredito. Agora, tem uma coisa no grupo em que se coloca umas perguntas. A pessoa antes de entrar, ela responde. A gente pergunta se ela ou alguém da família tem dermatite atópica ou então se ela quer estudar. Tem médico que entra e que quer estudar isso, mas tem gente que, obviamente, só quer entrar para zoar.
P/1 - E quanto do seu tempo você gasta administrando o grupo?
R - Eu não passo nem um dia sem ir no grupo, não tem como. Vamos supor: entrei ontem à noite. Acordo de manhã e já tem 20 pessoas querendo entrar. Aí tem de ler as questões, tem de ver porque a pessoa quer entrar. Tem de olhar o grupo, se tem alguém saindo da regra... nisso, tem de fazer tudo muito rápido porque depois tem de ir para a faculdade. Aí vou para a faculdade e fico lá o dia inteiro. Depois, à noite, eu vou olhar de novo e eu tenho muito mais pessoas para aceitar e olhar. Mas aí a minha irmã me ajuda. Ela também está nesse processo, porque ela me ajudou muito e ela também tem dermatite atópica. Mas assim, a dermatite dela é muito branda, bem pequenininha. Quase não tem mais crises. Mas ela também entrou para a gente começar a trocar. Lá não tem isso, de só entrar pessoas com crises muito grandes. Não, entra qualquer pessoa. ‘‘Meu filho acabou de ser diagnosticado com isso’‘, então entra lá. Tem gente que está em uma situação péssima, muito ruim, com a pele toda aberta. Entra, não tem nada a ver. Então, eu fico... não tem como ficar um dia sem entrar, porque o grupo demanda, realmente. E já começa a dar confusão se você fica um dia sem entrar. Uma época atrás eu fiquei o final de semana porque para onde eu fui não tinha internet. Quando eu voltei já estava uma discussão enorme lá, de uma pessoa que tinha feito um comentário péssimo, dessas pessoas fakes. Aí eu falei assim: ‘‘meu Deus do céu, eu fiquei tão pouco tempo e já deu essa coisa toda’‘. Aí, acho que é isso. É bem diário.
P/2 - E você criou o grupo nesse intuito de conhecer outras pessoas que também tivessem dermatite. Você conheceu e ainda conhece muita gente. Mas o que mais te trouxe o contato com essas pessoas?
R - Depois que eu fui conhecendo essas pessoas e elas foram colocando os casos delas lá, eu pensei: ‘‘Juliana, que drama tão grande que você fez’‘, no sentido de – tem tanta gente pior naquele grupo. Tem tanta gente com uma situação bem delicada, que eu fico assim: ‘‘Juliana, nossa Senhora’‘. Agora, por exemplo, eu diria que estou começando a entrar em crise, porque já está começando a ficar bem vermelho, mas não é nada comparado com antes, por exemplo. Antes eu ficava muito pior. Antes de me abrir, nesse sentido, para o mundo e não tentar me fechar. Eu fico vendo lá o pessoal. Eles acabaram de ter a criança e chegam lá: ‘‘meu Deus do céu, o que que eu faço? Meu filho acabou de ser diagnosticado. O que que eu dou para ele’‘? Ou então gente lá falando: ‘‘não aguento mais essa vida de me expor e as pessoas começarem a me zoar’‘. E eu fico assim... cara... eu me identifico tanto com aquelas pessoas que eu fico assim... É justamente para isso que eu quis fazer, porque em outro momento isso já me machucou muito, ter pessoas me zoando e tudo mais. Só que aí eu vejo essa pessoa falar e eu vou lá e me dá vontade de conversar com ela e falar: ‘‘não deixa isso te abater’‘, porque naquele momento que eu estava passando por aquilo, não tinha ninguém para me falar isso, sabe?
P/1 - Você fala tudo isso para elas? Você tem essa interação?
R - Sim, com certeza sim. Até onde a pessoa pode me dar uma abertura também, né, porque nem todo mundo é aberto assim, mas para mim, desde sempre, desde o início, foi muito de troca. Quando eu criei eu tinha 19, 20, alguma coisa assim. Então, assim, não tinha nem experiência para estar ali e falar. Eu não sou médica e nem nada, mas eu criei para justamente ‘‘vamos comigo’‘? Aquela questão de coletivo todo que vem já para a minha vida – ‘‘vamos juntos’‘. Hoje você está com crise e amanhã não está. Aí você fica dois meses sem crise e quando vê, no outro dia, você está em uma crise que você nunca viu na vida. É muito inconstante.
P/2 - Você comentou que algumas pessoas publicam o kit sobrevivência delas. Eu vou juntar duas perguntas nessa. Eu queria saber se você tem um kit. Se sim, qual é ele? E você comentou que agora você começou a ficar com um tom mais vermelho.
R - (Eu estou) [02:01:57] crise, né?
P/2 - E quando você percebe que vai vir esse momento mais intenso da dermatite, como que você se prepara?
R - Eu tenho muitas dificuldades com isso. Eu tenho muito medo da minha crise passar disso aqui. Então, sempre que está com isso aqui eu já tenho uma pomada de corticoide que eu uso e, na verdade, eu sei que é até errado eu ficar usando ela por muito tempo, porque, na verdade, corticoide não é bom para nenhuma questão, mas eu tenho muito medo dela ir espalhando e eu não conseguir depois conter.
P/1 - Normalmente você associa isso com algum gatilho emocional?
R - Com certeza.
P/1 - Sempre?
R - Com certeza. Eu nunca tinha tido dermatite na mão, mas se você for ver a minha mão está toda cortada. Eu estou em processo de escrita de artigo da faculdade. Então, isso está assim. Eu estou numa pressão tão grande... eu nunca tinha tido dermatite nos dedos e aí veio nesse semestre. Aí eu falei: ‘‘ok, eu já sei o que é isso’‘. Já consigo identificar o que está acontecendo. Por exemplo: isso aqui não está aqui por causa de coisa externa, cheiro ou alguma coisa. Eu sei que é o meu psicológico. Esse semestre é... por questão de escrita de artigo, me preparar para o TCC e tudo mais. Eu já sei que isso está vindo por conta disso. Acho que essa é uma das nossas vantagens, no sentido que a gente já pode... a pele já mostra para você. Se ela está com vermelhidão e tudo mais, você sabe que alguma coisa psicológica está incomodando.
P/2 - Antes de irmos para a parte final, eu queria que você apresentasse as suas tatuagens. Em que momento elas foram feitas, por que elas existem?
R - Essa aqui foi a primeira, que foi com a minha irmã. A gente tem uma relação muito de pacto, de ser muito unida. E a gente sempre, desde sempre, fizemos esse dedinho. ‘‘Você vai apostar comigo’‘? ‘‘Aposto’‘. Então, a gente fez esse aqui. E eu falo que esse é o meu braço de pactos. Aqui eu só vou fazer tatuagem de pactos. Essa aqui é uma tatuagem que eu fiz com a minha mãe e com a minha tia, que faz parte de uma das quatro. Essa minha tia se parece comigo em quase tudo. Eu acho que eu sou muito ela e ela teve muitos problemas na vida. Ela esqueceu muito dela e colocou muito a energia dela em outras pessoas, como cuidando da minha avó. Ela se arrepende muito nessa fase da vida dela. Ela está com 60 e poucos anos. Aí eu cheguei para ela e falei assim: ‘‘tia, eu vou fazer uma tatuagem com a minha mãe’‘ – que até hoje não fez, porque teve medo. Aí ela falou assim: ‘‘então, me coloca nessa também’‘. Eu falei: ‘‘tia, você não vai fazer nada disso não. Ainda mais você’‘. E minha tia nunca... essa coisa de sair do meio comum dela, é para ela muito difícil. Quando ela falou que ia fazer a tatuagem, eu fiquei assim: ‘‘eu não estou acreditando numa coisa dessas’‘. E aí fui eu, minha irmã e ela. Ela fez a tatuagem. A dela é aqui, mas não é a mesma. É outra borboleta. Para mim é muito importante. Eu só tenho essas duas até agora.
P/2 - Então, para essa fase final agora, não é?
P/1 - Essas duas a gente não faz, então?
P/2 - Acho que não. Sobre dermatite acho que a gente pode fazer essa. Pode ser bem simples essa resposta, ok, Ju? Bem objetiva. Quais os principais desafios do portador de dermatite atópica?
R - Acho que a primeira coisa é se aceitar. É muito difícil esse processo de autoconhecimento, esse processo de pensar que a gente não precisa ser igual ao outro, que cada um é um. Cada um tem problemas e está vivendo suas coisas. Então, a gente não precisa ser o modelo que a sociedade escolhe para o corpo e qualquer coisa assim. Então, se aceitar. É um desafio grande também essa questão da medicação, de tentar se encontrar como uma pessoa que está querendo se melhorar, mas não tem meios, talvez, porque não há meios, na verdade. O medicamento ali te proporciona uma situação boa em pouco tempo. Mas, na minha experiência – obviamente cada um tem a sua trajetória – o maior desafio é o lado psicológico e começar a ter esse equilíbrio. Nem sei se ele existe, na verdade.
P/2 - O que você gostaria que as pessoas ao seu lado te dissessem em relação à dermatite? Com crise ou sem crise.
R - Hoje ou antes?
P/2 - Sempre. O que é importante para alguém que é portador de dermatite atópica escutar de quem não tem?
R - Eu acho que é que essa pessoa entenda que portador de dermatite atópica se está com crise, se está em erupção, se está vermelho, se está com sangue, é uma coisa normal da doença. Não tem nada de anormal. Não pega – como muita gente fala ‘‘não vou chegar perto porque senão’‘... ‘‘Não vou deixar a minha criança ir brincar com a sua porque vai pegar e eu não quero’‘. Primeiro: não pega. É aceitar as pessoas, sabe? Acho que é uma coisa tão simples, mas quando a vê no real, no cotidiano, é tão difícil de acontecer. É saber que essas pessoas não são menores ou inferiores por conta da doença e que elas estão na luta ali, sabe? Não desmerecer essa luta e não achar que é brincadeira o que a gente está passando. Não achar que é drama o que a gente está fazendo. Acho que é isso.
P/2 - E para encerrar a dermatite, a gente está com esse projeto de memória oral dos portadores de dermatite atópica. Como que você avalia esse projeto?
R - O projeto de vocês?
P/2 - De contar histórias de vida de quem tem dermatite atópica.
R - Nossa, quando vocês falaram aqui eu fiquei assim: ‘‘eu não estou acreditando que tem um programa só para falar sobre isso’‘, porque a visibilidade é muito pouca. É muito pouca, gente. A gente vê as pessoas falando, por exemplo médico, porque ele tem que tratar da gente, então ele tem que estudar sobre dermatite, mas no meu meio, por exemplo, de pessoas que não tem dermatite, quando eu falo elas não sabem o que é. Ou então quando elas me veem mal, ‘‘o que é isso que você tem, que eu nunca vi’‘? Então, é muito pouca a visibilidade. Para gente, esse tipo de trabalho é quase um milagre. É por isso que o pessoal recorre ao grupo no Facebook, porque se você for ver não tem um outro lugar falando sobre isso não. Às vezes, até no YouTube tem pouco material para falar, por que sobre o que eu vou falar? Meus hidratantes e o meu remédio, ou então o meu psicológico. Então, contar a história dessas pessoas é entender a gente como parte do social, porque, geralmente, a gente é excluído sim. Ou porque a gente já é excluído ou porque a gente também se exclui, porque a gente não quer passar por essas situações. Então, é dar a voz, que é justamente o que eu falo sobre a minha questão de não querer mais esconder a minha voz. Acho que vai muito com isso. É não esconder o que a gente é.
P/1 - E qual é o seu sonho nesse momento?
R - De vida?
P/1 - Sim.
R - Total, assim?
P/1 - Pode ser agora, porque o sonho pode mudar.
R - Agora, eu acho que o meu sonho é me formar. Não sei, talvez entrar no mestrado ou fazer a licenciatura, que é uma área que eu gosto e acho importante, principalmente pelas coisas que eu já passei. Me formar, ter muitos trabalhos. Que a gente entenda que o meio artístico tem um valor e que ele não pode e nem deveria ser deixado de lado e que essas pessoas trabalham muito para fazer o que elas fazem. Teatro não é sinônimo de vagabundagem. Muito pelo contrário. E é isso.
P/2 - Para encerrar, como que você se sentiu contando a sua história hoje para a gente?
R - Eu me senti... não sei. Eu estou me sentindo importante. Foi o que eu te falei aquela hora: ‘‘eu não tenho nada para contar, a minha vida é muito simples’‘. Eu não sou uma pessoa que quando você vê uma entrevista na televisão é uma pessoa que é importante e vai contar. Eu falei assim: ‘‘eu não tenho nada’‘. Eu fiquei com um pouco de vergonha, obviamente, porque é muito louco falar da gente mesmo, porque, geralmente, a gente fala muito pouco da gente. Eu tenho isso, pelo menos, de falar muito pouco de mim e prestar atenção nas outras pessoas. Não sei se foi uma questão de perguntas, obviamente, mas uma coisa que leva à outra e que leva à outra. Quando vê, eu estava falando de uma coisa que leva à outra e eu nem lembrava que aquilo tinha levado à outra coisa...
Recolher





.jpeg)

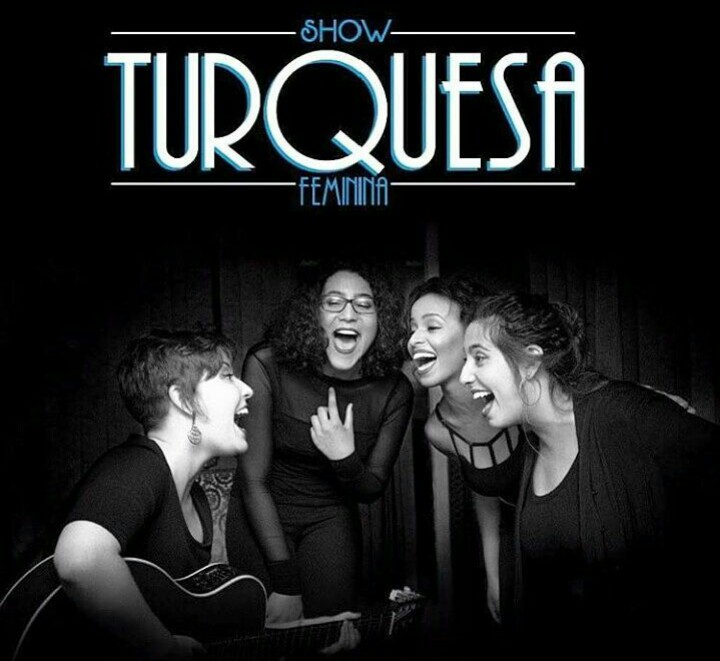



.jpeg)





