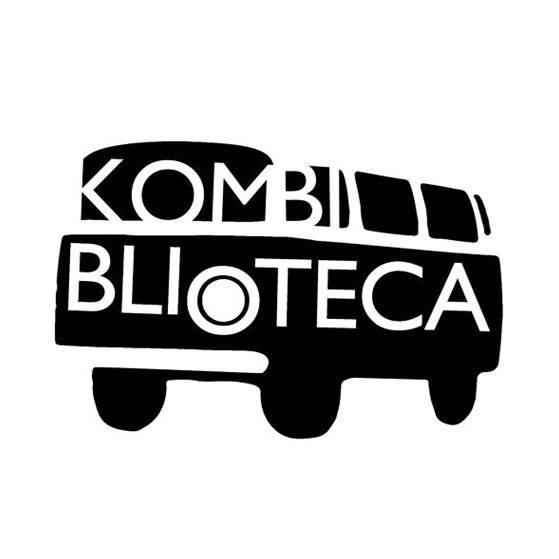Projeto Kombiblioteca
Depoimento de Sérgio Vaz
Entrevistado por José Santos e Jonas Worcman
São Paulo, 28 de Maio de 2015
Realização Museu da Pessoa
KOM_HV015_Sérgio Vaz
Transcrito por Karina Medici Barrella
MW Transcrições
P/1 – Sérgio, boa noite. Queria começar a entrevista perguntando o seu nome completo, data e local de nascimento.
R – Eu me chamo Sérgio Vaz. Nasci no dia 26 de junho de 1964 em Ladainha, Minas Gerais, norte de Minas, no Vale do Mucuri.
P/1 – E você podia falar o nome dos seus pais e que atividade que eles faziam?
R – Minha finada mãe chama Maria das Dores Vaz. Ela era, como que eu posso dizer? Mascateira, ela fazia de tudo, vendia roupa do Paraguai, tinha bazar, minha mãe era comerciante. O meu é vivo, ele é inspetor de alunos de uma escola pública.
P/1 – Aonde?
R – Ali onde meu pai mora, Jardim Guarujá, perto do Parque Santo Antônio.
P/1 – E você passa a sua primeira infância em Minas, é isso?
R – Engraçado que não tenho uma memória de lá, porque eu acho que eu vim de lá muito novo, quatro ou cinco anos. As minhas memórias são muito poucas de lá, acho que todas as memórias que eu tenho de estar vivo é de São Paulo mesmo, já na periferia de São Paulo.
P/1 – Quando eles moravam em Ladainha o que eles faziam? Ela já era comerciante?
R – Não, a minha mãe não era comerciante, minha mãe era dona de casa. E meu pai trabalhava numa loja, tipo um bazar. Ele era tipo vendedor de um bazar.
P/1 – E você tem irmãos?
R – Tenho. O meu pai se separou da minha mãe, então eu tenho um irmão por parte de mãe, que minha mãe casou depois que separou do meu pai. Por parte de mãe e pai somos três e meu pai casou novamente e tenho mais dois irmãos. Somos seis irmãos.
P/1 – Então quando vocês vieram pra São Paulo era só...
R – Só nós três, pai e mãe e os meus dois irmãos.
P/1 – Então as suas lembranças de infância já são de São Paulo?
R – São de São Paulo.
P/1 – Então vocês chegam pra que bairro?
R – Nós chegamos lá na Cidade Dutra, ficamos um pouquinho, bem pouquinho lá, e logo em seguida já fomos pro Guarujá onde meu pai... no começo da rua tinha tipo um cortiço, a gente morou lá, e depois, logo em seguida meu pai comprou essa casa. Ele entrou na Bombril, conseguiu fazer um financiamento e comprou essa casa, três cômodos.
P/1 – E quais são as lembranças de menino? Você brincava de quê?
R – As lembranças mais loucas que eu tenho são as de criança porque eu jogava bola o dia inteiro, que é uma coisa que eu sempre adorei. As brincadeiras eram coletivas, esconde-esconde, pega-pega, estrela-nova-cela, bolinha de gude, pião, pipa, então eu tive uma infância, como é que eu posso dizer? Imageticamente maravilhosa.
P/1 – Que legal!
P/2 – Você sabe por que você se chama Sérgio?
R – Quando meu pai veio trabalhar em São Paulo nós ficamos em Minas. E Ladainha tinha uma coisa que o escrivão que dava o nome pros filhos, então se o escrivão fosse religioso todas as pessoas tinham nome de santo, né? Santo Agostinho, sei lá, essas coisas todas. Aí meu pai veio aqui, achou muito bonito Sérgio. Já tinha vindo a São Paulo, minha irmã nasceu e ele colocou Silvana. Depois ele colocou Sérgio e depois Sidney. Uma cidade pequena, depois todo mundo começou a chamar Sérgio, Silvana e Sidney. Porque era diferente, não é porque era bonito, mas porque as pessoas estavam acostumadas. Meu pai disse que meu nome ia ser Jonatas, não sei se é um personagem bíblico e tal, mas aí ele lembrou de um nome que ele viu aqui em São Paulo.
P/1 – É, italianão, né? Silvana, Sérgio.
P/2 – Tudo com S também.
R – Tudo com S. Tinha dois irmãos que morreram, que é Silmara e o Sílvio, muito novos.
P/1 – Conta mais, você tinha uma turma de vizinhos que eram seus amigos?
R – Eu morava no final da rua, até hoje meu pai mora lá, então a nossa rua era como se fosse um outro planeta, porque eu achava que o planeta se chamava Terra porque as ruas não tinham asfalto, então a gente só andava com as pessoas da minha rua e da rua de baixo; da rua de cima já moravam os inimigos, de trás morava o Parque Santo Antônio que a gente tinha muito medo. Ainda não tinha cemitério, era tudo mato ainda. Mas a gente tinha a turma da rua.
P/1 – E vocês jogavam bola?
R – Todas essas brincadeiras de criança que você possa imaginar a gente fazia. Bolinha de gude, pipa, pião, esconde-esconde, beijo-abraço-aperto de mão, estrela-nova-cela, carrinho de rolimã, estilingue, guerra de mamona com estilingue, caçar passarinho, todas essas traquinagens aí.
P/2 – Tinha contação de história?
R – Não!
P/2 – Capoeira?
R – Capoeira tinha. Eu cheguei a jogar capoeira com o mestre Limão. Ele morou no começo da minha rua, ele e a Bernadete, aí ele tinha uma academia na Rua Manuel Borba, aí um dia teve uma... como o bairro estava em formação, toda vez que chegava um caminhão de construção com tijolo a gente chegava com uma equipe como se fosse trabalhadores. E a gente carregava tudo pra dentro em troca de pão com mortadela e tubaína. Então a gente tinha uma turma, tinha uma gangue que quando chegava o caminhão nós já: “Opa, quer que a gente coloca pra lá e tal?”, e aí fazia essas coisas e depois o cara pagava a gente com pão com mortadela, tubaína, que pra nós era um luxo na época.
P/1 – E Sérgio, você podia descrever a rua? A rua está lá, a casa do seu pai está lá.
R – Olha, o lugar, cara, é muito, muito longe de tudo. Porque quando você desce na Piraporinha, que é o centro do bairro, você tem aquela ladeira que vocês sobem de carro, a gente subia a pé, ou seja, quando chovia não tinha caminhão de gás, não tinha lixeiro. Lá no topo depois você desce novamente e some lá pra baixo. Então era uma rua de uns 300 metros, moradores, a gente chegou praticamente todo mundo junto, então criou uma sintonia entre os moradores, companheiros de mesmo sofrimento, né? E por ser uma rua sem saída ali a gente podia fazer vários rachas, então a gente passava o dia inteiro jogando bola porque não tinha carro. Aliás, quase ninguém tinha carro nessa época, eu estou falando do início dos anos 70.
P/1 – E qual era o seu time?
R – O time que eu torço? O meu time é o Palmeiras, pô! Aliás, o de todo mundo é, não é?
P/1 – Dizem (risos). Mas aí você virou palmeirense nessa infância ou foi depois?
R – Virei palmeirense nessa infância. Porque a gente jogava absolutamente todo dia, às vezes interrompia pro almoço e terminava o racha depois do almoço. Então o futebol tem uma importância muito grande na minha vida, não só pelo lado poético, esportivo, é porque a gente não tinha brinquedo, cara! (risos) Às vezes não tinha jogo porque uma pessoa no bairro não tinha uma bola, imaginar que no bairro inteiro uma pessoa não tenha uma bola pra jogar. Eu cresci aí. E eu lembro que eu gostava de futebol e eu gostava do Palmeiras, meio, estava em formação ainda, e o meu vizinho me levou pra assistir um jogo de Corínthians e Portuguesa. E eu fiquei na torcida do Corínthians. E eu fiquei imaginando: “Puta, se acontecer um gol aqui eu vou ter que pular”. Eu acho que talvez eu viraria corintiano se o Corinthians tivesse vencido o jogo, mas foi 0 a 0. Ou da Portuguesa também. Porque eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, eu achava que o meu bairro era o mundo, assim como os navegadores antigos achavam que depois do meu bairro existia um abismo e que a gente morria.
P/2 – Você chegou a ver o futebol pela televisão, Brasil de Pelé, essas coisas?
R – Eu lembro vagamente do Pelé, eu não lembro da imagem dele jogando, mas eu lembro de ouvir muito falar do Pelé antes dele encerrar a carreira. Eu tenho lembranças da Copa de 70 que são os balões, não é nem a lembrança dos jogos, mas eu lembro que tinha muito balão na rua, muita gente festejando. Mas eu não tenho lembrança do Pelé não. Eu lembro que em 74, quando eu tinha dez anos, eu lembro da Copa de 74, pediam pra que o Pelé jogasse novamente a última Copa, o Pelé falou: “Não, já encerrei a carreira”, então eu ouvi muito do Pelé. Mas eu não tinha imagem muito boa do Pelé, até porque televisão, a gente nem tinha televisão, a gente assistia na casa dos vizinhos, né?
P/1 – E como é que foi a escola? A escola era no bairro mesmo?
R – É, não era perto, era mais coisa de um quilômetro, ou um quilômetro e meio, dois quilômetros, não sei precisar. Mas era bem longe. E só tinha até a quinta série, depois foi pra oitava série. E não tinha o colegial, a gente tinha que estudar em Santo Amaro, que Santo Amaro é o subúrbio. Você vê, a gente está muito além do subúrbio, era tão longe que pra estudar lá existia o vestibulinho, que era uma espécie de vestibular, pra estudar em colégio como o Alberto Comte, Dom Duarte, o colegial. Porque a gente fazia a oitava série e se formava, era muito comum falar: “Já estou formado”, na oitava série. Aliás tinha colação de grau, tinha a festa de formatura.
P/1 – E o que te marcou nesse período de escola?
R – O que marcou é que eu nunca gostei de estudar. Meus pais separaram muito cedo, numa época em que os pais não se separavam, então eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito introvertido, muito. E o futebol era a minha tábua de salvação. Porque quando os outros meninos pediam pra mãe pra poderem jogar eu já estava na rua há muito tempo, porque meu pai trabalhava, tinha uma empregada que ficava em casa tomando conta da gente então a gente tinha a rua inteira. Eu me lembro dessa liberdade, era triste ter essa liberdade. Mas eu me lembro muito bem. E me lembro quando comecei a ler, com 12, 13 anos, o bem que me fez porque eu, extremamente tímido, introvertido, o livro se mostrou um lugar habitável.
P/1 – Que legal.
R – É.
P/1 – E quais são os primeiros livros legais que caíram na sua mão?
R – Eu comecei a ler por causa do meu pai, meu pai trouxe esse hábito. Na minha casa nunca faltou comida e nem livro, por menor que fosse a nossa casa, por menos privilégio que tivesse, nunca faltou. E a primeira lembrança que eu tenho é ler um livro chamado “Eram os Deuses Astronautas?”, do Erich von Däniken.
P/1 – O Erich von Däniken! Eu li esse livro.
R – Pois é. Aí meu pai me pegou lendo, e eu não entendia nada, ele falou: “Pô, mas está lendo esse livro?” “Eu queria ler, que eu vi aí”, não era nem estante. “Ah, você está gostando de ler?” “Tô”, daí meu pai ia no Sebo do Messias comprar uns livros infantis. Então li Branca de Neve. Eu tenho uma formação de leitor que eu comecei: Branca de Neve, João e Maria, Feijão e o Sonho, papapa, papa. Depois eu fui pra Coleção Vagalume, aí Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida. Depois eu caí pra Agatha Christie. Eu fiz tudo como manda o figurino, eu comecei do pré.
P/1 – Que bacana.
R – É.
P/2 – Você era o único que lia dos seus amigos?
R – Era. Era. E era uma coisa triste, que é a solidão dos livros, né? E nessa época eu era tipo um cara gangorra, eu sentava todo mundo levantava. Porque você acaba de ler Capitães de Areia, você quer conversar com alguém, você quer falar sobre Dora, Pedro Bala. E a molecada. Aliás, eu era o diferente. Não por ser melhor, por ser diferente mesmo. Quer dizer, no lugar onde a miséria era muito comum, a pobreza, eu gostava de livros, olha que louco. Eu estou falando do começo dos anos 70, no final dos anos 70. Na periferia, não tinha nem asfalto ainda e já gostava de ler. Quer dizer, eu queria ser jogador de futebol, aliás todo mundo lá queria ser. E não era pelo dinheiro. Porque o futebol pra nós tinha uma outra magia. Aliás, não dava dinheiro, você vê, nem o Pelé ganhou dinheiro. Porque a gente adorava o futebol, idolatrava os caras.
P/2 – Você chegou a participar de peneiras?
R – Eu participei de uma peneira num time chamado Noroeste, que não é o de Bauru, que tinha um clube chamado Joerg Bruder, e esse time jogava lá, era o time da liga. E eu joguei muitos anos lá de lateral direito e médio volante. Depois joguei na várzea e outros times, mas eu nunca participei de peneira de time de futebol, meu pai não deixava, ele achava que eu tinha que estudar, essas coisas todas.
P/1 – Então você era volante ou lateral?
R – É.
P/1 – A bola passava, o adversário ficava.
R – Não, eu era técnico. Eu não sei se eu era bom de bola, mas eu nunca fui um cara violento, até porque eu tinha um biotipo magro igual o Jonas, comprido, meu apelido era Magrão, pra você ter uma ideia. Eu era muito magro, eu engordei depois que eu casei. Então não dava pra ser muito violento (risos). E na várzea acho que precisa um pouco de tamanho pra ser violento. Mas não, o meu estilo não era de violência, não. Não era nenhum craque, mas também não era esse cara que dava porrada em todo mundo.
P/1 – Que bom!
R – Eu gostava de futebol. Até hoje eu gosto do futebol, mas do futebol jogado, sabe? Esse futebol que está praticando hoje machuca meus olhos. Eu sou um romântico. E a culpa é minha, não é de quem está jogando.
P/2 – Você me disse de duas paixões: futebol e a literatura. Você chegou em algum momento, naquela época, juntar, ler algum livro que era sobre futebol ou escrever alguma coisa sobre futebol?
R – Não. Eu acho que eu não fazia nem relação de futebol e literatura. Eu colecionava muita figurinha, minha literatura de futebol que eu tinha era figurinha, historinha. Tinha uma coleção do Ping Pong atrás tinha o nome do jogador, onde ele tinha jogado, onde ele tinha sido campeão. Não conhecia nenhum livro que tinha relação com o futebol.
P/1 – A figurinha do chiclete?
R – É. Você lembra disso aí? Eu tinha muito daquelas figurinhas.
P/1 – Que bacana. É, tem tempo isso.
R – Tem tempo, é.
P/1 – E você começou a trabalhar estudando, como é que foi a sua entrada?
R – Eu comecei a trabalhar com 12 anos.
P/1 – 12 anos?
R – 12 anos. Comecei a vender sorvete, aí teve uma época eu fui engraxate. Eu já vendi chocolate em circo, naqueles circos de bairro, não tinha coragem de pular a lona porque tinha medo do meu pai, imagina se o cara me pegar e levar pro meu pai? Pai antigamente era pai, tinha uma autoridade diferente do que tem hoje. E aí eu comecei a trabalhar. E o meu pai comprou o bar que hoje é o Zé Batidão.
P/1 – Ahhhhh.
R – Aquele bar lá era do meu pai, eu cresci ali. Então eu trabalhei ali 12 anos seguido.
P/2 – E foi por vontade sua ou ele falou: “Dá uma força aí”.
R – Não tinha essa de vontade sua, rapaz! Vontade sua é coisa nova (risos). Essa coisa é novidade. Não, não tinha essa, você tem que trabalhar. Tem 12 anos? Tem que trabalhar. Eu venho de um lugar onde não tinha esse tipo de escolha, estudar ou trabalhar. Se tivesse que escolher entre estudar e trabalhar você tinha que trabalhar, não é nem escolher, é necessidade.
P/1 – Você fez esses trabalhos e seu pai arrumou esse bar e você ficou trabalhando com ele.
R – Aí eu comecei a trabalhar com ele. Nesses 12 anos eu trabalhei sábado, domingo, feriado, lá era minha senzala.
P/1 – E o que você fazia?
R – Fazia de tudo, abria o bar, servia. Porque quando meu pai tinha aquele bar, chamava-se Bar e Empório Guarujá, era uma época que tinha empório, o nome não era bar, era empório, porque era dividido praticamente no meio, uma linha imaginária, dessa parte tinha os secos e molhados: feijão, arroz, lata, sardinha, onde as mulheres iam de dia. E desse lado ficava o boteco quando os homens vinham depois do trabalho. Naquela época a maioria dos homens não assistiam novela, então eles passavam no bar, até dar o tempo das mulheres assistirem novela, e ir pra casa. Era um happy hour. E também não ficava até de noite, de madrugada, por conta da violência. Então era um happy hour mesmo.
P/2 – E como tinha violência?
R – Periferia, né? Periferia sempre foi violento. Depois das dez ninguém se arriscava naquela época, era muito difícil.
P/1 – Você estava falando do trabalho lá com o seu pai.
R – É, eu trabalhei muito e isso me deixou muito triste também porque eu sempre tive um senso de liberdade. Eu era o cara que eu ia na biquinha nadar, ia caçar passarinho, de repente você tem que trabalhar, né, cara? Por mais que precise. Então o bar também do meu pai me trouxe muita tristeza, algumas alegrias, mas muita tristeza, porque ali é onde eu passei a maioria dos meus sábados, meus domingos, meus feriados. E eu só tinha tempo só pra jogar bola, praticamente. Então eu cresci revoltado, eu sou um cara revoltado.
P/1 – Só um detalhe, você falou que você ia nadar na biquinha?
R – É, onde eu morava tinha uma biquinha onde as pessoas lavavam roupa, tinha água potável. Perto do brejo. E a gente colocava um monte de terra e cercava a água pra água não sair e nadava (risos).
P/1 – Faziam a represinha.
R – Uma represa, é.
P/2 – Mas existia espaço pra você colocar suas ideias na sua família, você podia falar: “Não, estou cansado”.
R – Não cara, não (risos).
P/1 – Família mineira, cara, não tem isso, não!
R – Nós estamos falando dos anos 70, isso é ditadura militar. A gente marchava na escola, pra você ter uma ideia.
P/2 – Marchava na escola?
R – Marchava. Segunda e sexta hasteava a bandeira. Ordem unida, levantava. Educação militar. Não educação militar, mas o militarismo é isso.
P/2 – Você já tinha uma consciência desse militarismo que estava rolando?
R – Não, não. Eu só tive consciência quando eu fui servir o Exército em 83, que acho que foi o último ano da ditadura, né? A anistia começou em 84, não foi isso?
P/1 – Anistia 79. 84 tentou-se as Diretas, não conseguiu, 85 Sarney.
R – É, então, 83, eu servi ainda no... E eu lembro que a gente ia pra rua comprar mantimentos pro quartel e o pessoal xingava e eu falava: “Esses caras são tudo louco, nós estamos aqui pra proteger a pátria”. Aí um cara falou pra mim: “Nós somos os bandidos, cara” (risos).
P/1 – Caramba. Conta mais, então você teve esse período todo ali no bairro, aí rolou 18 anos, tinha que se alistar.
R – É. Então, aí eu trabalhei no bar e fui me tornando um cara muito triste porque eu via meus amigos saindo, indo jogar bola, meus amigos namorarem e eu nunca podia ir porque uma hora estava no sábado, uma hora estava no domingo, uma hora estava... e aí você desenvolve uma tristeza que não acaba nunca, né? Eu tenho uma tristeza que me visita até nos dias de alegria, então eu cresci assim. E aí cada vez mais se apega aos livros porque você quer outros mundos, outras vidas, outras histórias, então o livro tem essa importância pra mim. E eu cresci nessa de futebol e livro, futebol e livro. E é muito engraçado porque eu não sabia o que era a ditadura e eu comecei a entender sobre poesia quando eu fui servir o Exército porque eu não gostava de poesia porque eu achava que era coisa de gente fresca, de intelectual, de gente maluca que acorda de manhã e dá bom dia pro cachorro, bom dia pro cavalo. Ou então corno que a mulher nunca volta, está sempre chorando por alguém que foi embora. Até que eu comecei, intuitivamente, porque nessa época eu gostava dos bares black, eu ia pros bailes que era a única diversão que a gente tinha na semana, eram os bailes black.
P/2 – E lá você arrumava umas namoradas?
R – Sim. Não tantas quanto eu gostaria, mas arrumava (risos). É o bairro, você namora com as pessoas da rua de cima, da rua de baixo, seu vizinho. E eu curti muito Marvin Gaye, Tim Maia, a minha formação musical é essa. E eu não sei porque, instintivamente, eu comecei a ouvir música popular brasileira. Sem entender muito também o que era. E eu lembro que eu levei pro quartel uma fita da Simone cantando “Para não dizer que não falei das flores”.
P/1 – Nossa!
R – Do Geraldo Vandré. A moral, né? Aí coloquei a música lá, estou lá na cozinha mexendo lá nuns negócios, coloquei a música e estou cantando junto bem alto. (cantando) “Vem, vamos embora que esperar não é saber” (risos), aí me entra um sargento louco: “Filho da puta, comunista do caralho! Essa porra de revolução!”, ele foi falando e eu fui gostando. “Essa música não sei o quê”, eu falei: “Pô, mas tudo nessa música?” “Tá tudo aí”. E como no filme do Carteiro e o Poeta eu descobri as metáforas, quando o Ruoppolo descobre as metáforas eu descobri as metáforas ali, foi ali que eu me apaixono pela poesia.
P/1 – Ó...
R – E aí eu descubro que a poesia também tem essa função de acordar o povo, de lutar pelo povo e de falar sobre o racismo, sobre a violência. E aí foi paixão à primeira vista.
P/1 – E quem você começou a ler?
R – Pablo Neruda. E eu lembro do Ferreira Gullar, lembro do João Cabral, Patativa do Assaré, Cecília Meireles. Tentei ler um livro do Rimbaud porque falavam Rimbaud, Rimbaud, nunca gostei. Li Charles Baudelaire, Flores do Mal, gostei mais ou menos. Eu gostava dos latinos, sempre gostei dessa pegada. Eu acho que eu sou um cara panfletário, descaradamente panfletário.
P/2 – E você declamava?
R – Não. Eu tinha até vergonha porque eu jogava num time de maloqueiro que era Unidos do Morro do Chácara Santana, que era o time da favela lá. Eu tinha até vergonha que ia falar que era poeta. Às vezes o cara falava: “Ô Sérgio Vaz escreve umas poesias”, eu falei: “Eu não, meu bagulho, meu barato é piada (risos). Eu faço umas letras de protesto (risos)”.
P/1 – Você ainda não contou pra gente, você começou a ser leitor de poesia, aí você começou a escrever ou foi antes que você já escrevia?
R – Eu escrevia antes, mas eu nunca escrevia como poeta, aquilo não me cabia. Eu não me imaginava escrevendo, era uma coisa. Eu escrevia, mas era como se fosse, como eu posso dizer? Como se fosse um surto literário, não era: “Vou escrever um poema, vou parar aqui, vou elaborar, isso aqui rima...” Não, escrevia coisas. E na maioria das vezes eu rasgava, mostrava às vezes para uma menina, tinha uns cadernos de pergunta e resposta, não sei se você lembra antigamente, que rolava nas salas de aula, um questionário. Você gosta de quem, você estuda onde?
P/1 – Ah, sim!
E – E eu respondia com um poema. Mas não era uma coisa que eu me divertia, não. Mas eu gostava de mandar pras meninas. Eu lembro que eu gostava de fazer esse tipo. Ah, ó, sabe? Mas assim, abertamente eu nem gostava de ser poeta, nem tinha noção de escrever, nem nada, nem queria isso, queria ser jogador de futebol mesmo. Eu achava que com 23 anos eu ainda ia ser jogador de futebol.
P/2 – Mas com menina já deu certo esse negócio de você escrever?
R – Não, acho que não. Mas é porque cada um se exibe da forma que é, né? O homem é um pavão, a gente faz qualquer coisa pra dar uns beijos. Eu costumo falar que se a mulher desse só pra quem trabalha todo mundo teria carteira assinada (risos). Porque tudo o que gente faz é pra agradar a mulher, é o mundo animal. E se você descobre uma coisa que elas gostam você faz, né? (risos)
P/1 – E quanto tempo você ficou servindo o Exército?
R – Um ano.
P/1 – Um ano. Aí saiu com 19?
R – Não, eu servi com 19 e saí com 20. Porque você se alista com 17 pra 18, até eles te chamarem, exame médico.
P/1 – Aí você saiu com 20 anos. O que você foi fazer da vida?
R – Continuei a trabalhar no bar do meu pai, aí nessa mesma época eu trabalhava no banco e no bar do meu pai.
P/1 – No banco?
R – Trabalhei no Banco Bradesco e no final de semana trabalhava no bar do meu pai.
P/2 – Fazia o quê no banco?
R – Eu fui auxiliar de escritório, como é o nome daquilo?
P/1 – Escriturário.
R – Escriturário. E depois eu fui caixa.
P/1 – Ah, então você ficou um tempo no banco?
R – Fiquei três anos. Aí eu pedi a conta.
P/2 – E você já tinha contato... porque você falou que teve contato com aquela música, “Pra Dizer que Não Falei das Flores”, com essas teorias mais revolucionárias?
R – Ah, aí eu comecei a ler sobre essas coisas, comecei a me interessar. Eu lembro que quando eu saí do quartel eu falei: “Eu tenho que entrar num partido político”. Eu fui no PC do B, parece, eu não lembro agora, aí mais tarde surgiu o PT. Não, já tinha surgido o PT, aí eu também fui pro PT, me alistei. Eu queria isso. Eu acho que da minha geração tinha um pouco disso, de ser politizado. Acho que nos anos 60 e 70 o Brasil tinha essa educação que vinha da Europa, então aquela coisa dos valores do indivíduo. Eu estudei música na quarta série, tinha música, tinha inglês, quarta série. Então a gente já tinha uma cabeça um pouco mais diferente. Eu pelo menos tinha por causa dos livros. Então eu queria ser o Che Guevara também.
P/1 – E você se filiou ao partido?
R – Eu não cheguei a filiar, eu comecei a participar de algumas reuniões, eu fui, aí eu não gostei muito. Ao mesmo tempo que eu queria aquilo eu também queria jogar bola, você entendeu? E a reunião era sempre num sábado que eu jogava bola no time. Nada era maior que o futebol, nada. Nada, nada. Na minha vida nada foi maior do que o futebol, nem mulher, nada, nada.
P/2 – Você lembra de algum gol que você fez?
R – Lembro. Eu fiz um gol de bicicleta no campeonato, uma disputa de terceiro lugar de futebol de salão.
P/1 – Uau! No salão?
R – Salão, salão. Então é isso. Eu jogava bola, eu jogava às vezes três vezes por dia, eram três times diferentes. E eu cresci, eu tenho isso dentro do meu corpo, não é eu que quero. Eu sou palmeirense, eu não quero ver aquilo lá, aquele horror, mas eu vejo (risos). Algo é maior do que eu, eu falo: “Assiste esse horror aí”. Eu assisto, aí eu fico mal humorado e quero bater nos caras.
P/2 – Posso fazer uma pergunta que é uma coisa bem mais pra frente, mas tem toda essa paixão por futebol e a Cooperifa acontece às quartas-feiras, né? Tipo...
R – A Cooperifa aconteceu de quarta-feira porque era o único dia que tinha disponível no bar que o cara deu (risos). Quando eu e o Pezão fomos falar com o cara lá em Taboão pra liberar o bar pra gente ele falou: “Tudo bem, só que não pode ser no domingo, nem no sábado, na sexta tem o samba, na quinta tem não sei o quê. Nós temos a quarta”. Aí, a...
P/1 – Fazer o quê, né?
R – Fazer o quê?
P/1 – Voltando lá só pra continuar. Então você trabalhou no banco três anos, pediu as contas.
R – Três anos, trabalhei no banco, pedi a conta. Depois eu saí de lá e fui trabalhar de auxiliar de escritório da Filtros Logan, trabalhei três anos aí fui mandado embora porque eu fiz greve, eu trabalhava no escritório, a fábrica fez greve e eu jogava bola no time da fábrica, o desafio ao galo, aí pra ser solidário também participei da greve e me mandaram embora. Depois eu trabalhei também de auxiliar de cobrança, aí eu saí de lá e eu montei um bar.
P/1 – Ah, montou um bar?
R – Montei, não deu muito certo.
P/1 – Lá no bairro mesmo?
R – Não, é perto, mas não no meu bairro. Lá na avenida lá embaixo, que eu sou melhor do outro lado do balcão. A gente acha que só porque gosta de cerveja acha que pode ter um bar, né? (risos) Aí saí de lá, amarguei alguns anos, depois eu fui morar em Taboão, que a minha mãe morava lá, eu quase não via a minha mãe e fui morar lá. Lá eu trabalhei como assessor parlamentar durante oito anos de dois candidatos lá.
P/1 – Ah, é? Oito anos?
R – É.
P/2 – Como foi isso?
R – Eu cheguei lá, eu estava desempregado, ferrado e a minha mãe falou: “Ó, tem um cara aqui que sabe que você é do PT, papapa, conhece um pouco de política. Você não quer trabalhar pra ele?”. Eu falei assim: “Quero. Ele paga, né?”. O cara falou: “Olha, se eu ganhar eu te dou assessoria”. E ele era até de um partido, PTB, acho que era PTB. Mas no momento eu não estava podendo escolher ninguém, né? Aí trabalhei pra ele e ele ganhou. Quer dizer, eu não, trabalhei junto com uma equipe, ele ganhou e falou: “Não, você vai ser o meu assessor”. Aí trabalhei com ele três anos e pouco. Aí ele me mandou embora com três anos e meio, ele casou lá, enfim, teve um rolo lá, ele me mandou embora e o outro vereador me pegou e eu continuei lá. Uma experiência também muito boa.
P/2 – Você sentia prazer em trabalhar?
R – Sentia. Sentia porque era um ambiente em que era o meu escritório, praticamente. Eu recebia as pessoas, tinha um telefone à disposição, tinha um computador, então lá eu continuava fazendo as minhas coisas.
P/1 – E você já estava escrevendo nesse período?
R – Já. Já.
P/1 – Quando é que dá o clique lá da escrita?
R – O clique. Quando eu saio do Exército com 20 anos, 21, por aí, os meus amigos, a gente começou a curtir música popular brasileira e a gente ficou meio xiita pra música popular brasileira. Aí já não ouvia mais música estrangeira, queria só ouvir Chico, Caetano, Taiguara, enfim, aquela turma, né? E a gente participava de festivais. Eu não sabia nem tocar e nem cantar. Os caras falaram: “Por que você não faz as letras?” (risos). Foi o que sobrou. Aí através das letras eu comecei a achar que dava pra fazer poesia.
P/2 – Você lembra de alguma letra sua?
R – Lembro.
P/2 – Quer falar pra gente?
R – Tem uma que era: “O tempo pra sonhar nos homens que vão para o espaço, que não aprendeu com os pássaros o segredo livre de voar. Não quero o ódio do homem que se aproxima, nem ele, no entanto a caminho de Hiroshima”. E era uma fase muito legal porque eram quatro caras e esses quatro caras todos eles compunham, todos nós se achava o compositor. Aí eu achava que eu era mais Chico Buarque, aí o meu amigo achava que era Milton Nascimento, o outro achava que era Zé Ramalho. Aí o outro achava que era o Djavan. Isso quer dizer o quê? Que eu só queria falar de revolução, de política. O meu amigo queria falar só de Minas Gerais, do boi, da terra, sabe aquela coisa de Sá e Guarabira? E o outro, que era o Zé Ramalho, queria falar da poeira cósmica. Só que na hora da gente fazer a letra cada refrão que eu falava tinha que estar na letra. “Ah, na minha parte não vai sair não” (risos). E eu lembro que a música ficava tipo uma colcha de retalhos. Eu começava assim: “Os sonhos virão nas fronteiras quando nós embainharmos das cartucheiras”, sabe? Aí o outro cara vinha: “O boi na estrada não quis andar” (risos). “E descerá de Saturno a estrela” (risos).
P/1 – Isso na mesma música?
R – Na mesma música. Porque a gente era jovem, arrogante, né? Eu sou arrogante até hoje, imagina quando eu era jovem. Petulante. “Na minha parte não, ninguém mexe!” (risos) Foi quando eles decidiram: “Faz você as letras”, aí foi que eu comecei a me sentir poeta.
P/1 – Então a chegada no caminho foi pela música.
R – Pela música, não pela poesia, pela música.
P/1 – E como é que você passou da música pro texto puro?
R – Aí eu já comecei a fazer texto. Aí eu já fazia a letra, já fazia poema, aí eu desencadeei, acho que estava represado, né? Acho que todo o tempo eu escondi o poeta num armário, aí eu queria escrever música, queria escrever texto, frase, haikai, aí eu endoido, aí eu acho que eu sou escritor. E esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida (risos).
P/1 – Agora é tarde demais.
R – Agora é tarde demais (risos). Devia ter estudado (risos).
P/1 – O seu primeiro livro, você falou a data, era...
R – 1988.
P/1 – 88. Você tinha 24?
R – É, 24 pra 25 anos. Eu lancei no Bar do Zé Batidão, que era numa rua embaixo, eu tinha tanta noção do que era o lançamento do livro que teve salada de maionese com frango frito (risos). E eu lembro de um dos poucos que compraram meu livro, ele falar: “Vou comprar pra te ajudar, hein? (risos) Que fique bem claro! Não pense que eu gosto dessa merda aí, não!” (risos).
P/1 – E qual é o nome do livro?
R – “Subindo a Ladeira Mora a Noite”, que é em homenagem àquela ladeira que tem no bairro.
P/1 – E era o quê, poemas?
R – Poemas. Sempre poemas. E essa fase aí eu escrevo poesia de protesto, já inspirado no Pablo Neruda, no Ferreira Gullar, no João Cabral de Melo Neto, enfim, eu acho que eu sou um cara revolucionário, como se dizia na época. Aí no outro livro, já em 91 se não me engano, as pessoas começam a falar que está fora de moda, que o Brasil já vive uma democracia e tal: “Você está falando de morte, esse negócio de escrever, não sei o quê”. Aí eu começo a escrever coisas sobre a Via Láctea, sobre amor, umas coisas que eu não me identificava, então eu pequei muito nisso, as pessoas me convenceram que aquilo não se fazia mais. Aí no comecinho, logo em seguida, veio o hip hop. Aí ouvindo as músicas dos caras falei: “Não, tem que escrever sobre isso, ainda não acabou, não. A ditadura acabou pra alguns, mas a gente continua”. Aí eu retomo essas coisas. As pessoas me convenceram que aquilo era fora de moda. Porque quando o Brasil, em 85, entra na Democracia, o Brasil vive a gozolândia, né, vive uma gozolândia, todo mundo feliz e tudo bem. Só que pra nós na periferia a ditadura dura até hoje, né? Então a gente tem que continuar falando sobre isso, a gente ainda vive uma ditadura.
P/2 – Só pra ilustrar isso, você tem algum poema dessa fase de protesto que te marcou?
R – Eu tenho, eu só não lembro de cor, mas eu tenho.
P/2 – Mas pode ler. Bom que já mostra o livro.
R – É. Eu achava o máximo escrever sobre isso, cara. Eu ouvia uma música do Taiguara, eu achava o máximo: “É isso mesmo! Lutar!”, é isso. O jovem é... Tem uma aqui que... Esse aqui por exemplo, chama-se “Paz”. “ETA mundo estranho/ tanta IRA, tanto ódio/ Quando o que a MOSSAD/ Mesmo quer é dançar/ HEZBOLLAH./ CD, OLP/ Deixe a música tocar./ Neste ONU/ Vamos celebrar a vida/ Pois temos a FARC e o queijo/ Na mão, basta acreditar./ Não importa o LADEN/ Que você está/ AL-QAEDA tarde vamos nos/ Abraçar./ Solidão aos belicosos!/ Quem USA e abusa/ Não merece CIA/ Vamos vigiar a paz/ Noite e dia,/ Para que não haja mais a guerra/ HAMAS” (risos). Então era uma coisa de brincar com as coisas do movimento que tinha essa época, né?
P/1 – Você já estava escrevendo, você já estava com esse envolvimento, já está chegando os anos 90. E como é que surge a ideia do sarau?
R – O sarau tem vários motivos. Antes do sarau eu já fazia esse projeto que eu faço hoje chamado “Poesia Contra a Violência”.
P/1 – Ah já?
R – Já.
P/2 – Como foi que começou?
R – Um amigo meu era professor de uma escola lá no Valo Velho, bem fundão da periferia. Ele falou: “Você não quer um dia ir lá na escola fazer umas poesias?” Eu falei: “Pô, mas pode, né?”, tipo, pode? O cara falou: “Pode. Eu sou professor, é só falar com o diretor e tal”. E aí eu fui. E eu gostei. Os alunos gostaram e tal. E tinha um amigo meu que era jornalista lá do bairro ele falou: “Vou fazer uma materiazinha”. Ele fez uma matéria, a diretora que não tinha dado importância quando eu fui viu a matéria e ficou brava porque só saiu o nome do professor (risos). Aí eu tive que voltar (risos), aquelas coisas de hierarquia. Eu gostei e comecei a perceber que se no meu bairro ninguém me lia não era culpa deles, era culpa minha. Meu bairro, as pessoas não tinham dinheiro pro livro, a literatura, esse país não lê, você imagina a periferia dos anos 90, no auge da violência? Os anos 90 foi o auge da violência na periferia, na zona sul, pé de pato, polícia, Rota, muita violência matando todo mundo. E eu lá querendo escrever poesia (risos). E aí eu começo a pensar: “Pô, eu precisava fazer alguma coisa pro meu amigo ler, porra, não é possível que ele não lê nem o meu livro”. E eu já começo a ter uma ideia do que é que eu quero. E um dia um cara me chama em Santo Amaro, que é o nosso subúrbio ali, estava tendo uma reunião de poetas, o cara foi me levar lá. Eu falei: “Porra mano, reunião de poeta, cara? Eu vou”. Achei o máximo isso. Cheguei lá, aquele monte de cara. Eu nunca fui na maçonaria, mas parecia maçonaria. Incenso, tal. Eu falo muito palavrão, então, aquela merda toda lá, né, cara. E eu falei: “O que é isso aí?” “Não, isso é um encontro e tal”, e todo mundo sentado e de repente levanta o cara: “Meu nome é Jonas e eu sou escritor. Minha poesia transcende um pouco a alma feminina que transborda da xiboca da não sei o quê da vagina”. Aí vinha o outro: “Não, eu acho que a minha poesia tem muito mais a ver com a grama que cresce”. E eu apavorado com aquela porra, né cara? E aí um cara me vira: “Eu queria apresentar o neófito”. Eu falei: “Caralho, eu cheguei hoje já sou neófito”. Eu nem sabia o que era neófito. Aí eu perguntei pro cara: “Mas que hora que nós vamos falar poesia pros outros que não seja...?” “Não, nós somos escritores, somos poetas”, o cara falava, faltava só o fardão lá da Academia Brasileira de Letras, né? Eu fiquei pensando: “Cara, mano, é por isso que ninguém gosta da gente” (risos). Porque era um Olimpo, né, cara? Aqui é Osíris falando, aqui Thor. Eu falei: “É por isso, cara!”. Aí eu falei: “Puta, tudo o que eu não posso ser é isso. Tudo o que eu não posso ser é isso, esses caras têm que me ajudar, eu não posso ser esse cara”. Aí eu falei: “Então eu tenho que popularizar a poesia, tenho que popularizar a literatura”. Aí eu começo já a pensar em criar alguma coisa pensando nisso. Nisso eu vou pras escolas. E nas escolas eu começo a fazer o sarau sem saber que eu estou fazendo sarau. Começo a levar amigos.
P/1 – Ah, tá. Quem foram os primeiros amigos aí?
R – Tinha o Preto Jota, que hoje é falecido, foi assassinado. Tem o Dinei, que é do samba. Tinha o X, o X já chegou a ir, o X que canta rap. Foi o Márcio, vários amigos poetas, não tanto quanto eu era, gostava de parecer que era, mas aqueles poetas mais esporádicos, gostava mas também não estava muito a fim. Aí eu levava eles e falava: “Pô, queria apresentar agora o Fulano, lê uma poesia”, eu já fazia o sarau nas escolas, eu tenho foto disso, tenho matéria sobre isso.
P/1 – Nossa, queremos ver depois.
R – É, e eu vou mostrar porque isso é histórico. Eu já fazia antes da Cooperifa. E na época da Cooperifa em 2000 eu estava lendo sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Pá, aquela coisa, aquele movimento e tal. E eu entro com um amigo meu, buscar umas camisetas, numa fábrica abandonada onde meu amigo é caseiro lá. Eu entrei na fábrica e falei: “Nossa, que barato louco, mano! Dá pra fazer um teatro aqui, um teatro ali”, eu influenciado já pela Semana de 22. Aí eu falei pro cara: “Ah mano, eu queria fazer um negócio aqui” “Pode fazer, mano” “Não tem problema?” “Não tem problema, não”. Daí eu fundei a Cooperifa. Reuni um monte de cara, fui chamando um cara que tocava samba, chamei o cara que tocava teatro, fui chamando, fui na secretaria pedir som. Falei: “Meu, você tem quadro?” “Tenho” “Você pode expor?”. Aí eu fiz alguns eventos nessa fábrica.
P/1 – Ah, foi ali então o primeiro...
R – Foi ali que começou, o primeiro axé foi ali.
P/1 – E como é que chamava esse lugar?
R – Chamava Cooperifa.
P/1 – Não, essa antiga fábrica.
R – Não sei, não sei o nome.
P/1 – Você não sabia do que era a fábrica?
R – Acho que era aquela loja de móveis que tinha, de escritórios antigamente. Tok Stok! Era uma antiga loja da Tok Stok, ficou lá. Está lá até hoje desocupada.
P/1 – É mesmo?
R – É. E aí, pô, pirou. E o cara fez uma matéria pra Folha. O cara viu, um amigo meu conseguiu a matéria, falou: “Como é o nome disso aí?” “Mano, é uma Cooperativa Cultural da Periferia, Cooperifa”. Aí o nome surgiu assim.
P/1 – Nossa.
R – Perifa de periferia. E cooperativa porque eu nem sabia o que era uma cooperativa. Eu achava que tinha um nome legal pra isso, eu achava que cooperativa era as pessoas cooperando umas com as outras, mas existe uma, como é que eu posso dizer? Legalmente existe um conceito, né? Fizemos várias apresentações lá, eu fiz várias apresentações.
P/1 – Mas vamos dessa primeira, vamos historiar ela. Então ela foi de dia, de noite?
R – Foi de dia. Foi até à noite. Pra você ter uma ideia, isso tem 15 anos, quem grafitou as paredes foi o Cobra.
P/1 – Ah, é? O Eduardo Cobra?
R – O Cobra. Marcelo Frenet, que escrevia na Caros Amigos lançou livro lá, o Ferrez lançou o Capão Pecado lá. O Gog fez o show, talvez o melhor público que ele fez até hoje. A gente teve capoeira, teve dança, teve uma orquestra da cidade. E ninguém recebeu nada.
P/1 – Essa foi a primeira...
R – A primeira ação que eu fiz. E o tema era “Chega de M”, que era chega de merda.
P/1 – Pô, mas já chegou com tudo.
R – Cheguei com tudo. Porque eu sempre tive uma coisa assim, se eu nasci ali é porque eu era pra mudar aquilo, porque eu sou muito arrogante pra morar num lugar que não tem nada, você está entendendo? Então se no centro tem cinema nós temos que ter cinema também. Ah, eles têm lá show de não sei, nós temos que ter também. Então foi assim que eu sempre trabalhei, nessa coisa. Não é pedir nada pra ninguém, nós vamos fazer também. E aí ficou rolando essa coisa: “Meu, os cara criaram um negócio aí, o Sérgio Vaz o poeta”, já era conhecido um pouco em Taboão, né? E aí fizemos umas cinco ou seis apresentações bimestrais, aí o cara: “Ó, não dá mais pra fazer, sujou”, aquela coisa toda.
P/1 – Sujou (risos).
R – O dono da fábrica apareceu, né? (risos)
P/1 – Pô, mas esse cara é legal, você lembra o nome dele?
R – Lembro. Luís Bahia.
P/1 – Pô, Luís Bahia tem um papel, né?
R – Tem. Tem. Ele abriu pra nós lá. E aí parou, aí eu fiquei muito triste. Aí um dia, eu não conhecia o Pezão, Marco Pezão foi o cara que fundou o sarau comigo. Nós estávamos conversando, ele participou de um concurso de literatura onde eu era o jurado, e eu realmente gostei da poesia dele e tal, dei uma nota boa e ele acabou ganhando o concurso lá. Mas eu não conhecia ele. Aí ficamos amigos e tal. E tomando cerveja uma vez, nós já tínhamos tomado várias: “Sérgio, lê uma poesia”, eu lia. “Agora lê uma também. Aí tinha um pessoal: “Lê você” “Pô, que legal, né?”. Aí depois, chamava Quinta Maldita, porque a gente ficava bêbado e na sexta-feira: “Meu, que quinta maldita” (risos). E aí ficou uma coisa, toda quinta a gente se encontrava pra beber e depois de bêbado fazia poesia. Aí o dono do bar enchia o saco: “Ah, vocês ficam aí me atrapalhando”. Aí o Pezão falou: “Pô, meu, eu vou falar com um amigo meu que tem um bar”, lá onde começou o sarau, “que ele é de teatro, talvez ele vai curtir”. Foi quando eu e ele fomos falar com o cara. Aí o cara falou: “Olha, é de quarta-feira, você quer?”
P/1 – Ah, tá.
R – Aí eu lembro eu falo: “Só que quarta-feira só vai entrar quem gosta de poesia. Você tem que me dar essa liberdade de falar: ‘Ó pessoal, sem barulho, sem nada porque senão...’”. E nós criamos. E não tinha nem nome de sarau, não tinha sarau ainda, era só um encontro.
P/1 – Era uma quinta maldita.
R – Não, aí na quarta.
P/1 – Sim, mas vocês mudaram pra quarta que é o dia que podia.
R – O dia que podia. Mas não era no mesmo bar.
P/1 – Tá. Como é que chamava esse bar onde tudo começou?
R – A gente falava: “Vamos lá fazer poesia”.
P/1 – Não, não, o nome do lugar.
R – Chamava Garajão.
P/1 – Garajão.
R – Aí a gente começou sarau, sarau e surgiu lá sarau e ficou sarau. Nem a gente sabia o que estava fazendo. Nem a gente sabia o que estava tramando. Só que a novidade foi se espalhando: “Porra, tem um lugar aí onde o microfone é aberto”. Então a gente descobriu que tinha um monte de poeta com os poemas na gaveta. Aí foram aparecendo, foram aparecendo, aí uma quarta acontecia isso, uma quarta acontecia aquilo e daí foi indo. Aí chegou mais ou menos onde era hoje.
P/1 – E foi lá que surgiu aquela, foi logo na primeira que apareceu essa frase de...
R – Não, essa frase não é nossa, essa frase é do Samba da Vela: “O silêncio é uma prece”. Não é isso que você está falando? A gente viu lá no Samba da Vela e a gente copiou. A gente até falou pra eles: “A gente copiou a frase de vocês lá”, que era o silêncio é uma prece. Aí com o tempo a gente tirou pra não, ficou muito parecido com a gente e a gente achou meio desonesto usar um negócio que não era nosso.
P/1 – Sérgio, então quer dizer, vai fazer 15 anos.
R – Catorze.
P/1 – Vai fazer 14 anos.
R – O sarau da Cooperifa. A Cooperifa já faz uns 15, 16 anos.
P/1 – Então vamos falar desses primeiros tempos heroicos aí. Vocês foram lá e conseguiram a quarta-feira. E como era o ritual das apresentações? É igual hoje?
R – Nãooo, a gente falava às vezes dez poesias. Pra você ter uma ideia teve noite lá com 13 pessoas, a gente levando namorada (risos), filho, filha, tinha 13 pessoas. Mas aí eu sempre fui um cara muito encrenqueiro, né? Infelizmente eu tenho esse defeito, eu gosto de uma confusão. Na época eu gostava mais, né, porque você tem mais saúde. E eu sempre fui muito chantagista, aí eu ligava pros meus amigos, eu falava: “Pô, vocês falam que gostam do meu trabalho, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas estamos fazendo isso”. E eu praticamente ameaçava as pessoas no começo pra ir (risos). E o Pezão trabalhava num jornal de Taboão da Serra, ele fazia as matérias. E a gente começou, eu trombava os caras: “Meu irmão, pá, não sei o quê”. E o cara: “Eu vou lá, vou lá, vou lá” (risos). E assim foi indo, um pouco de pressão, um pouco de publicidade (risos).
P/1 – Começou então primeiro os poetas da região.
R – É.
P/1 – Quando que começou a aparecer gente de outros lugares da cidade?
R – Apareceu quando Marcelo Rubens Paiva foi visitar. Ficou sabendo e tal. Isso lá em Taboão da Serra, tinha um ano, ele já estourou, com um ano ele já estourou. Aí ele fez uma matéria de meia página no jornal Cotidiano da Folha, com endereço e tudo, aí as pessoas começaram a se interessar. E aí não parou mais de chegar gente. Pessoas chegavam vindo da senzala como se estivessem vindo para um grande quilombo. Vinham já na pegada de falar: “Meu, esse é o lugar”. Então logo cedo o lugar já se projetou como um lugar irreverente, um lugar que não ia admitir ser a favor de qualquer tipo de governo, que ia falar sobre o racismo, que ia falar sobre a violência, que ia falar sobre a pobreza. Desde sempre a gente sabia disso.
P/1 – E quando foi que você levou o Mano Brown lá pela primeira vez?
R – Mano Brown. Eu conheci o Mano Brown, ficamos amigos e expliquei pra ele: “Meu, estou fazendo um lance assim, assim, assado e tal”, ele falou: “Um dia eu vou lá conhecer”. E o Brown tem uma história muito louca, e o Brown ajudou a alavancar a Cooperifa. Porque a gente estava já com um sucesso aí, de ter 60, 50 pessoas. Só que quando o Brown ia, ia pra cem pessoas. Por telefone começavam: “Ó, o Brown está aqui, o Mano Brown está aqui”. E as pessoas iam pra lá, do nada iam pra lá. E aí as pessoas estavam lá: “Pô, eu não sabia que isso acontecia, não sabia, não sabia?”. E aí o Brown foi um dos caras que ajudou, ele foi mais umas cinco ou seis vezes. E ficava até de madrugada lá tomando cerveja e trocando ideia. E aí foi o primeiro artista de relevância que a gente trouxe pra quebrada, e a quebrada tem orgulho, né, do Mano Brown. Pô, o Mano Brown é um ícone da periferia. E ele estava no auge, ele não ia pra lugar nenhum, não falava com ninguém. Então foi muito importante o Brown pra gente.
P/2 – E como ele apareceu lá?
R – Não, chegou humildemente e aí cumprimentou também, sentou. Porque na periferia também, o Brown não é mais um, mas a periferia está acostumada a vê-lo e tal, também não foi muito assédio. Eu acho que foi mais pessoas que vieram porque o outro ligou que veio, pela curiosidade, mas nunca foi muito assediado como acontece com Luciano Huck ou com a Xuxa. É uma coisa mais discreta também porque a periferia também, que a gente frequenta é um pouco mais discreta, é uma coisa mais de malandro. O malandro não se abre muito, né? Então tem essas coisas também. Mas ele foi muito importante pra gente.
P/1 – Dobrava o público quando ele ia, né?
R – Dobrava, dobrava.
P/2 – E os textos que rolavam na Cooperifa?
R – Sempre disso, sempre falando de periferia, da importância da cultura, da violência policial. Sempre foi assim. Eu acho que no começo a gente tinha muito rancor, eu acho que depois a poesia foi mudando a gente e a gente foi mudando a poesia, então aquele rancor se tornou ódio e depois se tornou raiva. E a raiva a gente consegue controlar, então conseguia mudar a poesia e aí a poesia mudava a gente.
P/1 – Sérgio, nesse primeiro momento... você falou: “Primeiro ano a gente já bombou, já aconteceu, consolidou”. Você tinha ideia que ia ter tantos filhote espalhado?
R – Não, não. Sinceramente eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu estava em êxtase porque eu tinha encontrado alguma coisa que eu gostava de fazer, porque eu sempre fui um vagabundo, eu nunca gostei de trabalhar. Trabalhei sempre...
P/1 – Trabalhou à beça.
R – Trabalhei à beça, mas que fique bem claro, que eu nunca gostei (risos). Você entendeu? Porque dentro de mim pedia arte, pedia cultura. Tanto é que quando eu lembro antes de ler o Dom Quixote eu me achava um cara muito estranho. Pô, periferia gostar de teatro, gostar de cinema? Achava muito estranho isso. E quando eu li o Dom Quixote eu falei: “Não, não tem nada de estranho, não. É isso mesmo” (risos). Uns sonham mais, outros sonham menos, os sonhos são maiores, menores, o meu é enorme, né, querer ser escritor, querer viver de poesia, mas não estava errado, não. Então esse livro salvou a minha vida. Então a literatura tem tudo a ver com o estar vivo hoje.
P/2 – E você sentiu que a Cooperifa ia evoluindo de um ano pro outro, a energia era a mesma?
R – Eu acho que a energia sempre multiplicava. Porque as pessoas quando ouviam falar da Cooperifa, nessa época a gente já estava ficando mais conhecido, quando fomos pro Zé Batidão – porque o cara vendeu o Bar do Garajão e ele não avisou a gente. Aí nós chegamos numa quarta-feira, todo mundo do lado de fora chorando. “O que aconteceu?” “O cara vendeu o bar”.
P/1 – Nossa.
R – Eu falei: “Não, não, vamos lá pro Zé Batidão”. Na outra semana já liguei pra ele, que o Zé Batidão era meu amigo, sempre foi meu amigo. “Não, pode fazer aqui”, aí começamos a fazer lá. Então lá que a coisa aconteceu mesmo. Por ser Parque Santo Antônio, sempre teve essa energia, sempre foi uma coisa assim. Porque quando as pessoas chegavam na Cooperifa, ela falava assim, imaginava uma ONG. Não, uma ONG não no pior sentido, mas eu digo no prédio, sabe? Aí chegava lá e falava: “Pô, mas é um bar” (risos) E o bar era extremamente feio na época, né? Feio não, era a cara da periferia, né? E ele no fundo se decepcionava. Mas por outro lado falava: “Pô, então eu posso fazer isso também”. A multiplicação da Cooperifa se deu pela simplicidade que acontece lá. “Ah não, é um bar. Então vamos fazer isso também, vamos replicar aqui”. A energia sempre foi assim, então começou vir. A gente tinha até que controlar porque aí aparecem aqueles revolucionários de ocasião também, né? Aqueles caras com discurso e tal, mas praticar mesmo ele não quer, é? Ele quer chegar e falar: “Che Guevara, Steve Beacon, Malcolm X, pronto. E aí, vou beber, vou ficar ali” (risos). Não, tem que ajudar aqui (risos).
P/1 – Então Sérgio, continuando a contar a história da Cooperifa. Então, olha, o primeiro momento dura um ano e meio.
R – É, em Taboão da Serra.
P/1 – Taboão da Serra. Aí vocês se mudam e vem a segunda fase. Então como é que era o sarau propriamente dito? Você abria, você é o mestre de cerimônias, como é que é?
R – No começo era o mestre de cerimônias, ficava eu e o Pezão, às vezes o Pezão ficava mais nas fotos e tal, mas eu era mestre de cerimônias na época.
P/1 – Aí tinha um microfone livre, era o quê? A pessoa falava um poema ou podia falar um monte?
R – A gente gostava que falasse um, aí fazia a família, igual o pingue-pongue, depois retornava de novo. Nunca o cara lá sozinho fazendo três, quatro. Era sempre: “Faz um, quando terminar todo mundo falar você volta e fala um”, e aí ei indo.
P/1 – Mas tinha gente que não queria largar o microfone?
R – Tinha. Sempre teve (risos), sempre teve gente deselegante. Uma mulher uma vez, a primeira vez que foi ela queria ler um livro lá.
P/1 – Como assim, o livro?!
R – Era. Ela começou a ler o pessoal: “Minha senhora, não dá, não” (risos). Ego de poeta é grande, filho? Tem gente que vai a primeira vez e quer falar logo porque tem que ir embora (risos). Ali é no rodo, irmão, ali é no tapa, ali ninguém tira farofa, não. A não ser que a gente permita.
P/1 – E Sérgio, quem no início era jovem e que depois fez carreira, criou sarau?
R – Olha, boa parte das pessoas que estão fazendo sarau eram de lá, praticamente, pessoas que iam no Sarau da Cooperifa, frequentavam. Tem os assumidamente e tem outros que não, não sei o quê.
P/1 – Quem dos assumidamente?
R – Ah, você tem a Silvana que faz Sarau do Ademar. Pessoal do Sarau da Brasa, o Sarau Bem Black na Bahia. Pô, na hora, tem tanto agora pra dar exemplo.
P/1 – E conta um pouquinho como é que era a relação com o Binho?
R – Binho? Sempre foi boa. O Binho, na verdade, ele ia no Sarau da Cooperifa, né, daí depois ele montou o sarau dele, o Sarau do Binho. A gente ia no sarau dele, como ele ia no nosso. É que hoje se espalhou tanto sarau que se você bobear você não...
P/1 – Não faz mais nada na vida.
R – Não faz mais nada na vida.
P/1 – Conta como era o Sarau do Binho no começo.
R – Eu acho que o Sarau do Binho era um pouco diferente da Cooperifa porque lá ele estava em um lugar onde podia ter música. E a gente não pode ter música por causa que o nosso bar é aberto e de frente pra comunidade. E existe um acordo com a comunidade de não fazer barulho após as dez, então é poesia, o cara que chegar com violão lá é execrado. E não é por causa da música. Também é, porque música rouba a brisa, né? O cara chega com o violão aqui, eu estava recitando: “Irmão, dá licença aí, toca aquela lá, toca Raul que ninguém aguenta mais nem o Jonas e nem o pai dele”. Então a gente já proíbe também que se o cara tocar violão você esquece, cara. Aí não tem jeito, aí você não consegue fazer poesia mais.
P/2 – E você lembra qual era a relação que tinha com o bairro? A Cooperifa começou a mudar o bairro, o bairro a mudar a Cooperifa?
R – Eu lembro do estranhamento que era a gente fazer o sarau lá. Eu lembro das pessoas falarem: “O filho do seu Zé está fazendo um negócio de uma igreja”, as pessoas não entendiam muito o que era. Às vezes tinha uns caras lá, os malandros da quebrada iam lá, a gente pedia silêncio, os caras quebravam copo, ficava puto, não entendia: “Que é isso, cara, porra, fazer silêncio?”. Ói que louco! A gente mudou, a gente interferiu no dia a dia do bairro. E aí tinha que ser um cara como eu, que cresceu ali, pra fazer isso (risos), se é que você me entende. Tinha que ser eu, não podia ser outro cara, porque eu jogava bola, eu conhecia a malandragem. A malandragem frequentava o bar do meu pai, enfim, aquela coisa de periferia, você conhece todo mundo. E eu era um cara de rua, tinha um certo respeito na comunidade. Porque o meu pai também já fazia essas coisas também no bairro, não sarau, mas fazia maratona, festa junina, meu pai também era um cara de associação de amigos de bairro. Então no bar do meu pai era a sede do time, era a sede do bloco da escola de samba, era onde as pessoas vinham depois do trabalho. Então eu praticamente fiz uma faculdade de psicologia ali, você entendeu? Eu virei psicólogo ali, eu posso clinicar se eu quiser. É, porque você fica 12 anos em um lugar onde você começa a entender as pessoas, você sabe quando a pessoa está triste, quando ela está magoada, quando ela está muito alegre, quando brigou com a mulher. Você começa a traçar perfis e você fica, 12 anos você tem o cérebro fresquinho, né? Então eu posso ser psicólogo, não sei se é bom mas eu posso ser, eu já analisei muitas pessoas.
P/2 – Então, já que você falou de psicologia. O que você acha que acontece com uma pessoa psicologicamente depois que ela começa a frequentar os saraus?
R – Eu acho que acontece a autoestima. Eu acho que acontece na pessoa: “Como é que eu podia estar fora disso? Como é que o governo nunca me falou disso? Como é que a escola nunca me falou disso? Isso é arte, isso é praticar arte”. Uma coisa é você consumir, outra coisa é você praticar. E o que a gente fez foi levar as pessoas pra praticar cultura, é bem diferente. Se você der um livro pra pessoa ela pode até pegar, mas você não sabe se ela vai ler. Mas as pessoas começaram a pegar o livro pra ler porque elas começaram a praticar literatura. Então a maioria das pessoas que iam a primeira vez falavam: “Ah, então isso que é poesia? Ah, isso eu sei fazer”. É isso. E a gente tirou a literatura do pedestal, sagrado é quem lê, não é quem escreve. Se o Neruda quiser ser recitado lá tem que tirar o sapato. Cecília Meireles lá não é nada se não comer com a mão. Então nós dessacralizamos a literatura. Então sagrado pra nós não é o livro, não é o escritor, é quem lê. Então a gente inverteu a bússola. E aí, como a gente começou a valorizar o cara que lê e não o escritor as pessoas que leem se multiplicaram (risos).
P/1 – Interessante, né?
R – É isso.
P/1 – E você disse que é toda quarta-feira aconteça o que acontecer.
R – Sempre foi. Ficamos de férias três semanas. Porque a gente completou 13 anos e ficamos de férias, três semanas de férias. Mas todas as quartas-feiras durante esses 14 anos.
P/1 – E Sérgio, como é que foi o avanço da sua produção em paralelo com a Cooperifa? Você falou de dois livros, o que veio depois?
R – Dois livros não, antes eu já tinha escrito quatro livros.
P/1 – Ah, são quatro?
R – Quatro livros antes da Cooperifa, que a Cooperifa veio no ano 2000.
P/1 – Tá, mas nós falamos de dois livros primeiro.
R – É, os que eu trouxe, por isso que eu só falei dos que eu trouxe.
P/1 – Aí na sequência veio o quê?
R – Aí a minha produção aumentou por causa dos saraus. Você fica estimulado, você quer escrever, já que tem alguém pra ouvir. Porque a gente estava trabalhando com o livro e ninguém lia o livro. Então a gente começou a fazer a gentileza de ler pras pessoas, então isso te estimula a escrever mais. Aí eu comecei a escrever mais. Só que em contrapartida, em vez de crescer minha poesia, cresce o meu ativismo. E o ativista engole o poeta, você entendeu? Então muita gente compra o meu livro mais como souvenir do que propriamente pra ler minha poesia. Não sei se eu consigo me fazer claro. Virei um ativista, o ativista virou maior do que o poeta.
P/1 – Entendi.
R – O ativista ficou maior do que o poeta, então vai te chamar pra falar em algum lugar: “Mas fala da Cooperifa, fala do seu ativismo”, e aí eu nunca falo, praticamente, dos livros que eu leio, dos que eu escrevi, da poesia do jeito que eu gosto. E aí eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a separar as duas coisas porque eu vivi pra Cooperifa, eu vivia, a Cooperifa tem tudo a ver com a minha vida. Me dei pra Cooperifa. Aí cortaram minha água, cortaram minha luz, tomaram meu carro, separei de mulher e vivi praquilo. Aquilo me deu razão pra viver, até ali não sei se eu gostava muito de viver. Aquilo me deu razão pra viver, falei: “Porra, cara, eu sou útil!”, você entendeu? Eu estou sendo útil onde eu nasci. E aí a minha produção aumentou. Ao mesmo passo que aumenta, aumenta também o ativismo e aí fica uma coisa escondeu a outra.
P/1 – Quando você começa a viajar, ser chamado pra ir a outros lugares falar?
R – Eu acho que já em 2006, 2007, que aí começam a me chamar. Em 2009 eu fui pro México, mas eu já tinha ido a vários lugares aqui do Brasil, começa por aí. Porque a Cooperifa virou um fenômeno, né? Porque as pessoas: “Como é que os caras fazem? Não é uma ONG, não é um... não era nada”.
P/1 – Não é governo.
R – Não é governo, não tem dinheiro, e lá junta 300, 400 pessoas pra ouvir falar poesia, então, criou-se uma curiosidade. E pra Academia também virou um incômodo porque a gente não deu educação, não deu livro, não deu nada e esses caras ainda querem escrever (risos), alguma coisa deu errada ali (risos).
P/1 – Você falou que vocês foram no México. Teve Argentina, né?
R – É.
P/1 – Como é que foi o evento? Foi o Salão do Livro de Buenos Aires, não é isso?
R – É, mas aí foram quase todos os saraus de São Paulo. Foi magnífico, eu adorei. Eu fui em Berlim, Colônia, em Hamburgo falar de literatura periférica nas faculdades que falam a língua portuguesa, luso-alemã, estive por alguns países. Já fui pra Paris, já fui pra Inglaterra, já fui pra Espanha, fui pra Itália.
P/1 – Ah, pra Itália também?
R – Também.
P/2 – Teve alguma dessas experiências que te marcou?
R – Olha, puta cara quando eu cheguei na Inglaterra, que eu vi Londres, eu não pude acreditar no que eu estava vendo (risos). Foi a noção que eu tinha que eu era pobre, eu não sabia que eu era pobre (risos). Ali eu falei: “Porra, eu sou pobre” (risos). “O país é pobre”. Porque quando eu fui numa dessas, que eles chamam de periferia, aí o cara foi me mostrar o reformatório. E o reformatório parece o Colégio Porto Seguro, com piano, balé, cinema. Então depois da aula o cara ia pra lá cumprir as horas, lá ele tinha que dançar, fazer curso de cinema, curso de fotografia. E aí eu passo o slide da minha quebrada e os caras não acreditam (risos). Aí eu falei: “Rapaz, essa pobreza de vocês aí nós estamos almejando faz tempo” (risos). E aí me choca muito isso e eu começo a ter noção do que é o nosso país. Eu cresci ouvindo: “Deus é brasileiro” “Quem espera sempre alcança” “As mulheres mais bonitas são brasileiras” “O Brasil é o melhor futebol do mundo”. Agora tem o vôlei, tudo nosso é o melhor do mundo, né? Eu achava, apesar de ler e tudo, mas quando você vê uma cidade inteira andando de bicicleta (risos), metrô pra tudo quanto é lado.
P/1 – E quais são as perguntas mais frequentes quando você vai dar uma palestra no exterior?
R – Primeiro as pessoas querem entender o que é literatura periférica, marginal, porque muita gente não sabe nem o que é periferia nesses lugares como Alemanha. Periferia em Londres é um lugar longe do centro. Aqui periferia te remete à pobreza. Então em Berlim no bairro turco, onde ficam os turcos, ali é a periferia. Mas não é a periferia porque é pobre, porque é longe. Então os turcos são que nem a periferia, vieram pra reconstruir a Alemanha mas era pra voltar, eles não voltaram, ficaram lá e ficou tipo a periferia. As pessoas que vieram do Norte e Nordeste para construir em São Paulo e foram morar na periferia. Você entendeu? O que estranha é essa palavra, literatura marginal, periférica, acho que o que eles mais estranham é isso. Como é que pode ter esse tipo de literatura? Eles acham que mesmo a gente sendo da periferia literatura é literatura. E aí eu tenho que falar: “Não, essa literatura nos pertence. Ela é como a literatura grega, feita pelos gregos. Literatura romana feito pelos romanos, literatura negra feita pelos negros, literatura periférica feita por quem mora na periferia”. Ah, eu moro em Moema, posso escrever? Pode mas não vai ficar bom. Ninguém pode proibir ninguém de escrever, não é? Então é mais ou menos isso, então é explicar que essa literatura não é maior ou menor, é feita por gente que sofre. É gente que cortou o atravessador. “Olha, agora quem vai contar a história da caça é a caça, não é mais o caçador”, entendeu? Nós eliminamos os atravessadores.
P/1 – Ah, isso é bacana, esse conceito.
R – Você entendeu?
P/1 – É, porque quem sempre falava pelo pobre, pelo oprimido era um outro, né?
R – Um acadêmico. Eu já vi, participei de uma palestra uma vez com um antropólogo, quando ele falou da periferia ele foi aplaudido por quem era estudioso e quando eu falei eu era raivoso. Quer dizer, quem vive o problema é raivoso e quem fala sobre ele é estudioso (risos).
P/1 – É. Mas é uma mudança, está no meio dessa mudança.
R – Sim, sim. Mas ela existe, né? Eu participei disso, é isso que eu estou te dizendo. A gente vive num lugar que não tem como não falar dessas coisas, não tem como, você está vendo a violência policial, você está vendo racismo, você mora no lugar e vai falar sobre o quê? Sobre a Via Láctea o tempo inteiro? Sobre o buraco negro?
P1 – O buraco negro é mais embaixo, né?
R – É mais embaixo. Então é complicado, né?
P/1 – Só um parêntese. Você estava dizendo: “Eu não gosto que isso seja chamado de literatura marginal e sim periférica”, né?
R – Não é que eu não gosto, eu gosto mais de literatura periférica, mas eu acho literatura marginal apropriada, literatura suburbana apropriada, tem um monte de literatura agora relacionada a isso. Eu gosto, me sinto bem, literatura periférica, porque me pertence.
P/1 – Por que você acha que esse é o melhor termo?
R – Porque é arrogância, porque é pra dizer da onde eu venho, da periferia. Aquilo que era para nos oprimir é o que hoje nos liberta. E se a palavra liberta nós somos livres. Então eu quero ser literatura periférica. Porque primeiro que é a maioria do povo, né? Então eu não faço parte de uma elite, eu quero ser popular. Então literatura periférica me traduz, me representa.
P/2 – Você fala que quando você vai viajar você tem que falar bastante do seu ativismo e tal. Então agora você tem oportunidade de falar dos seus livros mesmo, se você quiser falar um pouco o que você abordou em cada livro.
R – É, então, mas eu acho que eu já abordei aqui. Os meus primeiros livros são de protesto, já inspirados nesses caras, que hoje eu nem leio mais Ferreira Gullar, que Ferreira Gullar hoje virou um pulha, né? Então...
P/1 – Ele virou bem conservador.
R – Nossa senhora, Deus me livre. Às vezes eu vejo as colunas dele na Folha, eu fico horrorizado. Mas enfim, história é história, né? Também não posso renegar o que aconteceu. E é como eu te disse, aí depois as pessoas começam a falar que isso virou fora de moda, entrou o rock nacional que era o oba oba, sai de cena música de protesto, Chico, Caetano, Taiguara, Marlui Miranda, Gonzaguinha, enfim, e entra o rock nacional, festejando já a liberdade, que é justo também. E aí eu fiquei órfão, né? (risos) Está todo mundo feliz, né, e aí eu começo a escrever umas coisas mais sem sentido, que não tinha muito a minha cara, influenciado por essas pessoas que me podaram, entendeu? E aí quando surge o rap, o hip hop no início dos anos 90, eu falo: “Não cara, é isso mesmo”. Esses moleques estão certo, é sobre isso que a gente tem que falar mesmo, que se dane quem gosta, quem não acha legal, quem acha vulgar, quem acha inapropriado, que não acha que é literatura. Mas o que eu faço não é pra ser literatura, talvez não tenha nem nome o que a gente faz ainda. Porque o que a gente gosta mesmo, cara, não é de escrever, a gente gosta de samba, de feijoada, de futebol de várzea, de empinar pipa. A gente escreve as coisas que acontecem na nossa vida, nessa e em outras, que já aconteceram ou que vão acontecer. A gente fala disso aí, não sei se é literatura. Eu vi agora o Cristóvão Tezza falou que não gosta de literatura social porque não é literatura. Ótimo, é isso.
P/1 – E o seu público?
R – É periferia. Eu estou indo atrás do meu público, eu estou formando o meu público. O Poesia Contra a Violência que na retomada agora tem três anos, só no ano passado eu fiz 40 escolas, entre EJA, universidades. Eu gosto do povo, eu gosto da rua, eu não gosto de... eu gosto de estar na rua. Eu gosto da minha poesia na rua, com lambe-lambe, com os cartões postais, com várzea poética, qualquer coisa. Eu acho que a rua, pra mim o escritor, ele não é nada. Eu não acho que uma pessoa é melhor porque é escritor, eu abomino isso. Eu não queria ser escritor, acho que nem sou. Mas eu acho que esses caras que acham que escreveu um livro fodão, eu acho terrível.
P/1 – É o fim da picada.
R – Eu acho uma bosta.
P/1 – Falando dos seus livros, você falou uma coisa muita legal que você transformou algumas histórias de pessoas que você conhecia, conviveu, em poemas. Você podia ler um pra gente?
R – Então, esse livro, eu tinha acabado de ler “O Livro dos Abraços”, do Eduardo Galeano e me apaixonei por aquelas histórias. Depois eu li “De pernas pro ar”, aí eu virei fã do Galeano e não pela Veias Abertas, eu comecei por essa história. Eu falei: “Pô cara, acho que eu poderia fazer um livro contando as histórias da periferia”. Ele conta de todo mundo, né, porque é um cara viajado, desde o índio asteca lá no México, no Peru, que seja, a um cara na Guatemala, um cara lá na Sibéria. Um dos maiores contos dele é um cara da Rússia, que o menino vai conhecer o mar pela primeira vez, lembra?
P/1 – Ah, me ajuda a olhar?
R – Me ajuda a olhar e tal. E aí inspirado nele eu queria escrever essas histórias, e aí eu comecei a ouvir histórias de algumas pessoas que eu conheço, de histórias que eu vi. E eu escrevi um livro chamado: “A Poesia dos Deuses Inferiores”, que era praticamente contar essas histórias da periferia. E eu quero fazer esse livro ainda.
P/1 – Ah, esse é um projeto?
R – Eu já publiquei algumas, mas eu tenho várias. Eu quero fazer um livro só com essas histórias, contar essas histórias de uma forma poética. O que eu fiz? Eu peguei todas as biografias e transformei em poema. Então por exemplo, Gente Miúda. “Daniel não tinha documentos/ RG, certidão ou carteira profissional./ Não tinha sobrenome/ Não tinha número/ Nem cidade natal./ Quase um bicho/ Dormia na rua/ Sobre as notícias/ E acordava na sarjeta,/ Na calçada ou no lixo./ Os dentes/ Em intervalos/ Mastigavam as migalhas do mundo,/ As sobras do planeta./ Era soldado/ Das tropas dos famintos./ Os trapos,/ Fardas dos miseráveis,/ Cobriam-lhe apenas o peito,/ A bunda e o pinto./ Sangrava de dia/ O açoite do abandono./ Amigos? Só os cães,/ Que o protegia/ Dos seres humanos./ Morreu,/ Velho e batido,/ Depois de viver,/ Todos os dias,/ Durante trinta e sete anos,/ Como se nunca estivesse existido.” Entendeu? Então, aí eu quis fazer isso aí. Quis fazer, não, eu fiz.
P/1 – Está fazendo.
R – Estou fazendo essa história. Então é uma história assim, quer ver... eu não pus todas aqui, mas todas são escritas. É Renilda, mas eu quero ler uma do Jorginho que você falou: “Acho que o Jonas vai gostar”, estou procurando aqui. Todas em forma de poema. Nossa, já falei tudo isso várias vezes, estou enrolando aqui. Essa história aqui eu trabalhava como assessor do cara e ele estava em campanha. E nós fomos em um barraco no lugar onde a mulher queria cimento e tal, nós entramos no barraco e a mulher fez um café. E dentro do barraco passava um corregozinho. Dentro do barraco. E não tinha piso, só terra, uma das coisas mais feias que eu já vi, um lugar mais inabitável para um ser humano. E ela tinha mais ou menos uns quatro, cinco filhos. E ela estava grávida. E eu olhei praquela barriga e falei: “Não é possível, cara! (risos) Ela não pode fazer isso com esse menino (risos)”. Aí eu escrevi isso. Jorginho. “Jorginho/ Ainda não nasceu,/ Tá escondido, com medo/ No ventre da mãe./ Quando chegar/ Não vai encontrar pai,/ Que saiu para trabalhar/ E nunca mais voltou/ Pra jantar./ No barraco em que vai morar/ Cabem dois,/ Mas é com dez/ Que vai ficar./ Sem ter o que mastigar/ Nem leite para beber/ Vai ter a barriga inchada,/ Mas sem nada pra cagar./ Não vai para escola,/ Não vai ler nem escrever/ Vai cheirar cola/ Pedir esmola/ Pra sobreviver./ Não vai ter sossego,/ Não vai brincar./ Não vai ter emprego,/ Vai camelar./ Menor carente,/ Vai ser infrator/ Com voto de louvor,/ Delinquente./ Não vai ter Páscoa/ Não vai ter Natal/ Se for esperto, se mata,/ Com o cordão umbilical.”
P/1 – Uau!
R – É.
P/1 – Esse está em que livro?
R – Esse aqui. Está no “Poesia dos Deuses Inferiores” e eu coloquei nesse que é o livro que comemora os meus 20 anos de poesia. Então era isso que eu queria fazer, ouvir as histórias. Porque você está na rua você conhece muitas histórias de pessoas, então, o que você está fazendo no vídeo eu fazia em poesia, gosto de fazer em poesia, acho que isso é maravilhoso, né?
P/1 – É, um Museu da Pessoa na poesia.
R – Sim, é isso.
P/1 – Nós estamos chegando pro final da entrevista, que se depender a gente fica o dia inteiro, né?
R – Sim.
P/1 – Porque assunto não falta. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de como você está vendo a Cooperifa hoje e o que vem pra frente?
R – A Cooperifa cresceu muito e isso não foi bom em vários sentidos. Por exemplo, a gente estava com excesso de público, tivemos que mudar de dia porque estava incomodando os vizinhos. Tem pessoas que vão lá e depois param de ir e falam: “Ah, mas a Cooperifa é sempre a mesma coisa”. Mas um sarau sempre é a mesma coisa. Mas a pessoa pode deixar de ir um ano, dois anos e depois voltar, a gente não pode. Eu não posso, eu tenho que estar lá. E a Cooperifa não tem mais pra onde crescer, porque é um sarau de poesia. A gente fez o Cinema na Laje, a gente tem o projeto Várzea Poética, a gente tem Chuva de Livros que no ano passado distribuiu oito mil livros na comunidade. A gente tem o Poesia no Ar, a gente tem o Ajoelhaço. Agora em outubro a gente tem a Mostra Cultural da Cooperifa que acontece 17 a 25 de outubro. A gente vai fazendo um monte de coisas. A gente optou por não ter um patrocínio pra esse tipo de coisa porque o sarau não é uma coisa pessoal, é da comunidade, a gente entende isso. Mas a Mostra Cultural nós precisamos de apoio, a gente vai atrás desses apoios. A gente vê que a Cooperifa vai continuar sempre sendo isso. Então a Cooperifa não quer liderar exército, ela quer recrutar soldados, você entendeu? Então a pessoa vai lá, aprende e vai embora. “Ah, eu estou fazendo faculdade agora, eu não posso ir mais” “Eu estou fazendo sarau”, ela quer que ali seja um lugar de passagem, que ali seja a faculdade. Quer dizer, não quer que a pessoa fica ali, porque ali acho que não tem muita coisa pra crescer. O Zé Batidão montou uma biblioteca dentro do bar. Mas quarta-feira o sarau vai ser mais ou menos igual aquilo que você viu, as pessoas vêm, as pessoas ouvem, e isso é enfadonho pra muita gente, até pra gente, mas é o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é a comunidade. Então, por exemplo, na terça-feira agora tinha uma escola, então a gente vai na escola fazer o trabalho, a escola tem que pagar levando os alunos. Então a Cooperifa é da comunidade, ela é em prol da periferia. Ela não é em prol de outro sarau, de outro movimento, ela trabalha em prol da comunidade, da periferia, pra evoluir a periferia.
P/1 – E no seu trabalho, quais são seus projetos novos que estão no forno?
R – Olha, eu tenho um livro que eu vou lançar agora, acho que em julho, agosto, estou vendo com a Global aí, já está tudo certo. Tenho Poesia Contra a Violência, que toda semana eu vou numa escola pública. Estou com o projeto dos lambe-lambes na favela, já comecei agora lá na Rocinha, no Rio de Janeiro.
P/1 – Ah, é?
R – É. Fiz Heliópolis, fiz Paraisópolis, fiz Favela Monte Azul, vários lugares, que é colocar poesia nesses lugares. Tenho meus bate papos, minhas oficinas. É basicamente isso.
P/1 – Só isso tudo.
R – É. Tem a Cooperifa (risos).
P/2 – Sabe uma história que eu queria que você contasse, que eu já ouvi no liceu poético? A história de quando você foi na cadeira trabalhar poesia.
R – É, na Fundação Casa. Porque pô cara, é o que eu sempre digo, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Que é aquela coisa, a gente tem que fomentar na pessoa o desejo. É muito bacana o escritor e estar lá no pedestal e tal, por algumas pessoas. Mas achei importante você estar lá também, alguém que nunca lê falar: “Pô, cara, você é o primeiro escritor que eu já vi na minha vida”, como eu já ouvi. Você imaginar. Quando eu fui fazer o trabalho através da Ação Educativa eram esses bate papos com os jovens infratores privados da liberdade. E eu lembro que no primeiro dia tinha uns 60 moleques, 40, não lembro assim. Eu cheguei com todo entusiasmo, a energia toda. “Bom dia, bom dia. Quem gosta de poesia aí???” “Aí senhor, ninguém gosta desses bagulhos aqui, não” (risos). Aí eu lembro que eu pedi licença e tal pela prerrogativa de ser visita e tal, eles respeitam muito. “Não, pode fazer, pode fazer”. Aí eu comecei: “Vou fazer uma poesia de um amigo meu”, aí eu comecei a recitar Negro Drama, dos Racionais. Quando eu percebi, a maioria estava recitando junto comigo. Ainda que meio assim, mas estava lá: “São Paulo, terra de arranha-céu”. Aí eu lembro que o da frente lá falou: “Ô mano, ô mano, isso é Racionais. Racionais é poesia?”, eu falei: “É” “Ah, então nóis gosta”. E eu falei: “É isso, cara. Poesia é isso. Cada um faz de um jeito diferente”. E a gente tem que explicar que Zeca Pagodinho é poesia, que Chitãozinho e Xororó é poesia, de acordo com aquilo que você curte. E que essa pode ser uma ferramenta pra ele chegar no livro. Que futebol é uma ferramenta pra chegar no livro, entendeu? Então a gente usa estratégia. Eu tenho uma estratégia inspirada no Leminski, distraídos venceremos. Distraindo eles, venceremos nós. Então eu uso uma estratégia que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Quando meu pai trabalhava na associação amigos de bairro as ruas não tinham asfalto. Eles marcavam reunião pra discutir o asfalto, não ia ninguém. A gente falou: “Mas pô, mas ninguém vem nem pra discutir o asfalto?”, aí eles começaram a fazer churrasco na associação. Aí no meio do churrasco: “Pera aí, pessoal, só um momento. E o negócio do asfalto?” (risos). Aí o couro comia. Ou seja, era uma palavra que estava atrapalhando. Então a gente tem que descer do pedestal e fazer do jeito que a pessoa quer. “Como é que você quer ler?” “Olha, eu quero ler assim”. Então vai ser dessa forma que você vai ler. E você?” “Olha, eu quero ler assim” “Então vai ser dessa forma”. Então não é eu que dito as regras, são as pessoas. Se eu quero que ele leia, é ele que tem que me dizer como eu quero e se eu quiser eu que abaixe ali e peça licença pra entrar. É isso que eu quero te dizer, tratar a literatura como algo sagrado atrapalha a gente, atrapalha quem escreve, atrapalha quem lê. Você entendeu? Então, é disso que a gente fala, que a Cooperifa fala o tempo inteiro. É lógico, Cooperifa cresceu, ficou famosa e tem gente que já não gosta. “Ah, se vendeu!”. Tem aquele monte de coisas. “Não gosto porque o Sérgio é ditador, porque não gosto do Jairo, porque não gosto da Rose”. É a vida (risos). A vida é assim, e eu faço parte, sou ser humano também.
P/1 – Sérgio, então em 2015 a gente conversando nesse projeto de memória dos saraus, então a partir da experiência de vocês a coisa pipocou, multiplicou, né? Como você vê isso hoje?
R – Eu vejo positivo. Nossa, devia ter três mil saraus. Porque o que a gente está fazendo está levando as pessoas a ler, está levando as pessoas a pegar no livro. E eu estou indo nas escolas, ontem a escola que me convidou, preparou um sarau com os alunos. Então eles tiveram que ler Carlos Drummond, Fernando Pessoa, eles leram pra me receber, pra me receber a professora achou fazer bem um sarau. Só que já é o segundo sarau que eles fazem. Então tem escola já fazendo vários saraus, está usando a poesia, então a poesia entrou dentro da escola e da forma mais humilde, entendeu? Então é isso que despertou nas pessoas, a simplicidade que é, que a Cooperifa trouxe a literatura. Então não veio como raio e um deus segundo atrás do raio, o deus do Olimpo, sabe um Paulo Coelho com martelo e um ramo aqui de oliveira? “Leiam, seus imbecis! Leiam, malditos pobres, e negros, e mendigos!” (risos) Não. Então acho que isso é o sucesso da Cooperifa, acho que foi isso que inspirou. As pessoas falam: “É, mas pode ser uma moda”. Ué! Pô, que dá hora, que seja uma moda.
P/1 – Está durando a moda, né?
R – Está durando a moda, mas que seja uma moda. Já pensou, o livro sendo uma moda, a literatura sendo uma moda? Eu vejo com bons olhos. “Ah, tem sarau que tem samba, tem sarau que tem iêiê”, Não tem problema. Pra mim, literatura tem que se propagar porque a gente é governado por quem gosta de ler, né? E a gente precisa contextualizar as leis, até pra entender porque ele está no barraco ele tem que ler, que ele vai entender porque ele está ali, através da leitura. Teve gente que voltou a estudar, teve gente que se formou, teve gente que fez mestrado, na Cooperifa. Tem uma história linda do Dinho Love, que ele fazia poesia e de repente ele sumiu, aí eu fui atrás dele. Não. Ele foi pra escola, aí ele vinha na quarta. “Na quarta, não. Na quarta o sarau é mais importante do que a escola”. Eu falei: “É mesmo, você acha?” Depois ele sumiu, eu fui atrás dele. Ele falou: “Sérgio, a escola é mais importante do que o sarau” (risos). Aí eu falei: “É isso”. Mas ele não foi doutrinado, o ar que sobe ali que... não tem essa coisa: “Faça isso, faça isso”. Lógico, a gente fala: “É importante ler”. Por exemplo, quando nós distribuímos oito mil livros na comunidade, quando eu fui pedir livros numa ONG o cara perguntou: “Mas pra que você quer esses livros?”, eu falei: “Eu queria distribuir pras pessoas” “Pras pessoas?” “É, pessoas” (risos) “Mas como assim?” “É, livro, pessoas” (risos). “Sabe, a gente estava tentando juntar as duas. Não sei se você sabe, são as pessoas que leem os livros” “É, mas a gente só doa livro pras bibliotecas” “Pois é, devia experimentar dar livro pras pessoas, as bibliotecas não leem livros. Ainda que sejam importantes”. Você vê, até quem trabalha com livro não imagina que o livro é pra alguém ler. Esse é o país que nós vivemos. Até quem trabalha com livro não acha que esse livro é pra chegar na sua mão. Numa escola tem biblioteca, só que o livro poderoso está escondido porque ele é patrimônio, ele não pode estragar. Você está me entendendo? Aí ele fica escondido. Aí no próximo mostra, o livro continua novo, só que ninguém leu. É isso (risos).
P/1 – Você queria falar um último poema pra encerrar e depois a gente tem uma última pergunta de praxe.
R – Certo. Eu queria falar um bem simples: “Enquanto eles capitalizam a realidade eu socializo meus sonhos” (risos).
P/1 – É isso aí. E a gente tem uma pergunta de praxe pra todo mundo que é: O que você achou de ter contado a sua trajetória de vida aqui no Museu da Pessoa?
R – Cara, eu gosto de contar minha história, que é uma história que tinha tudo pra ter outro final, né? E eu gosto de contar, eu contei praticamente essa história ontem, de uma forma mais sucinta, mais rápida, mais alegre, né? Porque os alunos recebem de outra forma esse tipo de palestra, então tem que ser muito mais parecido com eles do que parecido comigo. Eu gosto, cara, é como se eu estivesse me vingando do passado, eu gosto de ficar me gabando. É como se dissesse ao passado: “Se fodeu, hein?” (risos). “Não era isso que você queria, mas...” Desculpa falar palavrão aqui, é que eu esqueço.
P/1 – Pode falar, ficou ótimo. Como é que é? Você fala pro passado?
R – Não, é pra me vingar do passado, como se eu dissesse ao passado: “Ó, você se fodeu. Achou que eu não ia ser ninguém, olha eu aqui”, entendeu? Então levou pra isso, pra me vingar do passado. Então eu conto, quando eu conto isso é como se eu estivesse menosprezando o passado.
P/1 – Muito bom, Sérgio. Então, muito obrigado, viu?
R – Eu que agradeço.
P/1 – Então é Brasil inteiro. Crato?
R – Crato! Vixe maria, você não tem noção. Eu fui agora em Maranhão, cara, eu fui em Tocantins. Eu fui em Porto Alegre num lugar que é perto daquele filme que fez o Jorge Furtado, Ilha das Flores.
P/1 – Ah tá.
R – Eu esqueci o nome da ilha. São várias ilhas. Tem uma biblioteca comunitária onde estão fazendo sarau lá inspirado na Cooperifa.
P/1 – Olha só. Mas conta a história do xaveco pra gente.
R – Nessas andanças eu sempre falo da importância da literatura, como é importante ler, a sabedoria, o conhecimento e tal, né? Aí eu nessa história o moleque perguntou pra mim: “Ah mano, mas me dá bom motivo pra ler, eu vou ler por quê?”. Sempre tem, né? Eu fiquei pensando e falei: “Ah mano, quem lê xaveca melhor” (risos). Aí os moleques: “O quê, o quê? Onde tem esse livro aí? Onde é que eu acho esse livro de xavecar e não sei o quê?”. Foi aquele alvoroço. Aí a menina levanta: “Ué poeta, mas e nós, meninas, o que você diz pra nós?” “Quem lê não aceita qualquer xaveco” (risos). Então é isso.
P/1 – Muito bom! Legal demais, cara.
FINAL DA ENTREVISTA
Recolher