P/1 – Egnalda, então, pra gente começar, eu vou pedir pra você se apresentar. Você diz seu nome, data e local de nascimento.
R – Egnalda Côrtes, sou nascida em São Paulo, especificamente no Hospital Leonor de Barros, no Tatuapé. Tenho... Agora estou prestes a fazer 47 anos, sou do dia 20 de outubro de 1973. Meu pai, Arnaldo Aragão Côrtes, minha mãe Egdávia Silva Côrtes e daí vem o meu nome, que é a típica criatividade nordestina. Sou paulistana, mas meus pais são baianos, ambos comerciantes há muitos anos.
P/1 – Você começou a falar; o que cada um fazia? Você tinha falado um pouco...
R – Ah, sim, era pra falar? Eu pensei que era pra falar menos, por isso que eu diminuí. Então, meus pais... Meu pai chegou aqui em São Paulo em 1961, ele tinha catorze anos. Ele trabalhou de tudo, fez de tudo. Mas ele trabalhou, inicialmente, em fábrica, numa fábrica de cordas. Depois meu pai foi ser autônomo. Meu pai foi taxista, perueiro, pipoqueiro, marreteiro, até chegar a, de fato... Carreteiro, que são esses caras que fazem carreto com peruas Kombis. Aí ele se tornou, quando eu estava ali, por volta dos sete anos, não lembro o ano agora, 1980, meu pai começa, então, o comércio de ferros. Minha mãe chegou em São Paulo aos dezenove anos, já casada com o meu pai, porque ele foi pra lá pra casar. Foi, conheceu minha mãe e casou. Ela trabalhou, inicialmente... Quando eu estava com cinco anos, minha mãe começou a trabalhar. Ela trabalhou no Metrô, como agente operacional, aquela galera que fica na linha de bloqueio. Minha mãe trabalhou por dez anos no Metrô, e depois saiu do Metrô para trabalhar com meu pai, no comércio dele.
P/1 – Conta a história de como eles se conheceram, que você disse que ambos têm origem na Bahia.
R – Isso. Olha só que pergunta curiosa! Nunca me perguntaram isso. E é uma história que eu só conheço porque eu convivi com a minha avó paterna. Meus pais... Minha mãe era desse interior, o nome da...
Continuar leituraP/1 – Egnalda, então, pra gente começar, eu vou pedir pra você se apresentar. Você diz seu nome, data e local de nascimento.
R – Egnalda Côrtes, sou nascida em São Paulo, especificamente no Hospital Leonor de Barros, no Tatuapé. Tenho... Agora estou prestes a fazer 47 anos, sou do dia 20 de outubro de 1973. Meu pai, Arnaldo Aragão Côrtes, minha mãe Egdávia Silva Côrtes e daí vem o meu nome, que é a típica criatividade nordestina. Sou paulistana, mas meus pais são baianos, ambos comerciantes há muitos anos.
P/1 – Você começou a falar; o que cada um fazia? Você tinha falado um pouco...
R – Ah, sim, era pra falar? Eu pensei que era pra falar menos, por isso que eu diminuí. Então, meus pais... Meu pai chegou aqui em São Paulo em 1961, ele tinha catorze anos. Ele trabalhou de tudo, fez de tudo. Mas ele trabalhou, inicialmente, em fábrica, numa fábrica de cordas. Depois meu pai foi ser autônomo. Meu pai foi taxista, perueiro, pipoqueiro, marreteiro, até chegar a, de fato... Carreteiro, que são esses caras que fazem carreto com peruas Kombis. Aí ele se tornou, quando eu estava ali, por volta dos sete anos, não lembro o ano agora, 1980, meu pai começa, então, o comércio de ferros. Minha mãe chegou em São Paulo aos dezenove anos, já casada com o meu pai, porque ele foi pra lá pra casar. Foi, conheceu minha mãe e casou. Ela trabalhou, inicialmente... Quando eu estava com cinco anos, minha mãe começou a trabalhar. Ela trabalhou no Metrô, como agente operacional, aquela galera que fica na linha de bloqueio. Minha mãe trabalhou por dez anos no Metrô, e depois saiu do Metrô para trabalhar com meu pai, no comércio dele.
P/1 – Conta a história de como eles se conheceram, que você disse que ambos têm origem na Bahia.
R – Isso. Olha só que pergunta curiosa! Nunca me perguntaram isso. E é uma história que eu só conheço porque eu convivi com a minha avó paterna. Meus pais... Minha mãe era desse interior, o nome da cidade é Amargosa, Bahia, fica perto de Santo Antônio de Jesus, a terra da farinha. Amargosa, hoje, é muito conhecida na Bahia por ser o maior forró da Bahia, o maior São João da Bahia acontece em Amargosa. Meu pai já tinha vindo pra cá e ele voltou pra visitar a mãe dele, quando ele tinha 27 anos. Ou seja: ele chegou aqui em São Paulo, com treze, catorze, e só voltou treze anos depois, pra ver a mãe dele. E minha mãe morava em frente a casa da minha avó paterna. Então, minha avó materna e minha avó paterna eram vizinhas. Além de ser vizinhas, elas eram comadres. Comadres na casa de farinha, porque minhas avós, ambas, eram mulheres da roça. Plantavam mandioca, faziam farinha, biju. Minha avó Evangelina, além disso, era rezadeira. Era também uma mulher contadora de causos, lavadeira, encantadora de gente. Essa era minha avó. E aí, meus pais, segundo a minha avó... Primeiro que as duas sempre sonharam que seus filhos formassem pares. Minha avó Evangelina, a mãe do meu pai, queria que três dos filhos dela se casassem com as três filhas da minha avó Antônia. Não aconteceu, mas aconteceu da filha derradeira da mais velha de Dona Antônia se casasse, então, com o filho derradeiro do mais velho da Dona Evangelina. Então eu tenho aí os meus pais formando esse par ali, em 1973. Eles se conheceram em janeiro, meu pai foi passear. Diz minha avó, também – que isso meu pai nunca contou, e ele só descobriu que eu sabia no dia que eles fizeram 25 anos de casados – que meu pai era noivo aqui em São Paulo. E a minha avó falou que ele chegou lá, se apaixonou pela minha mãe. Acho que ele chegou em dezembro de 1972 e esticou, sabe, essas férias. Aí, em janeiro, ele tinha que voltar, e pediu minha mãe em casamento. Ele voltou pra São Paulo, terminou com a noiva que tinha aqui e começou a montar a casa dele aqui, pra morar com a minha mãe. Voltou pra Bahia, matou um boi e fez a festa de casamento. Então eles vieram pra cá em outubro... Não, em julho de 1973, porque eles se casaram em 27 de julho de 1973. Vinte e sete de julho? Vinte e sete de junho, perto de São João. Foi no dia 27 de junho de 1973. Eles se casaram e eu nasci em outubro. Sim, demorei alguns anos para descobrir que eu não tinha nascido de quatro meses. Porque eu fui falar na escola... Quando a professora falou que as crianças nasciam de nove meses, eu levantei a mão. Tinha uns dez, onze anos, acho que onze anos, dez, aula de Ciências, professora Sandra. A professora explicando a gestação, “o bebê, depois de nove meses...”, eu levantei a mão e falei: “Professora, é impossível”. Ela: “Por que, Egnalda?” “Porque eu nasci de quatro meses”. Ela: “Como assim?” “Minha mãe se casou em junho. Julho, agosto, setembro, outubro; eu nasci em outubro, logo, eu nasci de quatro meses”. Aí, a professora: “Egnalda, depois, na hora do intervalo, nós conversamos”. Foi a maior decepção da minha vida descobrir que minha mãe tinha se casado grávida! Como assim? Naquele momento da minha educação se falava muito que namorava, casava e depois engravidava, as pessoas não engravidavam antes. Então foi muito estranho isso. Obviamente eu não fui perguntar pra minha mãe, mas eu olhei pra ela bem estranho, assim. Eu perguntei pra minha tia, minha tia falou que era, e que ela também tinha acontecido a mesma coisa, e que a irmã mais velha também. Então, as três se casaram grávidas. Mas isso foi, pra mim, com onze, dez anos, uma revelação muito contraditória com a educação que estava sendo dada. Aí começam as descobertas, né, dessa fase, da pré-adolescência que, na época não era isso, era criança, né? Só existia criança e adolescente, mas, enfim, a gente vai aprendendo. Mas foi bem engraçado eu, na sala de aula... Mas ninguém tirou sarro, ninguém riu. Só a professora que olhou pra baixo, fez um sorrisinho discreto e falou: “Egnalda, depois, na hora do intervalo, a gente conversa”.
P/1 – Egnalda, você mencionou a sua avó e que ela te contou essa história, de como seus pais se conheceram.
R – Sim, é
P/1 – Quem eram as pessoas que te contavam histórias, na infância? Você era uma criança que gostava de ouvir histórias?
R – Eu era uma criança inventiva. Eu não tive contador... A única contadora de história, mesmo, da minha infância... E que eu não tive tanto contato, porque eu conheci minha avó com cinco anos, quando nós fomos pra Bahia, e depois, quando eu estava com oito anos, eu era uma moça mais corajosa, aí... Meus pais não viajavam sempre, não tinham condições, mas quando eu tinha oito anos, meu pai falou: “Você quer ir ver sua avó?” “Quero” “Mas você vai ter que ir sozinha, de caminhão, com seu tio”. E eu fui. Dos oito aos onze anos eu fui, meu sonho era ser caminhoneira, eu tinha certeza que eu seria. Eu viajava de caminhão, e eu pude conhecer... A gente vai chegar na contação de história, que agora eu estou lembrando: os meus tios foram bons contadores de histórias também, porque durante... Na boleia são tantas histórias! Eu conheci puta muto cedo. As paradas de caminhoneiros. Meu tio se sentia mais seguro nas paradas onde tinha as ‘meninas da vida’, as ‘mulheres da vida’, que era como eles chamavam, mas na época ele não falava pra mim que aquelas eram meninas diferentes, não. Meu tio parava... Uma parada que era o seguinte: um casebre todo cheio de luzinha colorida; as moças muito simpáticas, sempre com um batom muito forte, diferente do que eu via na minha mãe, na minha tia. O sutiã, a alcinha sempre aparecendo, e era sempre muito colorido: pink, vermelho, e elas muito acolhedoras. Recebiam eu e meu tio com a comida mais gostosa do mundo, um tempero e um carinho, sabe? E nada além disso. Recebia a gente, meu tio não saía, não. Ficava ali, almoçava, e saía junto comigo. Eu sentia que ele se sentia mais seguro nesse ambiente, comigo, do que nas paradas de caminhoneiro. Nas paradas de caminhoneiro ele ficava muito tenso, na porta do banheiro, me esperando, esperando eu tomar banho, eu me arrumar, eu fazer xixi ou escovar os dentes. Então, eu lembro que ele ficava muito mais tranquilo nessas outras paradas. E o meu tio contava muitas histórias nos caminhos, sabe? Eu acho que a questão de acessar as humanidades sem preconcepções, eu aprendi muito cedo, porque ninguém me colocou... Meu tio não me colocou que aquelas meninas eram boas, eram ruins, que eu não podia... Não. Eu nunca nem contei pra minha mãe, porque eu as achava tão lindas! Achei que era uma coisa natural. Depois, quando você vai ficando adulta, que você vai entendendo quem eram aquelas meninas. E aí, minha avó era uma contadora de causo. Ela levava a gente pra casa de farinha... Pense que, numa época onde a luz era de lampião, então escurecia e você ficava com uma lampiãzinho. Aí, naquela caminhada da roça, minha avó vinha com as histórias de lobisomem, e ela tinha uma forma de contar histórias! O casamento dos meus pais ela contou como se tivesse sido a maior festa, o maior evento daquela cidade. Então, eu a tenho como uma encantadora de gente. E eu nunca soube que ela era lavadeira, descobri há cinco anos. E por que eu descobri? Porque eu fui ligando os pontos. Porque a minha avó, os filhos dela não moravam com ela, todos estavam em São Paulo, já estavam espalhados, os cinco filhos. Tinha muita roupa. Ela nunca falava pra mim: “Vamos lavar roupa”. Como ela me chamava: “Filha, vamos na fonte?” E aí, pra criança que é da cidade, ir pra uma cidade do interior e ficar brincando de encaixar a lata d’água na cabeça era muito divertido. Chegava na fonte, eu só lembro do sol ardendo na minha pele, um sol gostoso e aquela música. Ela cantava. Então eu não me tocava, sabe, que a lavação de roupa era o principal. Pra mim, o principal era elas cantarem. Esse ano a gente teve um prêmio pra uma escola de samba, que foi As Lavadeiras de Abaeté, se não me engano, e eu lembrei muito da minha avó, porque é isso, a voz delas é uma voz que encanta, enternece, e que a criança não tem noção. Então, quem eu era ali? Uma criança encantada. Óbvio que, nessa lavação, ela falava que ia quarar roupa, mas eu nunca me toquei que aquilo era um trabalho, porque ela se colocava no lugar de protagonismo. E eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos anos, porque: de onde vem a minha autoestima? Vem de pessoas assim, de mulheres que se colocavam na primeira pessoa. Ela contava as histórias dela e, dentro das histórias dela, ela não era uma pessoa qualquer. Ela era valente, a que enfrentava as pessoas. A minha avó, só de ir pra missa com ela, era um evento. Um quilômetro e meio de caminhada, pra igreja. E aí, durante a caminhada, era assim: “Bênção, Dona Vigi!” “Deus abençoe!” Rezadeira, então todo mundo pedia bênção. “Dona Vigi, quem é essa menina bonitinha aí, com a senhora?” Aí ela respondia: “Essa é minha neta de ‘Sum’ Paulo, não conhece, não?” “Não sei, não, Dona Vigi. Que menina bonita! Mas é filha de quem?” “Ah, minha filha, essa é filha de Dava” – Egdávia, que encurtou pra Dalva e virou, na voz da minha avó, Dava – “a menina derradeira da mais nova de Dona Antônia, com meu menino derradeiro do mais velho, Arnaldo, derradeiro de Diogo. Sabe quem é?” “Ah, é aquele seu menino de ‘Sum’ Paulo?” “Isso, minha filha, essa é minha neta mais velha”. E assim a gente ia. Minha avó saía, sei lá, duas horas antes de começar a missa, porque ela tinha satisfação em falar dessa neta, em contar a história, que era filha da derradeira. E assim a gente ia. Então, a contação de histórias, eu ouço histórias a partir dessas vozes. Depois, minha tia e minha mãe traziam as histórias da minha bisavó. Minha mãe falava – e minha mãe não é uma contadora de história, mas ela falava o quanto ela se encantava com a minha bisa, Dona Zezé, que é a avó dela, que ela sentava e falava: “Sua avó parecia uma rainha”. Ela sentava – noventa anos, parece, porque ela morreu com mais de noventa –, colocava os netos e contava as histórias dela. Aí, nas histórias dela, de novo, óbvio, ela era a atriz principal. E aí, quando você ouve essas histórias, você começa a construir as suas também. Então, hoje eu acredito, de verdade, que o meu maior talento é contação de história. Eu sou uma contadora de história disfarçada de negociadora. Mas, quando você vai um pouquinho mais pra trás, no movimento de sankofa, que é um adinkra africano, que é um pássaro, né, esse movimento de sankofa é um pássaro olhando pra trás e se projetando pra frente. Que é: olhando pro passado, a gente se projeta pro futuro. Então, olhando um pouco mais atrás, em Benin, mulheres no século, ali, 1200 e pouco, eram essas mulheres que iam pra feira, eram grandes negociadoras dos condados das etnias. E elas saíam pra feira pra negociar contando histórias. A negociação nada mais é que uma contação de história, onde os dois lados importam, não só um lado, sabe? Então, esse talento mesmo vem desse lugar de pessoas, bons contadores de histórias que, óbvio, cada um vai construindo esse conteúdo da forma que melhor lhe convém. Então, assim, óbvio que o fato de eu ter ido pra um lugar – eu falo –, na vida, que me conduziu para negócios, pra área comercial, esse conteúdo da infância fez muito parte. Eu me tornei aquilo em que eu fui construída, mesmo. Porque eu inventava histórias, várias, na minha cabeça. A primeira história que eu inventei pra mim foi... E eu acreditei até os onze anos. Com cinco anos eu ouvia: “Egnalda, me abrace forte, Egnalda, me conta uma história, Egnalda, me faça dormir, Egnalda”. Eu tinha absoluta certeza que o Roberto Carlos cantava pra mim. Eu achava estranho como que ele sabia meu nome! Mas ele cantava pra mim. E aí, quando eu entrei na escola... Eu estou falando de 1978, onde a xenofobia, que ainda é muito presente hoje... Naquela época, ser filha de nordestino era motivo de chacota. E eu me orgulhava tanto ser filha dos meus pais, ser sobrinha dos meus tios, ser neta das minhas avós! Então, foi tão automático, assim, eu tinha tanto orgulho disso, isso foi uma vida inteira, eu usei muito bem essa história, ser filha de nordestinos. O meu nome sempre denunciou esse lugar, e eu não fiz disso um... Por isso que eu nunca gostei de apelidos. Eu não quero que diminuam meu nome. O meu nome é Egnalda, eu sou a somatória dos meus pais. Quando me chama de Eg ou Gui, é quando tem muita intimidade e quer diminuir, mas não... Você quer um apelido, porque de repente não gosta do nome. Eu amo meu nome, eu o acho sonoro. Eu falo Egnalda Côrtes, mais por uma questão de mercado, porque, pra mim, seria apenas Egnalda, porque é sonoro. E quando eu inventei essa história na minha cabeça, eu ouvia o Roberto, quando eu cheguei na escola, com sete... Fiz prezinho, com cinco anos, seis. Quando eu entrei no primeiro ano, o primeiro bobinho lá, querendo tirar onda, o Luciano – eu lembro do nome do menino –, veio: “Ai, Egnalda, não sei o que, não sei o que, testão de amolar facão”. E eu já achava que eu era testão porque eu era muito inteligente. Então, tudo eu inventava uma história pra mim, pra me proteger. Mas isso não pegou. Pegou quando ele falou assim: “Ai, esse nome, sua baianinha”. Eu falei assim: “Olha, eu não sou baianinha, meus pais são, mas eu não sei se você tem uma música que o Rei canta, porque eu tenho”. Aí: “Ahn?” Eu falei e comecei a cantar. Todo mundo, na escola, acreditou, porque criança é criança. Mesmo quando se tem maldade, ainda é criança. Então, todo mundo começou a escutar Egnalda. Até os onze anos eu sustentei essa história, gente. Depois eu já tinha autoridade total, eu já era ‘A Egnalda’ e, se era cantada pelo Roberto ou não, era uma outra história. Mas essa construiu uma autoridade, entendeu? Uma pessoa que tem um nome cantado pelo Rei! Eu estou falando de uma época que ele era ‘o’ cara. Então, essa questão da contação de história é muito primordial. A gente está falando sobre narrativa, e as narrativas determinam a história. O que nós temos no Brasil, hoje, foi uma narrativa contada. Quando você descobre a narrativa da qual você faz parte, de fato, não a que é contada pela terceira pessoa, né, a que contam de você, onde você é objeto e não sujeito, aí as coisas mudam. Só que isso, todo esse conceito, eu defendo hoje. Na época, eram essas as histórias. Aí cheguei na faculdade, a mesma história de sempre, né: a única negra era eu, mais uma ou duas pessoas, mas na questão de classe, de fato, eu era muito diferente dos demais. Eu fiz a Faculdade Anhembi-Morumbi, de Turismo. E aí, o meu nome incomodava, a minha alegria incomodava. E por que incomodava? Porque todo mundo estava com sono, porque todo mundo morava perto: Morumbi, Itaim Bibi, Moema, e eu estava, gente, acordada, desde as cinco horas da manhã. Porque eu saía daqui cinco horas da manhã, pra chegar na faculdade. Então, óbvio que eu chegava na faculdade super agitada. Aí, a primeira coisa, assim: “Onde você mora?” Eu: “Itaim Paulista” “Ahn? Ah, já sei, aqui perto”. Eu falei: “Não, não, não, não, é no extremo da zona leste”. Não, minto, eu não falava assim, não. “Não, não, não. É onde moram as princesas mais belas”. Aí o pessoal já ficava assim, olhando pra mim, e eu falei: “Onde moram as princesas mais belas?” Aí: “Sei lá, num reino?” “Num reino distante. Eu moro num lugar muito longe. Ele se chama Itaim, é bem lá longe”. Aí isso, sabe, foi sustentando. Não abria, não se tinha espaço para tirar onda, com uma pessoa que era uma princesa. Não tinha espaço pra tirar onda com uma pessoa que era cantada pelo Rei. Então, eu fui contando histórias. Teve uma outra há pouco tempo, quatro anos atrás: eu estava numa reunião, amigos queridos, e essa questão de ascensão, cada um dando a sua cartada, né? Ainda assim, mesmo pessoas do movimento negro, mesmo pessoas que tenham seus ideais, são pessoas, então tem os seus egos, e aí, discutindo sobre lugares, porque uma amiga mudou lá pro Butantã e estava falando: “Ai, Egnalda, por que você não muda do Itaim?” Aí, juro que foi na hora que veio essa ideia. Na hora, na hora. Eu falei assim: “Ué, porque eu sou uma mulher de negócios” “Mas então, você deveria estar perto da Faria Lima”. Eu falei: “Depende do que você quer. No caso, eu quero ficar perto da ponte aérea pra Nova Iorque. Nesse caso, eu estou perto do aeroporto internacional”. Meu, ela falou assim: “Egnalda, pelo amor de Deus, eu demorei uma vida juntando dinheiro pra vir pro Butantã” – porque ela era, também, do extremo da zona leste – “eu passei uma vida inteira com vergonha de ser de Guaianazes, uma vida inteira não sabendo o que falar ou falando baixo. Se eu soubesse dessa história, eu também estava perto do aeroporto internacional, eu poderia ter falado qualquer coisa assim, mas eu não tinha isso”. Então, quem determina quem você é, é você. Mas aí, como você aprende isso? Eu aprendi, muito, de forma orgânica. Ninguém me falou. Não foi explicado pra mim que eu deveria fazer. Eu fui fazendo e foi dando certo. E isso foi pra vida inteira. Entrei no primeiro trabalho bacana e eu me achava muito importante. Vou dizer qual foi o primeiro trabalho bacana, gente: numa holding de dez empresas. Eu entrei em 1992 ou 1991, 1992, como operadora de telemarketing. A primeira empresa que eu me achei quando eu entrei, porque era uma holding. Esses nomes em inglês, a gente dava um valor! Hoje pouco dá valor, é que eu desconstruí essa ideia. Mas, naquele momento, eu dei um valor! Era uma holding de dez empresas, onde eu iria ser uma profissão desconhecida. Ninguém sabia o que era: operadora de telemarketing. Esse nome era tão pomposo! Eu contei pra minha família, ficou toda orgulhosa. E eu já era uma pessoa de vendas, mesmo. Já tinha trabalhado em loja, fiquei pouco tempo em loja de roupas. Fiquei, acho, que quatro, cinco meses. Três, quatro meses, depois eu já fui pra uma operação de telemarketing mais roots, e eu descobri ali: eu tinha alento. Só que lá o nome não era operadora de telemarketing, era ‘consultor de vendas’, e por telefone. Eu vendi TV a cabo quando não tinha cabeamento, gente. Olha só que linda! Eu vendia TV a cabo quando não tinha cabeamento, foi logo que chegou TV a cabo no Brasil. Eu era muito boa em vendas. E aí eu consegui entrar nessa outra empresa, que era uma empresa grande e que tinha um super salário, eram três salários mínimos e um ticket. Cada um ticket, cinco McDonald’s. Eu estava rica! Eu estava me achando, gente, eu estou... Eu morava com os meus pais, eu vim de uma família estruturada, eu nunca precisei trabalhar pra sustentar a minha família. O meu trabalho sempre foi pra que eu realizasse as minhas coisas. E aí, quando eu entrei nessa empresa, que a garota propaganda era a Xuxa, eu estava estourando! No norte. E eu comecei a chamar a minha posição de atendimento – eu era muito estranha – de ‘OS’, posição de sucesso. Então, de novo, uma outra história sendo contada. Aí aconteceram coisas... Gente, eu vou contar as coisas que aconteceram? Tudo que aconteceu nesse início da minha carreira determinou a minha carreira de 22 anos, determinou a minha ascensão por 22 anos. Porque, nessa empresa, que era uma empresa que estava começando e que vendia produtos importados pelo telefone, tinha a Durashine; tinha a faca Ginsu, que corta tudo; a meia Vivarina, que não rasga com nada; tinha o kit (wiser? 28:01), cortava os legumes com uma rapidez. O kit (wiser?) [28:06] eu não consegui fazer muita coisa, não. Mas tinha um produto fantástico chamado Durashine. O Durashine deixava o seu carro muito parecido com uma Mitsubishi vermelha, brilhando, gritando. E aí, o que era inovador, dessa empresa? Naquele momento nenhuma empresa devolvia o dinheiro se você ficasse insatisfeito. Isso não existia, aqui no Brasil. E essa empresa fazia. Então eu estava num lugar muito diferente, muito inovador. Nessa empresa eles pregavam a ideia de empresa célula, empresa rede, onde todos são importantes. Pensa, pra uma pessoa que já se achava importante, estar numa empresa em que todos são importantes, então eu não tinha trava nenhuma pra... Tinha dificuldade de produto, eu perguntava pra minha supervisora: “Você sabe como funciona?”, porque os manuais ainda não estavam no sistema. Eu entrei bem no começo da empresa. “Egnalda, não tem a informação. Eu estou resolvendo coisas técnicas aqui, você pode falar com o gerente de produtos?” Na hora! E aí o gerente de produtos dava uma ideia e me entregava um manual em inglês. Eu tinha inglês? Não. Eu falei pra ele que eu não sabia? Óbvio que não. Levei o manual pra casa e traduzi. Um livro que talvez vocês não conheçam, mas era muito ‘chique no úrtimo’, que era a Barsa. Eu tinha a enciclopédia, e aí a gente tinha os dicionários de inglês, e ‘ela que lute’. Eu lutava pra poder traduzir os manuais, mas eu pedia amostra dos produtos, e o Durashine realmente deixou o carro do meu pai lindo! E um certo dia um cliente ligou reclamando, muito bravo, que o Durashine era um lixo e que não prestava e que ele queria o dinheiro de volta. Eu estava no SAC [Serviço de Atendimento ao Cliente]. Eu entrei como operadora de telemarketing, mas não durou uma semana, já me mandaram pro SAC, e eu tinha certeza que o produto dava certo. O cliente falou que não e eu falei que sim, aí eu pedi uma oportunidade pro cliente de provar pra ele que o produto dava certo. E qual era essa oportunidade? “Eu lavo o carro do senhor”. Isso era uma sexta-feira, eu trabalhava de segunda a sexta. O cliente não sabia. Aí eu falei assim: “Eu vou ligar pro senhor no domingo” – que na minha casa tinha telefone – “e no domingo nós vamos lavar esse carro juntos. Tudo bem?” “Tudo bem”. Ele lavou o carro. O ‘lavar o carro juntos’, na verdade, era eu ligar no momento que o carro estava lavado, seco, pra passar a pasta. E fui com ele, orientando como ele deveria, que teria que ter um sentido só, e eu tinha testado, mesmo. Eu tinha feito, mesmo. Fiz bonitinho, o cliente prestou atenção, seguiu as orientações e o carro ficou brilhando. Eu estava satisfeita. Afinal, o meu trabalho tinha sido feito, a excelência do atendimento tinha sido cumprida. Continuei a vida, desliguei o telefone, falei pro meu pai que, se viesse a conta, aquele valor... Porque era caro, conta, na época, mas aquela conta eu pagaria, e continuei a vida. Aí, no dia seguinte, fui pra empresa. Segunda-feira normal, trabalhando lá no meu atendimento, aquele barulhão na central – porque ficava de um lado a operação de telemarketing e, do outro, o SAC. De repente, um silêncio no andar. A empresa, apesar de ser rede, era num prédio vertical. Operadores de telemarketing ficavam no quarto andar, e presidente, gerente, o staff da empresa, no oitavo andar. O presidente da empresa tinha descido até o quarto andar. Ele nunca tinha feito isso. Sei lá, a gente estava com uns três meses de empresa, talvez. Ele desceu, quando ele entrou na central, acho que a central gelou. Sei lá, eu sei que tudo foi silenciando aos poucos, sabe? E eu continuei lá, com o meu cliente, que eu estava lá, no convencimento. De repente, minha supervisora me cutuca – porque não tinha chamada, assim, não tinha essa tecnologia, então ela me cutucou. Aí eu, né: ‘está me atrapalhando’. Porque tinham me ensinado, eu tinha sido treinada para acreditar que, para além de nós, que éramos muito importantes pra empresa, a primeira figura mais importante da empresa era o cliente. Então, eu tinha que atender meu cliente. E eu continuei. Aí eu sei que a minha supervisora, que era descendente de asiáticos, foi ficando um pouco mais pálida, porque ela passou pra frente, pra gesticular, e eu continuei aqui, focada. Quando eu terminei, aí eu virei pra saber o que era. Tinha um homem gigante, assim, todo de terno. Eu já sabia que ele era o Roberto Josuá. Ele virou e falou: “Você é Egnalda?”, aí eu: “Sim” “Você pode se levantar?” Mas aí eu já estava, um pouco, tremendo, porque eu fiquei... Deu um peso, né? O presidente da empresa estava ali. “Eu recebi esse fax”. Fax, pra quem não conhece, nos dias de hoje, seria um e-mail. Aí, no fax estava escrito assim: “Senhor Roberto Josuá, boa tarde! Felicito-te pela empresa e pela equipe que o senhor tem conduzido brilhantemente. Porém, chamo a atenção para uma funcionária sua que me atendeu nesse domingo. O nome dela é Egnalda”. E o cliente relata o que aconteceu e, depois, no próximo parágrafo, fala: “Só queria saber se aí vocês têm um lugar para que ela brilhe. Caso não tenha, aqui, na Philips do Brasil, nós temos um plano de carreira para uma guria, uma pessoa como ela. Grato, presidente da Philips do Brasil”. Essa história, depois ela pode até ter sido esquecida, assim, porque depois eu fui fazendo outras coisas e fui brilhando em outras coisas, mas foi essa história que me trouxe o primeiro grande... Sei lá, de três salários-mínimos eu pulei pra sete, em três meses. Naquele momento eu já fui promovida, dali pra mais três meses, eu fui promovida de novo. Na mesma empresa, eu acho que eu fiquei um ano e dois meses, três promoções. E, sei lá, com 21 anos, eu estava ali com dez salários-mínimos, e eu lembro disso, porque era essa a linguagem que a gente usava na época. E que é muito razoável hoje, né, você fala: uma pessoa de 21 anos, vinda desse lugar – eu estou falando de uma guria filha de nordestinos, em que o máximo que meu pai poderia sonhar pra mim era ser funcionária de Banco ou funcionária pública –, ganhar dez salários-mínimos com 21 anos, era muito sucesso! E depois dessa empresa, os gerentes, o core business dessa empresa, pra onde eles iam, eles me queriam. Ou como supervisora, ou como coordenadora, ou como pessoa de treinamento. E foi isso: eu comecei a ser disputada no mercado. Porque aí houve uma outra questão: quando eu estava numa posição já de hierarquia maior... Porque eu também fui para além, eu fazia coisas fantásticas. E era tudo muito natural pra mim, porque essa entrega, sabe? É simplesmente gostar muito do que está fazendo. Então isso foi construindo a minha história nesse mercado corporativo, e quando as pessoas me perguntam: “Quando você construiu a sua autoestima?”, eu falo assim: “Olha, eu acho que na escola, muito, porque na escola eu tive professores, histórias muito complicadas, vamos dizer, desafiadoras, mas muito mais histórias lindas”. Ter me encaixado no ensino pragmático me trouxe um lugar muito confortável. E é importante falar sobre isso, porque senão fica: “Se ela consegue, todo mundo consegue”. Eu sempre tive uma família estruturada, então isso eu acho que é uma base bacana. Eu me encaixei no ensino pragmático, e isso, pra quem está nas escolas que não entendem o indivíduo na sua peculiaridade, é um privilégio, porque, quando você não se encaixa nisso, você quem é? É o burro. Quem é que gosta de ser o burro? Quem é que gosta de ser o que não sabe nada? Essa pessoa, normalmente, se desinteressa, né. Então, eu não. Eu só tinha notas maravilhosas, professores super felizes e me potencializando ainda mais. Isso fez com que eu também passasse de fase sempre muito bem. Da Egnalda cantada pelo Roberto Carlos, eu me tornei a Egnalda que era a melhor aluna. E porque também... De onde que vem também essas minhas habilidades? Por que eu me encaixei muito fácil no ensino pragmático? Eu não sei se é o porquê, mas houve uma aceleração de educação na minha casa. Como eu passei pela pandemia de meningite em 1973... Eu tive meningite, e, naquele momento, os médicos também não sabiam o que era aquele vírus, só sabiam que ele matava. E eram bebês, eu tinha três meses de vida. Aí o médico... Eu fiquei um mês e meio, dois meses internada, me salvei, mas o médico avisou minha mãe: “Sua filha terá déficit intelectual”. O que minha mãe fez? Acho que eu tinha uns três anos, minha mãe já me ensinava a escrever. Então, houve uma aceleração. Quando eu entrei, com cinco anos, na escola, eu já sabia fazer as letrinhas, eu era muito rápida em fazer a lição. Então eu ganhava amigos por conta disso. Porque as pessoas são socializadas e aprendem muito bem o que fazer e como fazer e como sobreviver nos ambientes a partir das suas vivências. Então, naquele ambiente da escola em que existia uma hostilidade... Eu até escrevi, esses dias, no meu Instagram, a respeito. Eu escrevi uma carta aberta para a Egnalda de cinco anos. E aí, nessa carta aberta, eu falo pra essa Egnalda de cinco anos: “Não ligue para a professora Cidinha, ela parece ser má, mas nem ela sabe por que te odeia tanto. O problema é dela, não é seu. Você e o Hélio são, de fato, as crianças não quistas por ela, mas, de novo: o problema não é seu. No dia da formatura lembre-se de não ficar perto dela. Aquele corte... Se você ficar perto dela, haverá um corte nas suas costas, que vai te marcar pra uma vida inteira. Vai passar, mas vai te ferir”. Porque, no dia... Essa professora era uma pessoa muito racista. A escola municipal, gente, dessa época, exigia que as crianças tivessem uniforme, cadernos. Uma criança que não tinha nada disso, não podia entrar na escola. Então eu tinha o shortinho, a camiseta, a mochilinha e o tênis Conga, vermelho. Mas eu não tinha o uniforme de inverno. E eu ia pra escola... Cheguei a ir para a escola com cinco graus em São Paulo, de shorts, camiseta, uma blusa... Minha mãe conseguiu comprar a blusa, que era uma blusa Adidas. Na época, eu não sei que doideira, que exigia os uniformes, assim, mas minha mãe não sabia que na sala não tinha cadeira pra mim. Nenhuma criança sentava na cadeira. Minha mãe não sabia. Minha mãe achava que todo mundo tinha cadeira. E aí, quando a professora percebeu que eu não estava conseguindo escrever porque era muito frio e... Minha mãozinha ficou geladinha, assim, congelei, né? Muito frio. As pernas sem nenhuma cobertura. E eu não falava nada pra minha mãe, porque eu gostava de ir pra escola. Aí a professora percebeu, avisou minha mãe que, se ela não me mandasse uma almofada... Porque as outras crianças tinham almofadas, e minha mãe não tinha como comprar uma almofada. O que minha mãe fez: quando ela ficou sabendo, “Por que mandou um bilhete?” Minha mãe tinha duas calças jeans. Ela cortou uma e, das duas pernas, ela fez duas almofadas pra eu nunca mais ficar sem almofada. E aí, pra você ver as construções do que é bonito, do que é legal: eu, na minha concepção, tinha a almofada mais maravilhosa do mundo, era da calça da minha mãe. Depois, quando minha mãe entrou no Metrô, que começou a ter salário, aí ela comprou uma almofada chique, bonita. Eu lembro dessa almofada porque era bonita, mesmo, mas até eu ver aquela almofada, a almofada mais maravilhosa era aquela que minha mãe tinha feito, mas pra eu não passar frio. E aí, como eu passo por essa violência na escola, com a professora, e ainda continuo? Em casa eu tinha, já, aprendido a gostar de estudar. Na escola eu amava a professora Cidinha. Mas eu amava estar com meus amigos e amava mais ainda o reconhecimento que eu tinha quando eu fazia todas as lições. Então, passar por esse ensino, se encaixando nesse perfil, construiu também essa autoestima. Porque eu era sempre a ‘Egnalda nota dez’. Peguei... Eu tenho meu histórico. Peguei outro dia, pra mostrar... Caiu do guarda-roupa, aí eu falei: “Gente, meu histórico”. Aí a Maria foi ver, minha filha de treze anos. Ela: “Nossa, mamãe, você era muito Caixas. Olha a sua média!” Então óbvio que isso fez a construção de uma pessoa otimista, que projetava sempre o melhor e, nesse futuro, isso foi só se repetindo. Eu acho que o que, hoje, eu faço na vida... Porque quando você tem essa possibilidade, você não deixa de sonhar. O que é mais cruel, o que pode haver de mais cruel é ceifar os sonhos, e os sonhos podem ser ceifados, se fizerem você acreditar que você é menor do que você é. Se você não souber a potência de ser quem você é, você não sonha, porque é como se você não pudesse sonhar. Acho que hoje a minha vida se pauta muito nisso, de falar pro outro o quanto ele pode sonhar. Por isso que essa contação de história, pra eu fazer venda, é isso que eu construo. Quando as pessoas começam a trabalhar comigo e vêm o que eu escrevo delas: “Egnalda, eu não sou tudo isso”, eu falo assim: “Você é. Eu não vou te convencer, mas que você é, você é”. Então, eu consigo trazer, do mesmo jeito que eu fiz comigo, eu consigo fazer com o outro, porque, de fato, as pessoas... A gente é uma constelação, gente. A humanidade é uma constelação, e dá pra todo mundo brilhar. Mas quando esse brilho é ofuscado ou apagado, as pessoas deixam de sonhar. E aí, o ‘deixar de sonhar’, é deixar de conquistar, de realizar, de transformar. O mundo é transformado pelos sonhadores, pelos idealistas, que realizam, né? Porque ninguém, também... Só ficar parado, sonhando. É sonhar e fazer. Ter obstinação é importante? É. Ter ambição, mais ainda. Quando você lê na História, todas as mulheres que mudaram o percurso da História, a ambição era a mola propulsora delas. Porque o que estava dado, elas não abraçavam. Elas não se contentavam. Então, acho que todos esses ingredientes, na minha vida, vieram como componentes químicos, e eu sendo um catalisador, que utilizei muito bem desses componentes, desses afetos. Porque até o medo, que é importante, que é um grande vetor, um sinalizador, pode ser uma possibilidade de transformação, se ele não te paralisar, se ele fizer você se mover. Então, em vários momentos, até hoje... Ontem eu estava em um dia bem triste, me achando não tão potente, não tão realizadora. Isso porque eu sou um ser humano completo: eu tenho a minha luz e tenho os meus momentos de sombra. Então, quando eu me vejo na sombra, quando eu, por exemplo, fico em dúvida, por conta de sentimentos, qual decisão tomar... Porque é muito complicado quando você tem um olhar humanista pra tudo, porque você não consegue enxergar, é difícil você... Eu vou falar na primeira pessoa: eu não consigo, tenho dificuldade de enxergar as mazelas do ser humano. Porque existem, elas estão ali, mas o outro lado é tão fantástico! E esse é um exercício que tenho feito, na vida, na terapia, mas eu, ainda assim, quero acreditar, sabe, num mundo a partir das pessoas, porque não existe outra forma de mudar o mundo, se não for a partir das pessoas. Mas óbvio, até hoje eu caio, isso faz parte da jornada. A gente nem dá valor pra erguida, pra aceleração. Se você não tiver queda... Mas eu vivo intensamente todos esses momentos: sofro, tenho dor, assim, drama. Ao mesmo tempo, quando eu fico feliz, fico esfuziante, me entusiasmo, falo alto.
P/1 – Egnalda, eu queria que você falasse, descrevesse, como era a sua casa na infância. Antes disso, eu preciso te perguntar: você tem irmãos, irmãs?
R – Tenho. Vou falar. Ai, gente, eu não falo dos meus irmãos.
P/1 – Quantos irmãos?
R – Eu tenho dois irmãos: eu tenho a minha irmã, Ednéia, que a gente tem uma diferença de um ano e oito meses, né, passei a minha infância com ela. Então, eu hoje vou fazer 47, ela tem 46. Quarenta e seis ou 45? Quarenta e cinco anos, ela tem. Minha irmã tem 45 anos e o meu irmão tem 37 anos, que é o caçula. É uma diferença de dez anos de mim pra ele. Então, minha irmã, Ednéia, e o meu irmão é o Fábio.
P/1 – E eu ia te perguntar, pedir pra você descrever como era sua casa, qual a lembrança que você tem da casa onde você morou na sua infância, o bairro, esse entorno...
R – Gente, sabe que deveria... Se eu soubesse que iam ser essas perguntas, assim, a gente poderia ter gravado na casa dos meus pais, porque a casa que os meus pais moram hoje é a casa melhorada da casa que fez parte da minha infância. A primeira e segunda infância, vai, foi aqui, ainda, na Vila Alabama. Eu sempre fui daqui. Só que era um pouquinho mais adiante, era uma casa... (cantando) “Era uma casa muito engraçada...” Tinha teto. Era uma casa de dois cômodos, com banheiro pra fora de casa. Tinha um milharal e tinha girassóis. Eu não tinha boneca, e as minhas bonecas eram sabugos de milho. Eu tinha certeza que aquele verdinho era o cobertor da minha boneca imaginária e o cabelinho dela era loiro. Então, foi nessa casa que eu fiquei até os sete anos de vida, que eu brinquei com a minha irmã, que eu achei que era a Poderosa Isis. A Poderosa Isis é da mesma... Gente, as séries constroem o ser humano, porque tinha a Mulher Biônica, o Homem Biônico – que era o homem de seis milhões de dólares –, tinha a Mulher Maravilha. Mas eu era a Poderosa Isis. Ela tinha o poder... Ela era uma arqueóloga que descobriu um artefato egípcio. Eu escrevi sobre isso, outro dia, também, que muito do que eu sou hoje, muito, são construções da infância, porque tipo: eu amo bracelete. Não sei há quantos anos eu uso braceletes. E a Poderosa Isis era essa mulher, cheia de... Enfim, ela se tornava uma... A filha de Osíris, se eu não me engano. Essa arqueóloga era uma professora que descobriu um artefato egípcio e aí ela se transformava na Poderosa Isis, e aí, quando a Poderosa Isis colocava uma pedra na testa, ela falava: “Poderes do furacão, não sei o que, me faça voar”. E eu ficava no quintal, criança, negra, com cabelo curto, pegava a toalha... Porque a Poderosa Isis, apesar de estarmos falando da cultura egípcia, negra, obviamente que essas heroínas eram todas brancas americanas. Então, a Poderosa Isis tinha um cabelo longo, até aqui, mas isso não me deixava num lugar menos potente, sabe? Eu me via como a Poderosa Isis. E, nesse quintal, eu brincava muito. Depois, quando eu estava com oito anos, aí a gente ficou bem, outro nível, porque aí meu pai comprou a casa própria, que é essa que ele mora até hoje, e aí tinha azulejo na cozinha. Isso era algo muito... Para nós, assim, era algo de status, azulejo na cozinha e o banheiro pra dentro de casa. E tinha, nessa casa nova, azulejo na cozinha, banheiro pra dentro de casa, e o nosso quarto –porque eu e minha irmã, a gente dormia junto com os meus pais, na outra casa. Nessa casa nova, cada uma... Cada uma, não, nós duas tínhamos o nosso quarto e, enfim, aí meu pai foi aumentando a casa e daqui a pouco essa casa teve biblioteca, que era onde a gente estudava. Dali a pouco essa casa ficou enorme. É aqui perto de casa, em frente a minha casa. É uma casa de esquina, gigante. Porque eu acho que meu pai achou que a gente ia ficar morando com ele a vida inteira, então ele fez uma casa pra todo mundo (risos) morar, praticamente. É muito grande. Mas era uma casa menorzinha, que ele foi... Era uma casa menorzinha, mas pra nós já era muito grande, porque tinha dois quartos, tinha banheiro pra dentro de casa, tinha lavanderia e tinha um quarto pra nós. Um quarto pra minha mãe e meu pai e um quarto pra nós. Então, foi aí, nesse lugar, na Vila Alabama, que foi a minha infância e onde eu moro até hoje. A gente só mudou as composições, onde estamos morando. A minha irmã também mora aqui, na parte de cima, e o meu irmão mora muito perto daqui, a uns quinze minutos. Os meus dois sobrinhos que estão aqui hoje são os filhos do meu irmão. Então, a minha infância foi muito mais vivendo com a minha irmã do que com meu irmão, que chegou dez anos depois. Ele era o bebezinho. Quando eu tinha catorze anos eu era a irmã mais velha, pra proteger, então eu não brinquei com ele, eu fui a protetora dele. É diferente a relação. Mas vocês estão fazendo umas perguntas, né? Sabe que essas perguntas nunca me foram feitas? Nunca. Eu nunca respondi esse tipo de pergunta, da minha infância. Por isso que eu não queria assistir. Ela me passou pra eu ver, aí eu só vi os personagens, mas eu não quis assistir, pra eu não ficar projetando, porque eu acho que o que sai naturalmente sempre é muito mais gostoso, o olho, é o brilho. Quando é muito elaborado, aí já perde o rolê, já perde a graça, pra mim. Por isso que eu, particularmente, gosto de materiais assim. Não, e eu acabo tendo não homéricas discussões, mas alguns entrevistados, algumas pessoas que eu convivo: “Ai, me passa antes”, eu falei assim: “Você quer elaborar?” Mas aí é porque vem de uma outra formação, é professora, tudo tem que ser muito não sei o que, porque tem que saber a bibliografia. Bibliografia a gente pega na biblioteca. As minhas referências têm várias que vieram dos livros, mas as mais importantes, aquelas que me construíram como ser humano, essas foram da vida, foram as pessoas que me atravessaram. As bibliografias são extremamente importantes, são conteúdos fantásticos, não desmereço nenhum pesquisador. E quando eu faço, falo algum pensamento deles – que é muito difícil eu fazer, trazer isso nos meus discursos –, eu coloco, eu falo de onde vem. Mas eu gosto muito dessa bibliografia... Bibliografia não, dessa bibliografia da vida, sabe? Onde a referência é minha vó. O Eduardo Tortejada foi um mestre, mentor, profissional que esteve comigo por 22 anos, na minha vida profissional. Irani, em Curitiba, que é uma outra profissional que também me atravessou. A minha professora Sônia Regina, de Língua Portuguesa. Minha professora Vânia; minha professora Fátima, que me oportunizou a possibilidade de ser Xuxa. Acreditem se quiser, eu tive esse convite, gente, eu fui a Xuxa na escola, sem medo de ser feliz, para oitocentas crianças e depois pra duas mil crianças. E, assim, se você me perguntar: “Egnalda, você não teve medo de ser xingada?” Nem um pouco, porque, primeiro, se a professora mandou eu ir, é porque eu podia; segundo: quando ela me chamou, não teve uma pessoa da sala de aula que discordou. Todo mundo aplaudiu. Eu já vinha numa história na escola – isso foi com treze anos – que eu sempre era a diretora do teatro. Sabe, era uma vez por ano. Era eu que fazia tudo, direcionava lá o negócio. E quando chegou... Teve anos que eu fiz o papel de antagonista, eu mesma me colocava nesse papel, não eram os professores. Porque a princesa sempre era minha amiga Edlaine, loira dos olhos claros, porque os contos de fada que a gente conhece eram isso. E aí, esse ano, a professora pegou e falou: “Esse ano não vai ter conto de fada. Esse ano vocês vão fazer a Xuxa”. E aí: “Mas quem vai ser a Xuxa?” Na minha cabeça estava a Edlaine: “Eu vou ser o quê? Marlene Mattos. Tenho certeza.” Já estava na minha cabeça que eu seria a Marlene Mattos. Não, a professora pega e anuncia meu nome. Eu lembro que o meu coração quase saiu pela boca, porque eu ia ser a Xuxa, gente. Ser a Xuxa, eu não sei, hoje seria comparada a Maisa, talvez. Não sei. Maisa, não. Nem Maisa. O tamanho que a Xuxa teve! E eu fui na escola e, na minha cabeça, eu já fui construindo a história que eu ia contar no palco. Porque eu não ia ser uma Xuxa de cabelo loiro. Eu fui a Xuxa com o cabelo curtinho, cacheado, que eu tinha. A minha mãe comprou as pulseiras, a roupa a gente fez muito parecidinha, mas eu era a Egnalda que ia fazer o papel de Xuxa, no meu corpo. E aí, que história que eu contei no palco? “Vocês devem estar estranhando, né, gente, que eu estou dessa cor. É que eu enjoei, eu era muito branquinha, então eu fiquei na praia de Copacabana, esqueci e fiquei assim. E aquele acabelo ralinho?” Olha só, gente, eu tinha treze anos, amava a Xuxa e inventei uma história: “Aquele cabelo ralinho eu achei que ia ficar mais cheinho se eu fizesse um permanente africano, e aí ficou a Xuxa preta”. Não sei se vai ter essa história na escola hoje, mas eu acho que eles devem ter os registros, porque foi um sucesso [por] dois anos. É muito engraçado esse sucesso da escola, né? O sucesso foi tão grande que nós repetimos. Teve Xuxa um e Xuxa dois. Então, assim, foram muitas as minhas pontes. Essas pessoas são reais, que construíram a minha bibliografia... A minha autobiografia, perdão. E que fazem parte, se for citações. O que esses professores me falavam? Eu lembro, a professora Sônia Regina falou: “Egnalda, você pode mais”. Ela era muito exigente comigo, mas não era uma exigência cruel, perversa. Era uma exigência de: “Você é muito potente, vai nessa”. E aquilo era muito instigante pra mim. Então, eu tive sorte, porque eu tive bons mentores, muitos mentores, na vida inteira, e eu acho que eu aproveite muito bem essas oportunidades. Aí, quando eu tive o Pedro Henrique, quando eu me tornei mãe, enfim, quando meu filho estava querendo realizar o sonho de trabalhar com a internet e falou que ia parar porque nenhuma agência trabalhava com pessoas como ele, aquilo me doeu a alma, assim, no sentido de: “Puxa, esse guri conhece a minha história – ele tinha catorze anos –, ouviu essa história não só contada pela minha boca, mas por boca de outras pessoas. Ele já me viu em palco e ele está com medo do mundo? Eu vou ter que fazer com que ele não...”. Porque quando você ceifa um sonho, você para, você tem medo de sonhar e começa a se sabotar, mesmo. Eu falei assim: “Então...”, eu lembro que eu fiquei bem brava, não foi desse jeitinho fofo que eu estou falando aqui, não. Foi assim: “Pedro Henrique, você deixa de palhaçada. Você não gosta disso que você está fazendo?” “Gosto, mamãe, mas você não está vendo que ninguém trabalha...” “Não interessa que ninguém trabalha, que ninguém quer. Se ninguém quer, a gente faz querer. Agora, continua o que você está fazendo, que eu vou ver como faz esse negócio aí, que eu vou abrir um negócio pra tocar isso aí”. Eu entendia de Publicidade? Não. Eu sabia no que eu estava me metendo? Nem um pouco. Mas a certeza que eu tinha é que os sonhos não podem ser ceifados. E a gente tem que ir. Eu tenho que chegar num ponto limite pra dizer: “Não, aqui eu não quero mais”, mas sem correr, sem ir atrás disso... E o menino, com catorze anos, pensando assim? Como ele... Sabe? Fiquei pensando como meu filho ficará no futuro, se hoje ele parar de sonhar com isso. Vai pra uma profissão porque, enfim, ‘eu não posso ser isso’. Você pode ser o que você quiser, ninguém vai ditar o seu lugar. Porque eu entendi que o Pedro Henrique, como ser humano diferente de mim, ele já não olhou para o mundo com esse olhar desafiador: “Eu vou e faço”. Não, o olhar dele foi de limitação, não é: “Mamãe, tem um lugar pra cada um”, é: “Não tem um lugar para cada um.” O lugar pra cada um é o lugar que cada um quer ficar. Então, esse foi sempre o meu lugar de indignação. Eu não sei, eu acho que a indignação também me move, porque é um lugar que me incomoda, me perturba.
P/1 – Talvez, pra retomar e pra fazer um pouco do gancho com a fala que você estava construindo... Você contou, um pouco antes, a sua trajetória dentro do mercado corporativo. Aí, enfim, chega um momento que você tem uma mudança na sua carreira. E acho que está muito relacionado a esse momento que você está descrevendo.
R – Sim.
P/1 – Então, se você puder relacionar isso...
R – Na verdade, quando eu já estava com 34 anos, eu já tinha estabelecido... Posso terminar? Ai, gente, é muita história. Vocês querem, mesmo, saber? Então vamos lá. Com 34 anos eu já tinha pensado que, aos 40, eu ia mudar de área, porque eu já estava, com 34 anos, há catorze anos nesse mercado, e eu tinha certeza que ele poderia... Eu sabia que, primeiro: ele já tinha se transformado; o operador de telemarketing já não tinha um lugar que eu acreditava que era importante que eles tivessem, isso já me trazia angústia e eu já tinha decidido que, aos quarenta [anos], eu talvez mudasse de rumo. Não mudei aos quarenta... Mudei aos quarenta, foi exatamente isso. Eu pensei com 34 que, aos quarenta eu iria ou dar aula em faculdade ou trabalhar em uma consultoria, que eu iria compartilhar conhecimento. Só que aí aconteceu um grave acidente com o Pedro Henrique: ele quebrou os côndilos mandibulares com dez anos – com dez, onze anos –, e o prognóstico era de que ele iria ficar oito anos em fisioterapia, e que teria que quebrar a face dele por algumas vezes, em cirurgias, porque ele iria calcificar muito rápido e a fisioterapia era um processo muito doloroso. E que, por isso, crianças na idade dele não eram bem sucedidas. Quando eu ouvi isso do médico da Santa Casa, o melhor buco maxilo da América Latina, eu falei: “Caramba, ele está me falando que meu filho vai ter uma deformação facial”, porque, quando você sofre esse acidente aos vinte anos, trinta anos, você continua fazendo a fisioterapia e não tem problema com a coordenação do crescimento da mandíbula e do crânio, porque você já cresceu, mas quando você é criança... O que é o côndilo? É uma articulação que liga a mandíbula ao cérebro e, com isso, coordena o crescimento facial. Quebrando isso, não existe coordenação, por isso é que pode ter uma deformação. Aí, Maurício, eu decidi, pela primeira vez na vida, largar tudo, que era o que eu mais amava. Eu amava muito o meu trabalho, tanto quanto ser mãe. Ser mãe não era uma projeção... Eu não tive essa projeção desde a infância. Mas ser quem eu era profissionalmente era um sonho. Então, quando esse acidente aconteceu, eu entrei em pânico. Eu estou falando pra vocês e o meu coração está acelerado, só de pensar naquele momento, porque o chão saiu do meu pé, assim. E falei: “E agora?” O médico falou assim... Aí eu fui atrás de fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta teria que morar comigo, porque a fisioterapia teria que ser de três em três horas. Então, o médico falou que eu poderia aprender. Aí eu fui aprender, larguei pela primeira vez esse mercado, depois de 22 anos. Eu nunca tinha pensado em não estar nele. Mesmo que eu estivesse projetado que iria sair aos quarenta, eu não tinha pensado: “Ah, vou indo”. Estava ganhando bem, tinha um carro bacana. Foi quando eu fui ser fisioterapeuta do meu filho e, nesse momento, eu tive contato com uma outra criança, porque eu era a mãe, era a pessoa que o tinha parido; era pessoa do final de semana, que propunha várias atividades culturais; era pessoa que sempre estava presente, nas lições de casa; eu era, sei lá, a treinadora, sabe? Mas, depois do corte do cordão umbilical, talvez algumas coisas não foram estreitadas, durante esses anos, esses dez anos, ali, do meu filho. Naquele momento isso aconteceu. E aí o Pedro Henrique tinha muita dor, muita dor, muita dor. A dor era tão grande que Maria Morena tinha que sair de casa, pra não ficar assustada, porque ele urrava. E aí eu entendi o que o médico tinha dito, porque a fisioterapia tinha essa dificuldade, mas eu já tinha falado com o Pedro Henrique: “Meu filho, eu vou até o fim”. Eu não aceitei o prognóstico, porque eu precisava formar aquele ossinho de novo. E ele estava no processo de crescimento. Isso ia ser rápido. Então, a fisioterapia, eu demorava pra encaixar todos os palitos, uma hora e meia. E a fisioterapia era de três em três horas. Ou seja: a cada uma hora e meia eu estava fazendo a fisioterapia. Ele passou por mais duas cirurgias, tirou a placa de titânio – que também rasgou tudo aqui –, e no último exame que foi feito, os côndilos... O côndilo tem esse formatinho, e exatamente esse formatinho foi feito. O médico falou assim para o Pedro: “Pedro, seus côndilos estão perfeitos”. Após seis meses. E as cirurgias, ele não passou por nenhuma cirurgia de quebrar a face. As cirurgias de quebrar a face acontecem quando não faz a fisioterapia e aí calcifica tudo – ou a boca fica aberta ou a boca fica fechada. Por isso é que a fisioterapia é tão importante. E falou assim: “Olha, Pedro, você não tem uma mãe, tem uma heroína. Teus côndilos estão perfeitos, você está de alta”. Seis meses depois. Tinha dado oito anos de prognóstico e seis meses depois foi esse o resultado. O Pedro Henrique falou pra mim... Porque eu perguntei, né, porque eu estou, enfim, escrevendo o quê? História. Então, eu estava escrevendo sobre isso, eu perguntei pra ele: “O que você sentiu?” Ele falou: “Mamãe, eu era uma criança. O que eu senti? ‘Estou ferrado’. O médico falou essa coisa aí, ‘eu estou ferrado’. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha certeza que ia dar certo”. Eu falei: “Mas o que te deu tanta certeza?” “Porque você já fez outras coisas darem certo”. Eu falei assim: “Pedro Henrique, você só tinha dez, onze anos”. Ele falou assim: “Mamãe, mas eu vi você ficar muito doente e todo mundo já tinha achado que você ia embora e você ressurgiu do nada. Você é uma pessoa que tem essa capacidade. Então, eu não tinha dúvida, só achei que eu estava muito ferrado”. Aí eu falei assim: “Credo, menino, não dá pra montar uma história emocionante com você, né, porque você já: ‘Estou ferrado’. E depois: ‘Eu tinha certeza que você iria dar conta’”. Mas eu não tinha essa certeza, sabe? Porque foi muito desesperador. E eu nunca tinha entrado na Santa Casa de Misericórdia. O Pedro Henrique foi atendido imediatamente, porque foi muito grave, o acidente. Gente, um acidente de bicicleta. Só que o peso do corpo dele, na hora que ele caiu... Ele caiu aqui, de frente, ele caiu assim todo... Zoou todo, todo o peso do corpo foi para cá, sabe? Então, destruiu essa parte. E no hospital, perto, lá... Porque foi em Jundiaí, ele estava com o pai dele. Eu não sou casada com o pai do PH, sou casada com o pai da Maria. O pai do PH foi um romance de dez anos em que nasceu o Pedro Henrique desse namoro. Eles estavam lá e o menino sofreu o acidente, quando chegou no hospital de lá o médico falou assim: “Nós não... A gente só vai...”, tipo assim, porque ele estava com a boca, a parte debaixo, desanexada da parte de cima. Então, amarraram um pano, uma faixa pra segurar a parte de baixo. Falou assim: “Vocês têm que...”, e aí eu entendi o porquê de toda a urgência, sabe? Porque, pô, Santa Casa é Santa Casa. É um dos melhores hospitais da América Latina, mas não tem vaga. Mas quando a gente chegou com indicação do pronto-socorro, o Pedro Henrique tinha atendimento particular e foi pra Santa Casa. Quando chegou lá, na hora eles atenderam, e imediatamente falaram: “Olha, ele precisa de cirurgia imediata, e a gente vai chamar vocês a qualquer momento”. Acho que dois dias depois eles chamaram. Ele foi internado e eu, como eu fui pro hospital, na minha cabeça? “Meu filho tem que se sentir bem, tem que estar confortável, tem que se sentir especial”. São as viagens que eu faço na minha cabeça. Aí eu levei, gente, a manta de casa, o lençol de casa. (risos) Eu fiz, decorei (risos) o espaço que ele ia ficar, sabe, assim, pra ficar um lugar confortável? Levei travesseiros. É muita viagem! Mas é porque era um momento de dor, e eu tinha que fazer com que ele estivesse confortável. Então eu levei um monte de coisa, fiz uma cama linda, porque eu queria que ele... Não sabia quanto tempo a gente ia ficar ali, e eu queria que ele estivesse bem, que ele se sentisse bem. Aí mudavam a gente de leito, eu ia com um monte de travesseiro, um monte de coisa, e arrumava tudo. E a recuperação dele só foi possível porque, de novo: “Egnalda, você é o máximo?” Não. Eu sou bastante obstinada. Mas quando você não tem um suporte financeiro, não tem como ser obstinada. Porque aí a mãe tem que escolher: “ou meu filho fica... Ou eu não faço fisioterapia ou eu trabalho”. Nesse momento, primeiro que eu tinha uma reserva. Então, eu tinha como, não precisava trabalhar. Eu podia segurar a onda sem trabalhar. Tinha uma reserva pra poder ficar um tempo. Iria reduzir minha renda em sete vezes, e era uma reserva pequena, mas era uma reserva, ainda. O meu marido trabalhava em dois empregos. Eu não sou a Rochelle, mas ele trabalhava em dois empregos, então eu também tinha um suporte financeiro dele, que dava pra ele segurar. Ele ganhava muito menos que eu, mas ainda assim era uma grana que entrava, ninguém ia passar fome. Não ia ter as mesmas coisas que tinha, mas passar fome ninguém iria passar. E [tinha] minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, pra levar a Maria, pra fazer outras coisas. Então eu tinha um suporte familiar e uma condição básica financeira pra, inclusive, alimentar essa criança bem, porque tudo isso fez a diferença: as vitaminas, o alimento, o cardápio que ele fazia. Eu tinha, por exemplo, dinheiro pra pagar uma pessoa pra fazer as outras coisas, pra eu ficar só fazendo fisioterapia. Então, não é a superação. Não. Eu tinha várias coisas ao meu favor, e aí, somado a isso o meu perfil, mesmo, de não aceitar o não. O ‘não’ não é... Eu sou do Comercial, né, gente? Não faz parte da minha vida. Então, assim, perseguir o sim é uma jornada que eu já me acostumei a fazer. Então somaram essas duas coisas. Mas se eu fosse uma mulher que não tivesse essa infraestrutura, que não tivesse um companheiro, que não tivesse uma família, como ia ser? Como que coloca uma mãe... Por isso é que as crianças lá não tinham resultado, porque como faz, se a mãe tem que sair pra ganhar o pão de cada dia? Como ela vai levar o filho pra fisioterapia? Como ela vai fazer fisioterapia de uma hora e meia em uma hora e meia, com mais duas crianças pra cuidar? Enfim, então a situação de vantagem... Porque privilégio eu não acho que eu tenha, nunca tive. Pessoas negras não têm privilégio. Pessoas negras com alguma ascensão ou com um suporte familiar, têm vantagens. Então, eu tinha algumas vantagens pra poder obter esses resultados, sabe, na vida, com meu filho, com tudo o que eu me propus a fazer. Essas vantagens também devem ser consideradas, pra que a gente não tenha mais uma história meritocrática. A gente tem que entender que são realidades sociais que determinam esse destino, porque as pessoas nunca contam o processo, como conseguiram, como fulano entrou numa faculdade em Harvard sendo da classe média e morando no extremo sul de São Paulo. Aí, quando ela vai contar, você vai entender que ela era uma aluna que já se encaixava no ensino pragmático; que, no segundo fundamental, já foi pra uma escola muito melhor e que depois ganha uma bolsa pra ir para uma escola muito melhor ainda, e que os seus professores tinham acesso a informações para poder mandar essa pessoa pra começar a se preparar, pra poder ir pra Harvard. Então, assim, não é do nada. Ninguém cresce, ninguém consegue as coisas do nada. “Egnalda, como você construiu...”. A Côrtes só é pioneira porque foi a primeira. Então, não sou suprassumo. Eu simplesmente fiz algo que ninguém tinha feito. Logo, me tornei pioneira. “Como você se tornou a maior da América Latina?” Não existia nenhuma outra. Logo, (risos) eu me tornei a maior, porque eu era a única. Então não é que eu seja o máximo. Eu só faço do medo uma mola propulsora. Eu só sou uma pessoa que tive vantagens e soube aproveitá-las. Eu só sou uma guria que acredita muito nas narrativas de heroínas, e várias delas fizeram parte das minhas histórias. Haja visto Sidney Sheldon, gente! Outras coisas, outras literaturas fizeram parte da minha vida. Sidney Sheldon, pra quem não conhece, os bestsellers desse cara só traziam mulheres fenomenais. Eu não sei quantos eu li dele, eu só sei que eu comia o livro. Eu li, acho que, um por semana. Não dava conta de comprar tanto livro, porque eu aproveitava as minhas viagens de trem – que eram longas, duas horas, duas horas e meia de trem, ônibus, metrô, cipó, barco, tudo – pra chegar no outro lugar, do outro lado da cidade, pra ler. Eu lia muito no trem. Eu lia e não só lia, eu achava que eu era aquela pessoa! E quando você acredita nessas coisas, aquilo, eu acho... Hoje, que eu estudo um pouquinho mais neurociência e projeção, ciência, física quântica, eu fiz isso na vida: eu fiquei exercitando a minha memória e projetando a minha mente para esses lugares. Eu era as heroínas do Sidney Sheldon. Por isso que elas sofrem, eu também sofro. Elas sofrem de amor, eu também sofro. Porque elas eram tão reais... E elas sofriam, mas elas sempre conseguiam. Elas faziam um monte de coisas e não saíam de lugares fáceis. Aquilo tudo permeou... A minha adolescência foi muito permeada por esses romances, assim. Então, eu acho que é isso, eu sou o resultado de tudo isso: de vantagens dadas por essas questões sociais, de histórias, de narrativas trazidas por antepassados, por minha vó, pelos meus pais, por minha bisavó, pessoas, mentores a todo momento, vários ciclos na jornada. Nada é do acaso. Ninguém é tão espetacular assim! Isso quando a gente está contando história de pessoas que saíram desse lugar, que eu conto, né, de um lugar de um pouco mais de privação. É a mesma história das startups: “Nasceu na garagem.” Qual garagem? De que lugar, gente? Para, vamos contar as histórias direito. Nascemos numa garagem no Morumbi e está tudo bem. Isso não é um demérito. Mesmo porque essas pessoas podiam escolher não fazer nada e estão fazendo alguma coisa. Mas conta a história direito, porque é chato contar história de meritocracia em um país que não dá as mesmas oportunidades pra todo mundo. É chato, é feio, é esquisito, é piegas, é démodé. E a gente está em um momento de construir novas histórias, de outra forma. Temos um problema de construção, até emocional, no nosso país? Temos, porque as pessoas colocam histórias de superação na TV, eu choro. Eu sou a idiota que adoro e fico lá chorando. Acho um saco, fico lá xingando: “Ai, que palhaçada, por que não conta uma história...”, mas isso emociona, então a gente vai ter que entender como é que as pessoas – roteiristas, cineastas – podem escrever histórias que não remontem à falácia da meritocracia, mas tragam a conexão. Por que eu assisto às histórias? Porque elas me emocionam. E por que elas me emocionam? Porque existe humanidade e questões, ali, que conectam. Então, dá pra gente contar histórias que conectam sem precisar usar dessa questão da meritocracia. Existem pessoas geniais. Eu sou uma exceção. Olha, acabei de me chamar de genial, né? (risos) Eu não sei se eu sou tão genial, mas eu sei que eu sou um pouco fora da curva. Mas eu sou uma exceção, e exceção não é regra. Agora, podemos construir várias pessoas geniais, se a gente tiver as mesmas oportunidades. E hoje o ensino público não dá as mesmas oportunidades. Aliás, a gente tem o estudo básico péssimo e a faculdade que é muito boa, que é espetacular. As pessoas que mais precisam adentrar nesse espaço não conseguem. Então, como a gente pode contar uma história real, se a gente não entrar no processo? Tem histórias que eu ouço, né, porque, sei lá, uma pessoa se destacou, faz faxina e se destacou na Publicidade... Porque ela monta as histórias. E eu cheguei nessa pessoa – não vou contar o nome – e falei: “Mas você está contando a história real? Você contou que você cresceu na classe média alta? Que o seu padrasto te pagou as melhores escolas? Que você teve acesso a lugares, idiomas? Você estudou em uma das melhores escolas de São Paulo. Você conta? Porque senão vão colocar assim: “Está vendo? Minha faxineira não consegue porque não quer’”. A faxineira, que é totalmente diferente dessa guria – que é maravilhosa, fantástica, que é uma boa construtora de histórias... Mas é isso: ela vem de outro lugar. Ela teve acesso a uma escola, uma base escolar muito diferente da outra. Então não dá pra gente, sabe, sair contando, fazendo falas poderosas, sem falar do processo. Então, gente, é isso: “Eu sou tudo isso, mas deixa eu contar aqui uma coisa: eu vim desse lugar, eu estudei em escolas boas, eu tive uma mãe e uma vó que seguraram a onda. Eu nunca peguei numa vassoura, até os vinte e tantos anos, mas eu sempre observei como fazia. Eu consigo... Como que... Quando é fluido? Eu consigo perambular, andar, me comunicar muito bem com a branquitude, porque, afinal, eu fui criada com eles, eu conheço os códigos dessa classe social”. Porque senão a gente sempre vai contar e remontar histórias em que o outro é um fracassado porque ele quer. Não estou dizendo que todas as pessoas que não tiveram oportunidade não podem realizar coisas. Eu vim de um lugar de menos oportunidade. Mas aí você está sempre esperando a exceção, são sempre os geniais que vão se destacar. A gente só vai saber da potência econômica e social desse país quando nós tivermos as mesmas oportunidades para todos. Quando eu vejo os meninos... Eu tive contato com os meninos da Febem [Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor], né, que hoje seria a Fundação Casa; são meninos geniais. O que eles têm diferente do meu filho? O que eles não têm. Eles não tiveram quem acreditasse, eles não tiveram... Às vezes a mãe trabalha demais, também não teve oportunidade, e como você vai projetar, se você também não consegue sonhar, você, como mãe? Eles não tiveram escola acolhedora e que entendesse a linguagem. Porque é isso: a escola tem que ser flexível ao mundo, ao que está acontecendo no agora. Esses meninos não têm... Foi ceifada deles a possibilidade de sonhar com outras coisas, a não ser aquilo que está ali, de repente, no horizonte dele, que é o tráfico, que, enfim. Esses meninos e meninas – porque a gente também tem as meninas – caem num lugar de não oportunidade. A gente só vai mudar as nossas narrativas quanto a população brasileira... Quando nós tivermos oportunidades iguais. Aí a gente vai poder falar de meritocracia. Por enquanto, o que tem são histórias incríveis, ‘pessoas-exceções’ na história, que tiveram alguma vantagem, em algum momento acessaram alguma informação. Nenhuma pessoa que vem do lugar de onde eu parto é super herói, super heroína, se não tiver, nesse processo, vários itens que fizeram parte – além dessa pessoa ser um pouquinho fora da curva, também. O que eu acho que a meritocracia traz é esse menino mediano, vai, essa menina mediana, que não se encaixa nesse ensino pragmático. Se ela vai pra uma escola de Waldorf [01:30:03], esses construtivistas, de repente lá ela teria, se esse ensino fosse acessível pra essas crianças, de repente ela seria genial aqui. O que acontece é que essas pessoas não têm as mesmas oportunidades, então não têm como construir novas histórias. Por que eu sou... Como eu pude... Pedro e Maria são espetaculares, não é porque são meus filhos, não, mas como eles constroem as narrativas deles? A Maria é uma aluna fenomenal. Pô, cara, [01:30:37]. O tempo inteiro eu gosto da escola, o que eu faço? Eu fico só incentivando. Mesmo quando a escola está muito chata, porque às vezes os professores não acompanham o mundo. Eu pego, vejo a lição de casa dela, ela está na [01:30:51] agora, na pandemia, e eu a vi: “Mamãe, que saco, olha só, ficar fazendo texto. Eu não entendi o que é texto dissertativo e argumentativo. Isso é um saco, a professora mandou falar sobre isso, não sei o que, lalalala”. Eu falei: “Maria, fala pra mim, um pouco, por que eu tenho que gostar do TikTok?” Aí ela falou: “Ai, porque o Tik tok é isso, porque o TikTok é aquilo, porque não sei o que”. “Esse é um texto argumentativo”. Aí ela: “Nossa, mamãe e o dissertativo?” Aí eu contei a mesma história que ela falou, no dissertativo. Ela: “Mamãe”. Eu falei: “Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o TikTok e vai contar, pelo TikTok, isso: o que é um texto dissertativo e o que é um texto argumentativo”. “Mas, mamãe, não foi isso que a professora pediu”. Eu falei: “Mas é isso. Como a pessoa vai pedir uma coisa que ela não sabe? Você vai gerar necessidade no cliente, Maria, e vai superar a expectativa dele” “Ai, mamãe, essas coisas, você pensa que, na escola...” “Maria, faz isso e mete um Paulo Freire. Coloca uma frase de Paulo Freire, que a professora vai lembrar porque ela começou esse rolê”. Aí ela: “Qual frase?” Eu peguei uma frase do Paulo Freire lá, que ele fala dessa horizontalização das relações, de fazer do hoje, do agora, fazer parte do aprendizado do ser e do ser poder fazer da escola a realidade dele. O que aconteceu? Maria foi só elogiada. Agora ela só pensa em superar expectativas, ela só pensa em ‘como eu vou fazer’. Ela assiste séries. Eu falei: “Assista séries montando histórias. Quando você ver alguma coisa interessante na série, marca a minutagem, porque aí, nos seus trabalhos, você pode trazer um pedacinho do que você está tendo e você vai trazer trabalhos muito mais interessantes não só para os seus professores, mas para os seus colegas. Todo mundo vai amar”. Então, fazer parte desse processo educacional, você também constrói esse cidadão que vai poder sonhar, poder construir, porque é muito chato ficar na escola só a partir desse olhar, dessa imposição verticalizada: ‘tem que ser assim’.
P/1 – Eu estava aqui pensando um pouco, pra pegar esse gancho dessa consciência que você fala, de ser uma educação... E você trouxe muito desse processo, um pouco, de estar mais próxima do Pedro, em função da reabilitação, do acidente. Isso fez com que você também saísse desse mercado corporativo, no qual você, enfim, cresceu, se desenvolveu dentro do telemarketing. E aí eu queria entender um pouco mais, queria que você contasse como é que foi esse outro salto. Porque você falou muito dessa coisa da possibilidade de construção de outras narrativas, que não sejam por essa via que a gente está habituado a ver, que conecta, mas que a gente sabe que vem muito por um viés dessa ideia da superação, que a superação a gente sabe que, enfim, não é pra todo mundo. Então, eu queria que você contasse como é que foi essa ponte pra ocupar esse outro lugar, dar visibilidade a outras histórias, e que aí acho que que tem um pouco a ver com a sua trajetória de empreendedora, né? Se você puder falar a partir daí...
R – Você faz umas perguntas boas, né, Maurício?
P/1 – Não sei.
R – É, faz umas perguntas boas. Vamos lá! Então, dessa trajetória do call center e tal, eu me tornei essa executiva [por] 22 anos, acidente do PH. Quando ele melhorou, eu pensei muito sobre o que eu poderia ter perdido, se esse acidente tivesse sido letal. Eu teria perdido bastante coisa, porque eu teria perdido a oportunidade de conviver com meu filho por dez anos. Então, ali eu perdi, sabe, aquela paixão? Foi muito boa enquanto durou, mas eu falei assim: “Eu poderia ter perdido muita coisa por conta dessa paixão. Então agora eu vou dar um tempo pra mim. Eu vou entender o que eu quero e vou me dedicar a esses líderes que eu tenho perto de mim, vou treinar”. Treinei tanta gente, a minha vida inteira... Porque eu sempre era contratada... Porque eu justificava sempre, quando eu pedia salários maiores do que estava previsto, que eu iria treinar alguém pra estar no meu lugar. Porque aí o presidente, o diretor que me contratava, dizia: “Bom, eu vou pagar bem a ela”. E, de fato, eu falava: “Eu vou treinar bem uma pessoa pra estar no meu lugar, porque depois eu vou querer mais e, pra querer mais, você tem que preparar alguém pra te substituir. Então, quando eu parei... Muito por conta disso, pelo susto, o que eu posso perder e não queria perder, eu queria estar mais perto deles, tanto do Pedro Henrique, como da Maria Morena, conhecidos nos arrobas como ‘Côrtesph’ e a Maria é ‘mariacortex’. Ai, meu Deus, cada uma que essas crianças inventam! Mas, assim, eu queria estar perto deles, porque eles também eram potenciais que eu poderia desenvolver. E, nesse período, quando o PH entra na internet e me pede pra entrar na internet: “Mamãe, posso entrar no YouTube?” “Pode, desde que tudo que você for assistir, você me mostre. E, meu, ‘tudo’ é tudo”. Nossa, é muito cansativo, mas enfim, ele me mostrava tudo, e a gente... Eu fui acompanhando. E o que eu achei curioso, é que tinha um monte de coisa que não prestava, não era legal, mas mesmo aquilo que não era legal, tinha muito sucesso. Aí, quando ele me trazia, eu falava: “O que, nesse vídeo, faz sentido pra você?” Aí ele: “Isso, isso”. Eu falei assim: “Então pega as coisas boas desse produtor e começa a trazer pra você”. Porque ele estava entrando na internet e eu queria que ele tivesse ideia da responsabilidade, sabe, na comunicação, mesmo pequeno. Que o que ele fosse fazer teria que ter responsabilidade, qualquer coisa que ele fosse falar teria que ter responsabilidade. Porque às vezes tinham desafios que desrespeitavam pessoas, que deixavam pessoal mal, que davam susto. Eu falei: “Você gostaria...”, então eu o fazia refletir, sabe? Não proibia, só falava assim: “Filho, você gostaria que a sua mãe fosse colocada numa situação dessas, de ridículo? Você acha legal isso?” Ele: “Não”. Eu falei: “Então isso você pode descartar, mas o que, daqui, te chama atenção?” Às vezes é a linguagem, a forma de filmar, o roteiro, como traz. E ele começou a fazer esses exercícios. Quando eu o levo para O Topo da Montanha, que é aquela peça do Lázaro [Ramos] e da Taís [Araújo], que discute como teria sido a última noite do Martin Luther King a partir de uma escritora afro-estadunidense feminista – que eu não lembro o nome dela agora –, o Pedro Henrique ficou muito encantado com aquilo. Ele achou, assim, revelador, o mundo se abriu. Naquele dia, ele falou: “Mamãe, eu quero fazer algo diferente”. Até então, na internet, ele fazia vídeos. Naquele dia ele falou: “Eu quero fazer algo diferente” e esse algo diferente eu falei: “Meu filho, o que você quer fazer?” “Eu quero, mamãe, falar sobre isso, direitos humanos. Eu quero ler Machado de Assis... Não, Martin Luther King, Malcolm X e Mandela”. Aí eu fui ver o livro do Malcolm. Lembra que eu não estava mais com aquele salarião? Eu estava com uma renda reduzida, de umas economias que eu tinha. Aí eu falei: “Então, Pedro...”, o livro era 800 paus. Falei: “Então, meu filho, vamos fazer o seguinte: eu te dou” – era outubro de 2015 – “esse livro, desde que você leia e pesquise sobre os nossos heróis, porque nós temos e pronto”. Ele pesquisa sobre os nossos heróis e começa a falar: o primeiro herói foi Zumbi, depois veio Machado de Assis, aí ele viraliza: ‘boom’, na internet, era o guri mais jovem falando de algo extremamente relevante, foi um estouro. Aí o Google nos chama... Porque tinha um curso lá, e eu estava buscando curso de audiovisual pra ele, e tinha lá de graça. O Pedro Henrique não podia ir sozinho, porque ele só tinha treze anos, ele tinha que ser acompanhado, porque lá só poderia ir a partir dos dezesseis, desacompanhado. Aí eu começo a me envolver com isso, até que, no meio do ano seguinte, 2016, junho, ele fala que não vai fazer mais porque não tem agências que trabalham com pessoas como ele. E, a partir desse momento, falei assim: “Então, eu vou trabalhar”. Qual era a minha experiência comercial? É isso: tem que ter uma pessoa que crie bem com relação... Você quer abrir um negócio? Tem que ter aquela que domina muito bem, tecnicamente, aquilo, e outra que seja muito boa no Comercial. Se você tiver isso... No meu caso, meu negócio é vendas, né, porque eu faço conexões comerciais. Ou seja, eu tenho a parte técnica e eu sou o Comercial da minha empresa. Então foi por isso que eu consegui, realmente, resultados muito relevantes. Mas a partir de contação de história, de narrativas trazidas a partir desse olhar. Eu não me medi e não disputei narrativa. Não era sobre o outro. Não era sobre os youtubers que existiam. Não era sobre aquela régua delimitada no mercado, pra aquelas pessoas, porque a gente não alcança. Se a gente está falando de um país racista, como é que criadores de conteúdo que falam de educação e política, vão ter o mesmo tamanho de quem está falando de entretenimento? E com uma estética não tão aceitável? É óbvio que não vai ter. Mas se eu pegar essa mesma régua, me ferro, porque é óbvio que essas pessoas têm um alcance gigantesco, têm um valor, e aí, se eu for fazer a proporcionalidade, me peguei. Agora, e se eu criar algo diferente? E se eu criar uma nova régua? Foi isso que eu fiz. Porque eu não entrei numa disputa, eu entrei em um lugar de nova narrativa. É diferente. Quando você entra numa disputa, aí você entra num lugar de comparação. Como que eu posso ser melhor? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço pra alcançar o tamanho do outro? Agora, quando eu entro num lugar de soma, em que não é o universal que interessa, é o pluriversal... Não é sobre disputa, é sobre um novo lugar. É um outro universo. E assim, eu fico pensando: a gente vive nesse lugar que se chama Terra, mas é pluriversal. É um lugar só, só que são muitas pessoas, muitas culturas e diversas vivências. A gente não é uma coisa única. Mesmo nós, seres humanos, cada um... Você, Maurício, sendo você, e eu, sendo eu. Mesmo assim, você, Maurício, é multiface. Você, aqui, é um entrevistador. Mas você, na casa dos seus pais, é o filho. Você, com a sua turma de amigos é, sei lá, o mais cabeçudo. Entende? Então, como é que a gente pode comparar? Como eu vou comparar? Esse é o grande problema: entrar num lugar de comparação. Eu não vou ser igual uma outra empresária que partiu de um outro lugar. Assim, até pessoas negras – vamos falar dessa pluriexistência de pessoas negras –, não existe uma unicidade. Nós somos diferentes. Tem pessoas negras, mulheres negras, que odeiam esse jeito espalhafatoso e alto de falar, porque acham que isso é estereotipado, porque elas estão dentro de uma ideia de que nós temos que nos distanciar disso, porque é isso que se espera de nós. E aí eu fico numa reflexão: eu sou diaspórica. Eu pertenço... Os meus antepassados são de África. O ocidente, a Europa Ocidental dominou todo o mundo e ditou a regra de como deveria se comportar, de como deveria comer, de como deveria agir. Eu uso esses códigos, mas eu não sou eles. Eu não sou o código. Eu posso usar estrategicamente, para que o outro, do outro lado, me entenda, me queira, se conecte comigo, porque estamos, todos, no mesmo lugar. Fazemos parte dessa colonização, a colonização nos atravessou; mas ela me atravessou, ela não determina quem eu sou. Então, pode ser que eu tenha vindo de etnias muito barulhentas e isso me define. E está tudo bem. Isso não vai fazer...Talvez essa linguagem da barraqueira, né? De onde vem esse lugar? Barraqueira é a mulher barulhenta, aquela que arranja briga. É muito preconceituoso. Será que a barraqueira não é essa mulher que tem uma força que vem, por séculos, sendo silenciada e, quando ela tem oportunidade de falar, ela desembesta a falar e fala muito e fala mais alto, por que ela sempre foi silenciada? Então, se é essa a mulher que enfrenta, que faz e que acontece, se é esse o estereótipo que é dado a mim, que falo alto, então eu sou uma barraqueira. Por que não? Eu quero ressignificar esse lugar da barraqueira, porque a barraqueira tem a ver com... Quem é que mora no barraco, senão os meus antepassados? Quem foi que morou? Minha vó morava numa casa de barro. Então, sabe essas expressões? Preste atenção nessas expressões: barraqueira... Outra expressão: ‘tá na roça’. “Fulano está na roça”. O que quer dizer ‘está na roça’? Está ferrado. Quem é que ficava na roça, senão os escravizados? “Egnalda, mas os imigrantes, quando chegaram no país, também”. Por escolha, gente. Os imigrantes vieram por escolha. E ficaram em suas roças, latifúndio dado para eles estarem aqui. Afinal, havia um plano pra esse imigrante, né, que era clarear esse país. Não deu muito certo. [De] 1910, quando existe esse plano de clareamento desse país, seriam cem anos. Diziam que em 2010 não teríamos mais negros aqui – por isso essa abertura para os imigrantes europeus. Mas essas expressões... É prestar atenção no que a gente fala, como a gente aprendeu e que ideia se tem dela. Então eu ressignifico muito esses lugares. De repente eu sou essa mulher barulhenta, que me imponho a partir desse barulho, quando eu quero, e que negocio e me gesticulo e uso o corpo, porque eu venho de um lugar onde corpo e mente andam juntos. Eu não preciso estar separada do corpo. O corpo faz parte de mim. Eu sou inteira, eu não sou só isso aqui, nem só isso aqui, nem só bunda. Eu sou tudo isso. Quando você utiliza todas as ferramentas que são possíveis pra poder se comunicar e se isso conecta, está tudo bem. É só pra gente desconstruir um pouco dessas ideias do que é certo e errado, do que é bom e ruim, essa dualidade horrorosa, que tudo... Esse binarismo: ‘tudo tem que caber em um lugar’. Por que a gente tem que caber? A gente não tem que caber, a gente tem que extravasar, se a gente quiser. Se a gente quiser ficar num lugar e caber dentro de uma caixa, tudo bem, mas e se eu quiser extravasar? Essa nova geração vem contando essa história. Quando a gente fala de sexualidade e eles trazem essa sexualidade fluida: gente, isso aí é o máximo, isso é extravasar, é ser mais, porque eu não preciso me encaixar num lugar. Óbvio que eu só posso falar sobre isso hoje porque eu consigo entender isso, convivo com pessoas assim. Mas se isso fosse falado pra mim (risos) em 1990, eu ia ficar super assustada, falar: “Gente, o que é isso? Onde eu fui educada, meus pais não me ensinaram isso, não”. Então assim, não disputo esse lugar de fluidez também, não. Ainda nem construí direito o lugar tradicional, convencional. Então, deixa eu construir primeiro o convencional, pra depois ser fluída. Porque, de repente, eu acho que também tem isso, sabe? Cada meio social tem a sua reverência e a sua insurgência dentro daquilo [em] que ele foi colocado. Então, de repente, pra mim, insurgente é ser uma mulher casada, porque mulheres negras não são colocadas nesse lugar, de mulher casada. Porque, por muito tempo, por muitos anos, elas foram as estupradas. E as que sempre foram deixadas sozinhas. Uma mulher negra casada, com família, é insurgência, é revolucionário, assim como é revolucionário pra uma mulher branca não querer casar, querer namorar todo mundo. Então depende muito de que lugar que a gente está, pra gente poder dialogar, revolucionar e ressignificar os sinais, os signos que nos dão. Respondi? Eu falei um monte de coisa, não sei se eu respondi. Eu respondi? Respondi, gente? Porque, vamos lá, a pergunta foi como eu consegui... Então, é isso: esse lugar dessa pessoa que fez sucesso aqui, pra esse lugar aqui, só foi possível porque houve um acidente. Ele só foi possível porque eu tive que repensar o que eu ia fazer a partir dali, pra conviver com os meus filhos. Então, entrar nesse lugar, descobrir essa nova forma de ser e de comunicar, não se distancia de quem eu sou. Muito pelo contrário: eu sou só a Egnalda de 1973, contemporânea. É isso. Eu só transformei tudo isso pra poder fazer com que meu filho e Maria Morena, os dois, Pedro Henrique e Maria Morena, não deixassem de acreditar em sonhos. E eles têm, sabe, é muito legal, que eles vão longe, assim, no que eles sonham, e a gente começa... Eu entro junto. Maria, agora... Maria já teve vários sonhos: ser presidente, ser não sei o que, agora é médica. E aí, minha filha, agora só estuda esse negócio de anatomia. Eu detestava, sempre detestei essas coisas, mas o que eu tenho que fazer agora? Estou assistindo aquele negócio lá que ela está odiando, porque eu estou na 23ª temporada, mas não assisti as outras, que é Grey’s Anatomy, pra eu poder me acostumar com aquele... Eu sempre tive muita angústia de ver o ser humano aberto, vísceras. Mas aí, já que a Maria quer conversar sobre isso, eu tenho que entrar no universo dela, sabe? E a gente tem planos pra que ela consiga isso. Porque, com o ensino que ela tem hoje, ela não vai conseguir assim. Então, eu vou ter que mudar. A gente vai ter que bolar estratégias. “Mas Egnalda, ela só tem treze anos. E se ela mudar de ideia?” Estudar, mal não vai fazer. Ela vai poder sonhar com outras coisas. Então, não é que agora Maria tem que ser médica. Se ela mudar de ideia, tudo bem, porque nada vai ser perdido. Se ela seguir e for, ótimo. Agora, o que não dá é pra ela: “Vou desistir, porque isso aqui é muito difícil”. Se a gente não tentar, a gente não vai saber. Eu quero que ela só saiba que a gente vai estar junto. Eu vou estar junto, na jornada, com ela. Claro que eu não vou estudar, né, gente, pro vestibular junto com ela, não. Não vamos chegar nesse lugar, não precisa exagerar. Mas eu já estou correndo atrás de qual vai ser a estratégia pra que ela chegue, porque é uma caminhada que está determinada pra alguns. Eu não estava preparada pra uma filha médica, nunca pensei. Então agora tem que buscar bolsa, melhores escolas. Ela tem que entender que estudar em melhores escolas, ela vai ter que estar focada no conteúdo, porque se ela ficar focada nas pessoas e no que as pessoas performam, ela vai se perder e pode não se sentir tão à vontade. Então tudo isso é pensar em estratégias para alcançar o sonho, né? Eu não sou tão doidivanas. Quando o Pedro Henrique falou... Porque ele, antes, queria ser cineasta, agora ele faz Publicidade, mas, enfim, ele sonhava em ser cineasta? Eu falei: “Então, meu filho, vê aí onde o Spike Lee estudou”. Ele: “Mamãe, você é louca!” Eu falei: “Vê onde ele estudou. No máximo, o que vai acontecer, é não conseguir, mas vê onde ele estudou”. E as crianças falam assim: “Mamãe, você viaja muito na nossa. Você viaja. Se a gente fala tal coisa, você já começa a se planejar pra aquilo”. Isso é viver, sabe. É não se colocar limite. Eu tinha dinheiro pro Pedro Henrique estudar numa escola do Spike Lee? Até hoje eu acho que... Mas para fazer uns cursinhos lá na Broadway, de repente, agora, até dá. Tem dinheiro pra ele ir lá nos Emirados Árabes, fazer um intercâmbio, pá, dois meses, já tenho. Entende? Mas se eu não tivesse projetado isso, será que eu teria, hoje? E ele fala: “Mamãe, você sonha muito”. Eles, meus filhos. É isso, gente: os pais, quando são doidivanas, os filhos são mais comedidos, porque faz parte, também, da história de pais e filhos. Tem que ser do contra, na contra narrativa. Eles falam assim: “Mamãe, você dá umas viajadas”. Mas não há um sonho que eu tenha falado: “Isso a gente vai conseguir”, que a gente não tenha conseguido.
P/1 – Eu vou fazer uma parte, que são umas perguntas que são mais específicas, e acho que é um pouco de avaliação, pra você avaliar um pouco da sua trajetória e olhar, um pouco, pro futuro. Aí eu vou fazer, depois, pro final, algumas questões mais pontuais e pessoais, tá? O que o passar dos anos, o tempo, te trouxe, para a Egnalda de hoje?
R – O que o passar do tempo trouxe para a Egnalda de hoje?
P/1 – Isso.
R – O que o tempo me trouxe? O tempo me trouxe a potência de ser quem eu sou. O resultado dessa crença. O tempo me trouxe isso: a potência de ser quem eu sou. Na verdade, esse é o slogan que eu criei, mesmo, pra Côrtes: a potência de sermos quem somos. Porque é isso. Não é sobre comparar-se ao outro, mas é sobre você entender o seu tamanho, com a sua história, com a sua vivência, com todas as suas limitações e com todos os seus transbordos, sabe? É você entender o quão isso é gigante. Quando cada um tomar conta disso... E isso não é ser arrogante, é somente entender o quanto isso é fantástico, como você é fantástico, assim, sabe, desse jeitinho: com seu óculos, com a barba rala, com o cabelo cacheado, com um jeito descolado de se vestir, com a sua história, com a história da sua família, com a história que você está criando e projetando para o seu futuro. É isso. Quando a gente se dá conta disso, você não sofre mais. ‘Por que não eu? Por que eu não estou ali?’ Você não sofre mais. Simplesmente você respira e entende: eu sou desse tamanho. Se você quiser entrar em algum... Mas não vá porque você precisa, porque o outro está, e sim porque você entende que aquele espaço também pode ser seu, independente do outro. O outro tem que ser visto como soma, não como descarte, sabe, porque isso é muito da sociedade capitalista: pra um entrar, deve se sobrepor ao outro. Eu proponho à sociedade uma revisão desses conceitos, onde só é possível existir, se você existir. Só é possível estar bem, porque você está bem. Só é possível eu crescer, se você também crescer. Isso é muito do ubuntu, dessa filosofia. O filósofo... Ai, gente, eu vou me lembrar do segundo nome, alguém busca aí o nome. Eu sei que é [Mogobe] Ramose. É um filósofo sul-africano, que traz muito bem esse conceito de ubuntu. E eu sinto de verdade, sabe? Quando eu olho pra você, eu estou feliz porque eu estou vendo o seu olhar brilhando pra mim. E isso é importante pra mim, que você esteja bem. Eu sei que ele também está bem. Que ele está quietinho, ouvindo, observando, e o olhinho brilhando. E isso, pra mim, é significativo. E por isso é que essa conversa já está durando mais de duas horas – nem sei mais quanto tempo. E pode ficar por mais tempo, porque estamos confortáveis. Quando o mundo se olhar dessa forma, obviamente que tudo vai ser melhor. Então, o que a minha jornada me trouxe, é a potência de ser quem eu sou.
P/1 – E você disse que, recentemente, fez uma postagem no Instagram escrevendo uma mensagem para a garota que você era aos cinco anos. E a pergunta que tem aqui é interessante porque, talvez... O que você gostaria de ter dito pra você, aos vinte anos? Quando você era uma mulher de vinte anos.
R – Ai, todas as vezes... Olha só, para a pessoa de vinte anos, é ela que vem. Não sou eu que vou até ela, ela que vem, sempre, até mim, e me fala: “Não pare. Olha só o que você já foi e o que você se tornou. Continue”. Porque depois, possivelmente, aos sessenta, essa de 47 vai lá e vai falar assim: “Olha, presta atenção. Quem é que está fazendo você acreditar nessas bobagens?” Então, eu fico pensando se eu teria alguma coisa pra falar para a guria de vinte, porque com vinte eu era um furacão, assim. Eu acreditava. Eu tinha sonhos. Sabe qual era o meu maior sonho, quando eu comecei na minha vida profissional? Era ser a melhor operadora de telemarketing do Brasil. Sair numa revista, na capa de uma revista. Esse era o meu maior sonho, Maurício. Então, assim: “Egnalda, você sonhava pouco?” Nada. Eu queria só ser a melhor operadora de telemarketing do Brasil, gente. Quando eu passei pra cargo de liderança, aí eu falei: “Gente, eu posso ser presidente de uma empresa”. Aí eu já sonhava com a manchete... Título – isso entrega minha idade – “De operadora de telemarketing a presidente de uma empresa”. Está aí, encontrei a nossa resposta. Eu voltaria para essa menina de vinte anos e falaria: “Continua sonhando e fazendo, que você vai conseguir”. Porque eu me tornei, né? O presidente da empresa nada mais é do que o ‘CEO’ [Chief Executive Officer], hoje. Então eu acho que é isso, eu voltaria pra ela e falaria: “Segue aí, que você vai conseguir tudo que você está sonhando”. Porque é isso, eu sonhava. Eu não sonhava com tantas coisas que aconteceram, não sonhava em sair numa lista de mulheres inspiradoras para um instituto feminista, sabe, reconhecido internacionalmente. Não sonhava. Porque eu nem sabia o que era ser feminista: eu era. Então, eu não sonhava com isso, mas sonhava com essa capa. A capa ainda não veio, mas eu não vou falar, eu não voltaria pra ela e falaria assim: “Vai ser difícil, a capa não vai sair tão fácil”, não. Eu ia voltar e falar pra ela: “Segue o flow, continua nessa linha, que você vai realizar”.
P/1 – E quais foram os ganhos que você percebe, do passar dos anos, enfim, desse processo, né, de amadurecimento?
R – Ai, os ganhos com o passar dos anos? Ai, tem tantos! Tem alguns. Tantos, não, mas alguns. Um ganho que eu acho fantástico é essa tranquilidade em ser mulher, porque, por algum tempo, neguei esse lugar. Apesar de ser uma mulher, eu neguei. Em que sentido? Eu cobria meu corpo, vestia termos retos, tinha medo de mostrar alguma coisa, que eu fosse lida de uma forma que eu não gostaria. Então, com o passar dos anos, eu ganhei a segurança de poder ser mulher. Isso é fenomenal, porque aos 20 eu não tinha essa segurança. E não podia ser. Porque, se eu mostrasse o corpo da mulher hiper sexualizada, que é essa mulata, essa mulher negra de pele clara, jovem, cinturinha... isso talvez me impediria de realizar algumas conquistas dentro de organizações, por conta do machismo. Então, eu escondi o meu corpo, prendi o meu cabelo e não usei maquiagem por alguns anos. Eu fui me soltando à medida que eu fui ganhando cargos, fui galgando cargos, aí eu fui ficando segura. Eu estava segura aos 26 anos, aí eu estava segura. Aí eu me maquiava, aí eu soltei o cabelo, usei um decote, comecei a usar salto – sem ser quadrado, saltos finos –, porque eu não tinha medo de performar feminilidade. Antes disso eu tinha. Eu queria evitar o assédio e focar no meu número, no meu resultado, pra poder ser respeitada. Então, é isso: com o decorrer dos anos, a segurança de poder ser mulher. Isso não quer dizer que eu não tenha várias questões ainda, sendo mulher, vários desafios. Tenho, mas quando você é uma mulher mais velha, o desafio agora é sobreviver à minha leitura, à minha construção de autoestima nessa fase da vida e a existir em espaços que normatizem também a existência de uma mulher de 47 anos, cinquenta anos. Porque eu sei o que acontece com mulheres a partir dos quarenta, eu tenho visto. Não é que eu sei, eu tenho visto. Nos espaços em que eu estou, eu sou a mais velha, e por que eu sou a mais velha? Uma, porque eu não pareço. Isso é grave. A mulher tem que ter o direito de envelhecer. Eu não pinto o meu cabelo, e eu coloco trança grisalha, porque a gente precisa ter o direito de envelhecer. Eu não sou contra nenhuma intervenção estética, desde que você tenha consciência do porquê você está fazendo isso. Porque é muito complicado quando você faz porque você precisa ser jovem pra sempre, pra ser aceita. O que eu sei, que eu performo muito... Eu não tenho... alguns momentos aqui eu trouxe a minha idade, falar ‘manchete’. Quem fala ‘manchete’, senão a pessoa que já viveu um pouco mais? Ou que é retrô? Mas ter a dignidade, a possibilidade de envelhecer e ocupar espaços, sem medo de ser quem é. Está aí: já está uma outra luta, que eu já estou nesse lugarzinho aí, sabe, falando sobre isso. Porque, onde estão essas mulheres mais velhas? Descartadas? Mulheres geniais, que estão onde? Por que elas não podem brilhar também? Por que eu tenho que descartar a mais velha pra colocar a mais nova? Por que eu não posso somar a experiência à extrema vivacidade, à energia? Experiência e energia, por que eu não posso somar? Por que eu tenho que descartar? Por que sempre esse lugar binário, onde ou preto ou branco; ou novo, ou velho? E a gente sabe o lugar do bem e do mal aí. Então, é quebrar com isso também, desconstruir esse lugar. Nem quero desconstruir. É construir novos lugares. Porque desconstruir cansa, gente. Desconstruir, destruir, não estou nessa. Eu quero construir novas possibilidades, e é nesse lugar que eu me encontro agora, sabe, de questionar: cadê as outras mulheres mais velhas? Porque, em outras etnias, mulheres mais velhas são as mais sábias, as mais respeitadas. Por que, nessa sociedade, elas são descartáveis? Por que não parem mais? Segundo algumas filosofias, né, acho que a ________ [02:09:10], que é uma PhD em Filosofia e Literatura Africana traz, em alguns textos dela, falando sobre matripotência: quando uma mulher fica mais velha, ela deixa de parir pessoas pra produzir coisas no mundo, pra parir outras... Esse útero se torna ainda mais gigante, porque ele gera outras milhares de coisas. Toda a nossa energia está voltada a realizações, mais realizações. Então, que esse momento da ciclicidade feminina seja visto com mais respeito e com mais inteligência, porque quem está ignorando isso, está deixando de ter um outro potencial, por conta de uma construção secular a respeito das mulheres mais velhas. E é também uma construção capitalista sobre isso.
P/1 – E o que a vida te ensinou a não tolerar mais? Para o que, hoje, você não tem mais tempo?
R – Não tenho mais tempo pra disputa. Não tenho mais tempo pra separação. Não tenho mais tempo pra desamor. Não tenho mais tempo pro ódio. Não tenho mais tempo pro desrespeito. Não tenho mais tempo pro olhar diminuto do que é o outro. Não tenho mais tempo pro julgamento preconceituoso, racista, hegemônico, do outro. Eu não tenho mais tempo. Eu preciso acelerar, porque eu preciso mudar o mundo logo, eu tenho só cinquenta anos pela frente – um pouco mais, 56 –, e eu não tenho tempo pra entrar numa conversa fiada. Meu tempo está... Eu preciso acelerar, porque existem descendentes meus que estão por vir e eles têm que encontrar um mundo melhor. Então, eu não tenho tempo pra algo que não seja pra emancipação das pessoas, das mulheres, das pessoas negras desse país. Eu não tenho mais tempo pra nada que não seja isso, sabe? Eu não tenho mais tempo pra... ‘Cara’, eu não tenho mais tempo nem pra vaidade de disputar lugares, sabe? Não tenho mais tempo pra ceder até ao meu próprio ego. Eu, sempre, a todo momento, estou me questionando, se eu estou seguindo meu propósito ou se eu me perdi em algum momento. Eu volto e faço a lição de casa, ponho o pé bem no chão e falo: “Por que você começou?” Eu só vou fazer, sempre me envolver com algo que seja pra acelerar esse processo de igualdade racial, de igualdade de gênero, de uma vida melhor pros meus, sabe, porque eu sei que, se eu proporcionar pra minha volta uma melhor possibilidade de realizações, isso vai ser efeito cascata, efeito onda. Eu falo os meus, todos, né? As mulheres que estão à minha volta. As mulheres que eu sei que têm mais dificuldade de enxergar o seu potencial. É só eu ir lá, dou um mentoria, fico algumas horas. As mulheres que não podem pagar a minha mentoria eu vou lá e falo, porque me incomoda quando uma pessoa não entende o potencial dela. E aí é só eu fazer isso, essa pessoa enxergar, pronto. Pra isso, é esse o meu tempo. Eu não tenho mais tempo pra quem está disputando lugar, porque eu sou melhor. Não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero só existir dentro da potência que eu sei que eu tenho. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não tenho tempo pra disputa. Eu fiquei até brava, porque eu fiquei lembrando. Eu não tenho tempo, gente, para. Me deixa trabalhar, porque eu não tenho tempo.
P/1 – E por que, para o que você gostaria de ter mais tempo?
R – Para o que eu gostaria de ter mais tempo? Ai, pra chamegar eu queria ter mais tempo, porque me falta tempo pra namorar. Meu marido reclama. Eu queria ter mais tempo, talvez, para olhar um pouco mais pra mim, sabe, para as minhas individualidades. Às vezes eu sei que eu as deixo de lado. Então, eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Eu queria ter tempo, mais tempo, pra ler, porque os livros me levam para lugares fenomenais. Eu queria ter mais tempo para ler, pra poder escrever mais. Isso é um tempo que eu gostaria de ter. Porque eu sei que, nesse lugar, eu vou pra onde eu quero, sabe? É muito... Eu relaxo, até, só de pensar nisso, em como eu me realizo. Eu queria ter mais tempo também para ficar com os meus pais. Eu estou correndo tanto para o futuro, para os que vêm depois de mim, que eu tenho ficado pouco tempo com os meus pais, e eu sei que os meus pais me olham e falam assim: “Ela está correndo, que ela continue”. Mas eu tenho muito medo de... Aí eu vou fazer um outro exercício, assim como eu fiz com as crianças, porque hoje eles estão dentro, nós estamos juntos, eles fazem parte do meu trabalho, os dois. A gente consegue falar a mesma língua. Mas com os meus pais eu estou distante, porque eu não estou lá. Eu não tenho tempo. Eu queria ter mais tempo com eles, porque eu sei que isso não vai ser bem resolvido comigo, quando chegar o tempo da despedida. E eu só moro aqui... Um dos motivos de eu morar aqui é de ficar mais perto deles. Então, eu queria ter mais tempo com eles e queria muito... Agora, assim, eu queria ter mais tempo com a minha vó. Ai, gente, minha vó viveu até os 63 anos, ela foi embora muito cedo. Mas eu vivi intensamente, até os onze anos, com essa mulher. Intensamente. E eu tenho a impressão... Para mim ela está aqui, essa minha vó, Evangelina Maria de Jesus. A minha vó Antônia tinha uma questão com a gente, assim... Não éramos os netos mais queridos dela – que é a minha vó materna –, mas a minha vó Evangelina Maria de Jesus e a minha bisavó materna, que é a mãe da minha vó Antônia, essa, Dedé, é outra que segue, de alguma forma, porque minha mãe, desde os treze anos de idade, falava assim: “Mas, minha filha...”. Minha mãe não tem nada a ver comigo. Ela é miudinha. Minha mãe é minúscula, assim. Uma mulher lida como branca, narizinho fino, boquinha, toda delicada. E minha mãe olhava pra mim desde os treze anos e falava assim: “Você parece tanto com a minha vó!” E toda vez que a minha mãe me olha... Hoje ela me olha assim e fala: “Você se parece demais com a minha vó!” ‘Quem foi Dedé’, que eu não contei? Dedé foi uma mulher que se casou por três vezes. Toda vez que o marido a traía, ela se casava com outro. Terminava o casamento. Gente, eu estou falando de uma mulher (risos) do século passado, antes do século passado. Ela nasceu em 1800 e alguma coisa, porque ela morreu em 1973, com 94 anos, 93 anos. Não, em 1975 ela morreu com 93 anos. Que ano que essa mulher nasceu? 1880. E essa mulher se casou... Fugiu de casa, voltou pra casa, casou, gastou o dinheiro do pai. Ela foi muito insurgente. E ela contou histórias. E a minha mãe cresceu com essa mulher, assim, sabe? Ela tinha uma admiração muito grande pela vó dela. Então, eu quero ter tempo pra ficar com os meus mais velhos, pra poder pegar mais histórias deles, porque é isso, né, a gente vai continuar a história. Eu tenho bastante história pra contar, mas eu preciso pegar mais histórias dos meus pais. Eu tenho muitas histórias deles, mas eu não tenho tantas histórias deles, como eu tive da minha vó. Olha que maluca essa relação de neto, avô e avó! Porque, às vezes, pula-se a geração. Eu tenho menos contato, olha só... Mas isso está explicado, também, por conta da idade de produtividade. Quando você está no começo da vida e no fim da vida, você tem tempo de conversar. E eu acho maravilhoso que eu não preciso cobrar dos meus filhos que eles fiquem com os avós, gente. Eles reivindicam e vão ficar com os avós deles. Eu acho isso fenomenal, porque eu também ia pra Bahia atrás da minha vó. E as crianças, Pedro e Maria, que são adolescentes, né, que deveriam ignorar, eles até disputam, sabe? Um não fala pro outro que dia que vai, pra poder ser o neto mais descolado, mais legal. E isso eu acho fenomenal. Porque a gente não constrói o futuro sem olhar para o passado. Eu fiz isso com a minha vó e, sem falar isso para os meus filhos, eles fazem isso hoje. Então eu preciso buscar esse tempo pra poder conviver com os meus pais, porque isso vai mudar muita coisa, também, na nossa relação, que não foi feita uma construção afetiva. Não foi. Essa construção não veio, porque eles não tiveram tempo. Olha que louco! Ai, gente, umas perguntas maravilhosas!
P/1 – Não. O que é isso? Pra gente retomar, eu queria perguntar, Egnalda, qual a marca que você acha que está deixando?
R – Nossa, estão puxadas, essas perguntas.
P/1 – Esse é o roteiro, nem fui eu que formulei.
R – Caraca! Qual marca que eu estou deixando? Eu vou falar algumas marcas que eu estou deixando: que ambição pode ser um adjetivo feminino, ao invés de um substantivo. Porque ele pode fazer com que as mulheres pensem, sonhem, realizem mais. Pode ser um bom combustível. Uma outra marca: que negociar é um processo de relacionamento e só tem uma boa negociação quando os dois lados, de fato, se sentem contemplados. E essa é a questão da potência, de a gente entender que é possível. Dá pra todo mundo brilhar, não precisa ser um ou outro: pode ser todo mundo. Olha como a gente fica encantado com o céu estrelado! Você não fica? Então, não é maravilhoso ver um céu cheio de estrelas brilhando? Eu fico lembrando, quando eu era criança, como aquilo me fascinava. Como me fascinavam os vaga-lumes, que a gente nem vê hoje. Mas os vaga-lumes, gente, eram uma ‘viagem na maionese’, quando tinha um monte de vaga-lumes! Era lindo. Por que, então, foi colocada essa ideia de que, pra um existir, deve ser sobreposto sobre um outro? Que a gente possa existir na nossa pluralidade, brilhar intensamente, ou não, se a gente quiser. Mas que a gente tenha o direito, sabe? Que não seja negado esse direito, a partir desse olhar binário de existir hoje, nessa sociedade.
P/1 – E você já falou muito de olhar para o futuro, mas onde você gostaria de estar daqui a dez anos?
R – Daqui a dez anos? Ai, gente, daqui a dez anos eu quero estar numa casa com pé direito alto, com muito verde, com um jardim gigante e com uma possibilidade de ser um lugar acessível, pra poder receber vocês, todos vocês, e de todas as gerações. Sabe, eu quero isso. Daqui a dez anos... Não, dez anos eu estou, ainda, muito nova, né, gente? Eu estou pensando nisso aos setenta. Daqui a dez anos eu quero estar viajando muito, muito. Eu quero estar viajando, conhecendo o mundo, falando mais dois idiomas. Eu não falo inglês. Daqui a dez anos eu quero estar falando inglês fluente. Eu só falo espanhol e me viro no inglês. Mas daqui a dez anos eu quero estar falando inglês fluente e falando mais uns dois idiomas, assim, pra poder conhecer o mundo. Imagina! Se aqui... A comunicação é fundamental, porque, quando você se comunica, você se conecta. Então eu preciso falar outros idiomas para me conectar com outras partes do mundo. Eu quero conhecer o continente africano, que eu ainda não conheço... Isso não é daqui a dez anos. Isso, em menos de dois anos eu tenho que realizar. Daqui a dez anos eu quero ter conhecido pelo menos vinte países africanos, porque eu tenho que começar a fazer isso, senão em 2021, em 2022. Mas eu quero conhecer vários, assim. Ai, tanta coisa pra daqui a dez anos! Porque o sarau deixa mais pra frente, deixa lá... Porque, sabe o que eu quero? Eu quero ficar fazendo movimentos políticos, pra gente armar o futuro. Como a gente vai armar o futuro? Por isso que tem que olhar para as crianças, pros pequenininhos. Tem a Helena, minha afilhada de um ano e dois meses. Ela é o futuro. Então, eu preciso cuidar de pessoas da idade dela, porque daqui a dez anos ela tem que estar sendo treinada para uma liderança política, porque a gente precisa estar nesse lugar também. Não dá pra pensar num país diferente se a gente ficar fugindo dos lugares do poder público. O poder público tem que ser ocupado por nós. A gente não pode ignorar. Estando lá, a gente pode fazer alguma coisa. Agora, tem que ver quem tem estômago, né. Eu não sei se eu tenho. Eu nunca pensei sobre isso. Eu penso em formar pessoas para, mas estar lá não acho que eu tenha estômago – porque precisa. Mas a gente precisa ocupar esses lugares, senão a gente não vai conseguir tudo que quer, não. É preciso movimentar. Para movimentar uma estrutura, para derrubar uma ponte, os explosivos não são colocados lá fora, são colocados internamente, na base, em várias... Então, assim, pra gente poder fazer toda a mudança, é importante também estar dentro da estrutura, porque só fora... O que vai destruir é a pressão de dentro pra fora e de fora pra dentro. Só de fora pra dentro não destrói. Abala, mas não destrói.
P/1 – Eu tenho algumas poucas questões finais. Uma é que você falou, né, que o seu sucesso, sua trajetória profissional foi algo que você se preparou, se planejou, era algo que você visualizava alcançar. Com a maternidade não foi dessa forma. Então, eu queria que você dissesse o que representou a maternidade na sua vida.
R/1 – Ai, a maternidade representou um dos maiores desafios. Eu estava com uma barriga, gente! Então, porque lembra que eu nem performava a feminilidade? Então, eu não pensava numa barriga. Quando eu pensei em maternidade, era uma criança adotada, não ter um ser humano de dentro da minha barriga. Então a maternidade representou uma mudança de perspectiva sobre quem eu era, que eu não era só um ser produtivo, uma máquina de realizações, mas que eu gerava um outro ser dentro de mim. Isso foi uma mudança! Eu nunca imaginei que eu fosse me sentir daquele jeito que eu me senti nas duas gestações. Eu fui feliz de gerar essas duas crianças. A maternidade me trouxe a possibilidade de humanização e de vulnerabilidade, sabe? A maternidade me trouxe também o desafio de conhecer pessoas diferentes. Partindo, vindo de mim, mas são diferentes. E, ao mesmo tempo, reproduzem o tempo inteiro as minhas falas, os meus discursos. Caramba, ‘cara’, se eu soubesse, teria tido mais dois! Eu deveria ter parido mais. Eu não sabia que poderia ser assim. Eu tinha uma ideia de maternidade... Uma ideia construída de um lugar pacífico, de doação e de anulação. E a maternidade me trouxe a possibilidade de enxergar isso: que não é necessário se anular, inclusive para que os meus filhos possam pensar na vida deles, importante tanto quanto a dos outros. Eu não preciso deixar de ser Egnalda para a ser mãe do PH e da Maria Morena. Eu sou a Egnalda e também sou a mãe do PH e a mãe da Maria Morena. A maternidade me trouxe uma construção nova do que é ser mãe, do que é ser mulher e mãe. Eu não tinha essa construção e nunca poderia imaginar, se eu não os tivesse tido. Pra mim era só quase que: ter filho vai me dar uma empacada. E não foi isso. A maternidade foi um processo revolucionário, de dentro para fora. Foi muito louco esse negócio de maternidade, gente. Não é romantizar, porque é punk, e eu me preparo. Então, vem um lugar da maternidade, que está sendo meio estranho aqui dentro, que é isso: eu vou criar pessoas para o mundo. Eu estou preparada para me separar deles? Claro que não! Estou preparada? Estou fazendo o maior trabalho de conexão para que os meus filhos saiam de casa mais tarde e que eles sempre falem assim: “Vamos chamar minha mãe pra tal coisa?” Eu quero ser uma pessoa para além do laço consanguíneo. Eu quero ser uma pessoa que eles queiram ter na vida. Sabe, assim? Porque hoje eu sou essa pessoa que eles chamam para a turminha deles e pros amigos e amigas da Maria. Ela gosta de me envolver nas conversas dela, eu chamar atenção dela na frente das... Tipo assim: eu faço parte da vida deles. Eu quero fazer parte da vida dos meus filhos até eu ir embora, porque eu acho isso fascinante, você ter uma relação afetiva e de amizade com o ser humano que te deu à luz. É isso que a maternidade me trouxe: um outro olhar sobre o que é ser mãe, que eu não teria, se eu não tivesse tido [filhos].
P/1 – E eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de ter dito e que não teve, ainda, oportunidade de dizer?
R – Eu tenho dito muitas coisas no decorrer da minha vida, sabe?
P/1 – Nessa entrevista, especificamente, você tinha alguma expectativa de falar algo que ainda não falou?
R – Aqui, nessa entrevista, você entrou dentro da minha alma, né; esse roteiro aí, puxado. Eu não sei o que eu não falei nessa entrevista, que eu poderia... Eu acho que tudo que eu deveria ter falado, eu falei. Falei sobre a importância dos professores, falei para os meus professores o quanto eles foram importantes pra mim; falei do tempo que eu gostaria de ter com os meus pais, e não falei isso pra eles, mas eu falei [aqui] pra eles; verbalizei o quão eu sou resultado de uma crença que deu tudo certo. Meu pai, outro dia, deu uma entrevista e, todo orgulhoso, ele falando: “Eu posso morrer em paz, deu tudo certo”. Então, que as pessoas possam se ver nesse lugar que deu tudo certo.
P/1 – E, pra gente concluir, eu queria que você dissesse como é que foi essa experiência de contar a sua história de vida.
R – (suspiro) Foi um mergulho intenso, né? Eu não esperava tudo isso! Eu esperava uma conversa. De novo: eu não fui atrás das entrevistas passadas. Eu sei do Museu da Pessoa, mas eu não quis assistir pra não estar influenciada. Então, eu não tinha uma expectativa. Eu sabia que era uma entrevista e eu confio na equipe, sabe? Trip, Trip Transformadores. As pessoas que estão por trás dessa marca são pessoas que têm crenças que se convergem com as minhas, que têm propósitos que se convergem com os meus. E, nesse lugar, as pessoas que fazem parte disso... É como um ímã: são todas muito parecidas. Então, eu confiei. Eu sabia que seria uma experiência afetiva, e eu sei da intencionalidade do time. Então, a minha expectativa era de mergulho. Agora, eu não sabia como seria, e eu confiei em quem estava me guiando.
P/1 – Que bom que houve essa confiança. Enfim, e é recíproca, né, porque também é, pra além de um ato de confiar na pessoa que está fazendo as perguntas, a gente também, enquanto perguntador, cria, constrói, o que a pessoa também está compartilhando.
R – Gente, eu não sabia que era tudo isso! É uma contação de história da vida! Misericórdia! Olha, quantos minutos vai ficar isso aí? Quantos minutos, de verdade, é?
P/1 – Tem uma edição.
R – Então, mas a edição fica em quanto tempo?
P/2 – Aí vai depender de objetivos de projeto.
R – Ah.
P/2 – O vídeo, por exemplo, que fica no Museu, é de três minutos.
R – Nossa!
P/2 – A história compilada, é. Se você olhar no site do Museu...
R – Três minutos?
P/2 – O padrão é três minutos. Mas isso é muito de acordo com cada projeto.
R – Caraca! Difícil vai ser editar. Acho que tem o quê? Três horas? É isso, senhoras e senhores! Agradeço muito a gentileza de vocês! Nossa, é um bafão, hein? Que bom, e que tenha sido uma boa jornada pra vocês, porque, pra mim, foi muito fantástico! Obrigada!
P/1 – Eu é que agradeço. Eu o tempo todo não estava preparado pra essa experiência também de sair de casa. As únicas vezes que eu saí foram pra fazer... Muito pontuais, não de trabalho. As entrevistas que eu fiz pelo Museu foram on line, eu estando na minha casa e a outra pessoa...
R – É, foi o que a gente fez.
P/1 – ... Estavam em outro estúdio ou num local, de preferência, do entrevistado. Então, também ter essa experiência de voltar a estar in loco, né, é diferente em um contexto como esse. Mas, enfim, acho que estar aqui nessa casa, ser recebido e poder ter essa oportunidade de conhecer a sua história foi muito maravilhoso!
R – Eu é que agradeço.
P/1 – Eu só tenho a agradecer, em nome do Museu, e em nome também da Trip. E é isso. Obrigada, mais uma vez.
R – Obrigada, gente! Valeu, viu? Gratidão!
Recolher
.png)


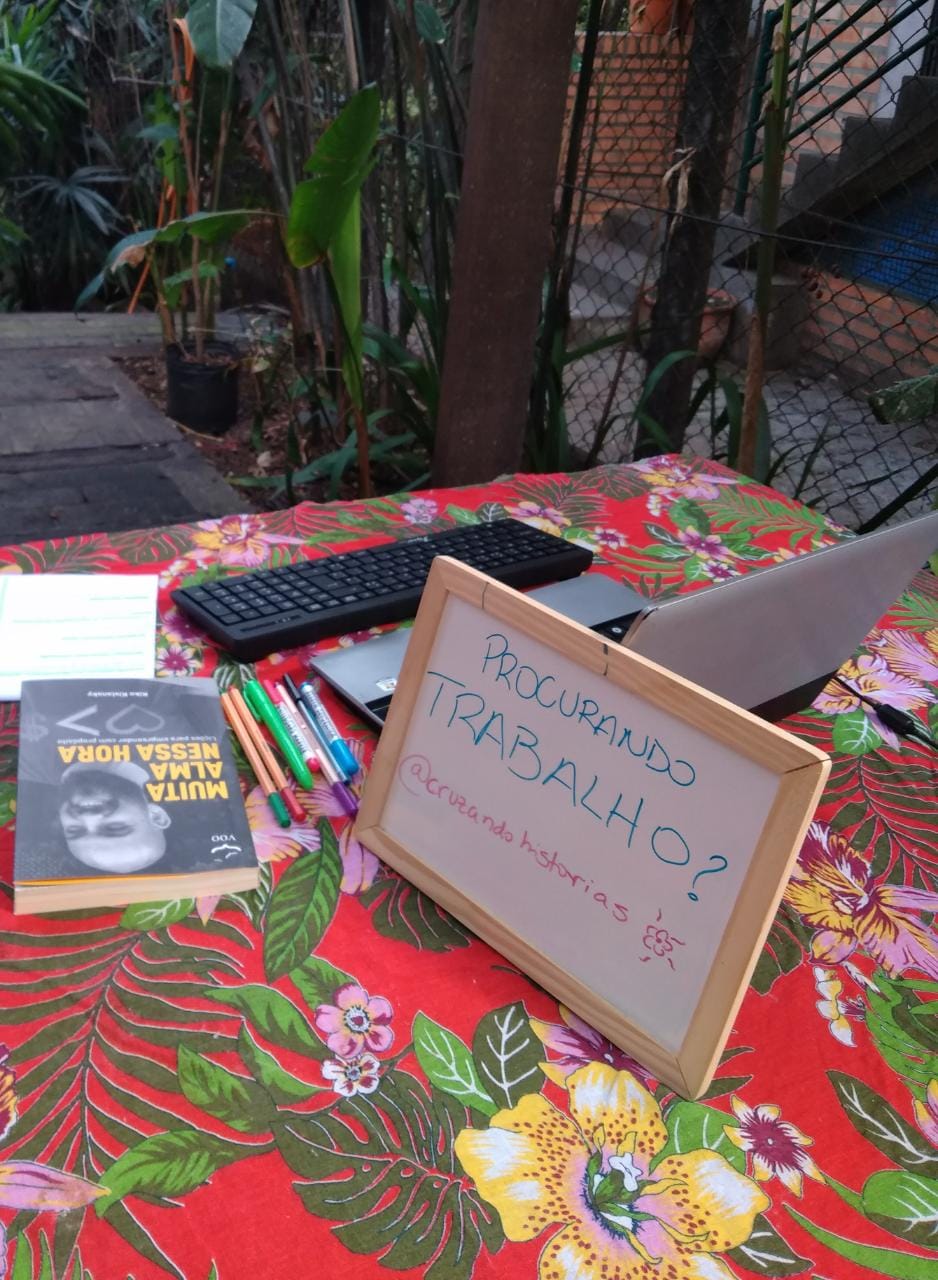
.jpg)