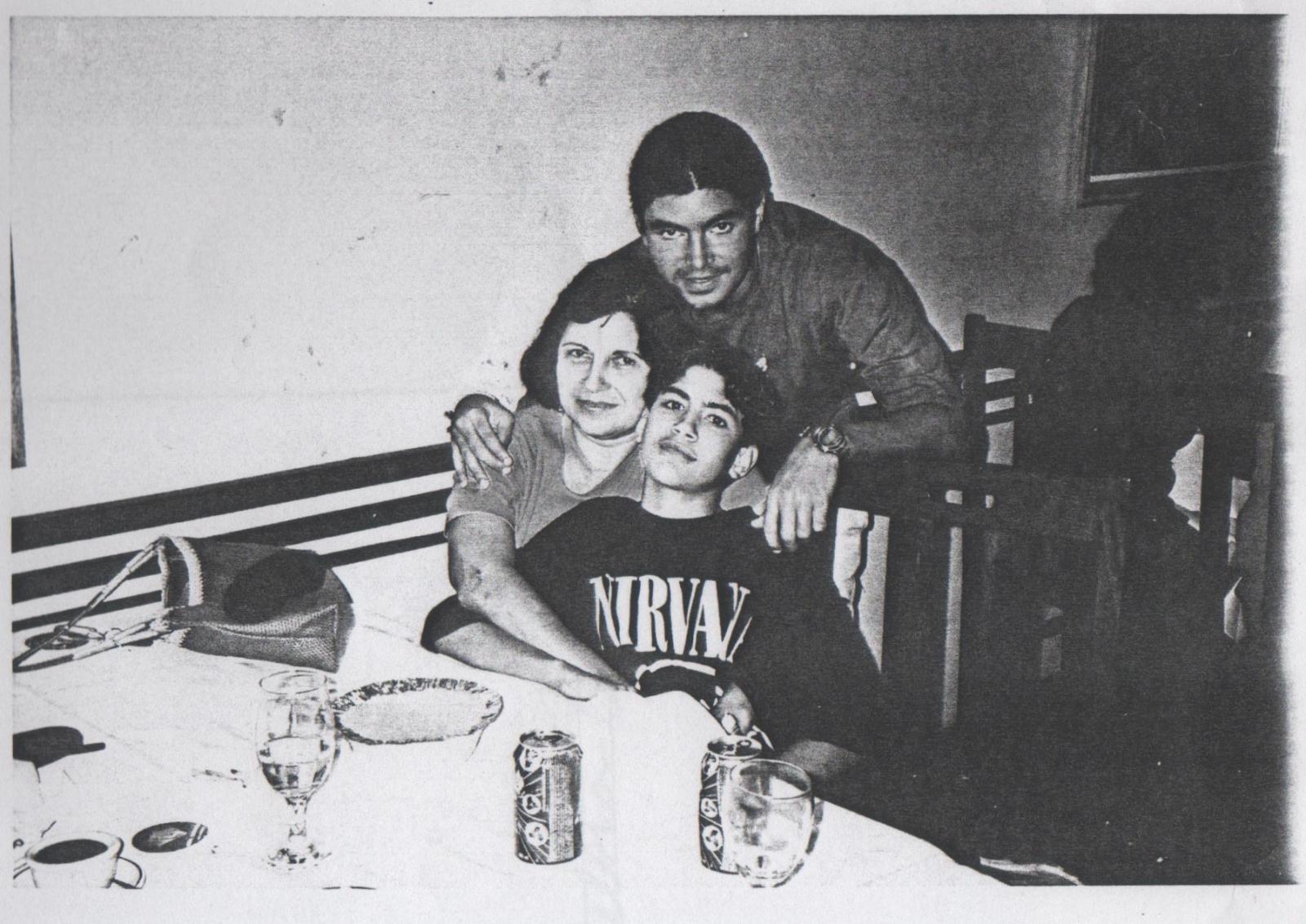P/2 – Qual é o seu nome completo, local e data de nascimento?
R – Meu nome é Maria das Graças Amaral Passos, nasci em Recife em 1973, 29 de julho.
P/2 – E qual o nome de seus pais?
R – Meu pai se chamava (Eli?) Silva Passos e minha mãe Maria Amaral Passos. Eu sou a mais velha da família.
P/2 – Quantos irmãos?
R – Eram cinco irmãos. Dois homens e três mulheres.
P/2 – A atividade profissional de seus pais?
R – Meu pai, ele trabalhou... Primeiro tinha um pequeno moinho de fubá. Quando eu era criança, tinha uns sete ou oito anos, a gente morou numa região metropolitana de Recife, que é o Cabo, e ele tinha esse moinho. Então a gente morou nessa região de sete aos dez anos de idade. Eu fiz boa parte do meu curso primário nessa cidade do Cabo, que fica a uns trinta, quarenta minutos de Recife. Minha mãe era professora, era diretora da escola paroquial dessa cidade; então, eu estudei nessa escola. Depois, o meu pai... O moinho não deu certo, faliu e então ele trabalhou um tempo na Prefeitura do Cabo. Como ele era ex-combatente, a minha mãe escreveu uma carta para o presidente da época – eu nem me lembro quando foi que ela escreveu essa carta, sei que ela tem essa carta falando que ele era ex-combatente, família numerosa, estava desempregado. E aí saiu a nomeação dele para os Correios. E ele trabalhou nos Correios, se aposentou pelos Correios e depois ele conseguiu – não sei se é esse o nome – ser reformado pelo exército por ser ex-combatente. Então, ele tem muito orgulho de ser ex-combatente. E aí conseguiu ter uma melhoria salarial, porque era praticamente o dobro do que ele ganhava como aposentado dos Correios.
P/1 – E ele costumava contar histórias pra vocês?
R – Só falava na guerra. O tempo inteiro assim: “Porque na guerra...”. E a gente ria muito dessa história, porque ele voltou da guerra muito religioso. Eu acho que ele já...
Continuar leituraP/2 – Qual é o seu nome completo, local e data de nascimento?
R – Meu nome é Maria das Graças Amaral Passos, nasci em Recife em 1973, 29 de julho.
P/2 – E qual o nome de seus pais?
R – Meu pai se chamava (Eli?) Silva Passos e minha mãe Maria Amaral Passos. Eu sou a mais velha da família.
P/2 – Quantos irmãos?
R – Eram cinco irmãos. Dois homens e três mulheres.
P/2 – A atividade profissional de seus pais?
R – Meu pai, ele trabalhou... Primeiro tinha um pequeno moinho de fubá. Quando eu era criança, tinha uns sete ou oito anos, a gente morou numa região metropolitana de Recife, que é o Cabo, e ele tinha esse moinho. Então a gente morou nessa região de sete aos dez anos de idade. Eu fiz boa parte do meu curso primário nessa cidade do Cabo, que fica a uns trinta, quarenta minutos de Recife. Minha mãe era professora, era diretora da escola paroquial dessa cidade; então, eu estudei nessa escola. Depois, o meu pai... O moinho não deu certo, faliu e então ele trabalhou um tempo na Prefeitura do Cabo. Como ele era ex-combatente, a minha mãe escreveu uma carta para o presidente da época – eu nem me lembro quando foi que ela escreveu essa carta, sei que ela tem essa carta falando que ele era ex-combatente, família numerosa, estava desempregado. E aí saiu a nomeação dele para os Correios. E ele trabalhou nos Correios, se aposentou pelos Correios e depois ele conseguiu – não sei se é esse o nome – ser reformado pelo exército por ser ex-combatente. Então, ele tem muito orgulho de ser ex-combatente. E aí conseguiu ter uma melhoria salarial, porque era praticamente o dobro do que ele ganhava como aposentado dos Correios.
P/1 – E ele costumava contar histórias pra vocês?
R – Só falava na guerra. O tempo inteiro assim: “Porque na guerra...”. E a gente ria muito dessa história, porque ele voltou da guerra muito religioso. Eu acho que ele já era, mas aí ele achou que se salvou por conta de Nossa Senhora da Conceição de quem ele é devoto e, qualquer coisa que a gente fazia em casa, ele falava: “Se vocês estivessem na guerra, vocês iam ver que isso é que era complicado”. A gente não levava muito a sério, achava que era neurose de guerra. Hoje ele fez um museu em casa com as fotos da época, leva todo mundo pra ver. Então hoje a gente até se orgulha disso, porque a gente pensa: “Puxa, uma pessoa que entrou como voluntária...”. Ele é uma pessoa que não teve muita instrução; meu pai terminou o ginásio praticamente e minha mãe tem nível superior. Então a gente sempre achava assim... Minha mãe a gente admirava muito, porque ela era intelectual. E ele, a gente sempre achava que ele era meio atrasado, não levava muito a sério, e ele era muito reacionário. Mas hoje a gente vê assim: que ele tem uma sabedoria que a gente estudou tanto e agora a gente procura ter essa sabedoria através de leituras alternativas, terapia. E que é só você desenvolver por esse lado intelectual, que era uma época que a gente valorizava demais isso. Isso não é o mais importante pra você viver.
P/1 – Qual a formação da sua mãe? A universidade, qual foi?
R – Minha mãe fez Pedagogia. Fez Pedagogia quando eu estava terminando o ginásio. Ela dava aula o dia inteiro e à noite fazia faculdade. Então eu sempre cresci assim, achando que a mulher tem que trabalhar. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu não me achava menos amada, nem meus irmãos, porque ela passava o dia fora. E isso também, essa disposição dela, de estudar, ela via o estudo como uma maneira de você melhorar de vida, economicamente. Meu pai, ele achava que ele não tinha nenhuma capacidade intelectual. Ele dizia: “Não dou pra estudar”, como se fosse dádiva, “eu tenho esse emprego e é assim que Deus quer”. E minha mãe dizia: “Não. Eu não posso aceitar isso, eu preciso ganhar melhor, e eu só posso ganhar mais se eu estudar”. E foi assim que... Eu acho que todos os filhos foram influenciados por essa postura dela. E o meu pai tinha essa postura de que a vida era muito boa e que a gente tinha o que Deus queria. E eu me revoltei com Deus por causa dessa história; eu não estava satisfeita com as coisas que eu tinha. Deus não pode querer que você tenha tantas carências. Eu, como jovem, queria ter carro, mas não tinha. Eu queria viajar nas férias e não viajava... E o que é que Deus tinha a ver com isso? Não haveria pobreza, umas pessoas terem a vida melhor que a outra. Então, eu sempre fui... Dentro dessas coisas, eu nunca aceitei a explicação da religião. Nessa época, eu fiquei um pouco distante do meu pai, por conta disso, porque eu era obrigada a ir à Igreja. Se você não fosse... A formação dos meus pais, eles são católicos, então se você não ia pra Igreja, você era quase uma espécie de uma excomungada. E eu ficava ouvindo aquelas coisas assim: “É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu”. Eu achava isso um absurdo, aí eu ficava contestando ele. E ele, como ele não estudou, ele dizia assim: “Você pensa que porque você estudou você sabe mais do que eu, mas Deus é melhor que você. Você quer ser melhor que Deus”. Eu dizia: “Não. Isso não está certo. Como é que Deus pode querer que umas pessoas sejam pobres, outras ricas, que haja injustiça? Deus não pode querer isso. Então, está errado, eu não concordo com isso”. E aí eu falei assim: “Eu não vou mais pra Igreja. Eu não quero mais ouvir essas coisas”. Eu tinha dezesseis anos. E eu resolvi fazer o curso pedagógico – terminei na época o ginásio, que aqui vocês chamam de Normal, eu acho. Porque eu falei assim: “Eu vou ter o meu emprego e eu vou ser independente, porque se eu começo a brigar muito com ele, eu prefiro morar sozinha”. E eu fiz o pedagógico, terminei o curso pedagógico com dezessete anos, fui a laureada da turma, e eu decidi que eu não ia lecionar também, porque eu via minha mãe se esforçar muito, fazia... Era respeitada, mas em termos financeiros não compensava. E eu sempre fui ambiciosa. Eu gostava de viajar, eu passava nos consulados e pegava folders de países: “Um dia eu vou nesse lugar”. Então falei: “Professor não vou ser”. Eu fui muito mais com a garantia de que eu queria um emprego, se meu pai morresse, a minha mãe, e eu teria uma formatura. E aí eu pensava assim: “Vou fazer uma faculdade”. Isso foi uma escolha muito difícil, porque eu gostava de muitas coisas. Eu gostava de Línguas, eu gostava de História, eu gostava de Biologia... Eu levei muito tempo pra decidir o que eu queria fazer. Todo mundo na minha classe sabia o que queria fazer e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu passava de Psicologia pra Geologia pra Astronomia de um dia para o outro. Foi uma crise muito grande que eu tive aos dezessete anos, que era a escolha da minha profissão.
P/1 – Vamos voltar um pouquinho pra vida familiar. Qual o nome dos seus avós?
R – Eu não sei o nome todo completo. A minha avó, que eu consegui encontrar assim vivos, minhas avós. Por parte de minha mãe, avó materna, era Severina. E do meu pai era Altina, ela morreu eu tinha uns dez anos. E minha avó não, até eu ainda entrar no banco ela era viva. Mas os meus avós, meu avô mesmo, avô paterno e avô materno, eu não conheci. E eles falavam pouco deles. Então, eu não tenho nenhuma referência deles. Parece que é uma família que tem uma história de mulheres (risos).
P/1 – As suas avós exerciam atividades profissionais?
R – Não. Era assim: as minhas avós eram domésticas e eles eu não sei o que faziam. Não sei... Minha mãe falava... Agora lembrei! Você começa a colocar o passado e lembra. O meu avô paterno, eu acho que ele era agricultor. Ele tinha um sítio e eu vejo meu pai contar, o meu pai sempre contava história de quando morava no sítio, então eu não tenho ideia de que ele trabalhava em outra coisa, se tinha, realmente a família não falava disso. O meu avô, por parte da minha mãe, ele morreu quando a minha mãe tinha dois anos. Minha avó casou novamente e esse avô aí que eu não conheci era operário de uma fábrica em Camaragibe, uma cidade perto de Recife, também que é a quinze minutos, vinte.
P/1 – Qual a origem de seus avós?
R – Olha, eu sei que é portuguesa. Tem até um livro pra você procurar a origem de sua família. Aí a gente coloca que é portuguesa, mas eu não sei. Acho que é muito misturada. Como eu não sou de família tradicional de Recife – as famílias tradicionais dizem: “Ah, sou parente do...”, eu não sou parente de ninguém –, eu não sei de quem eu sou. Eu sou a brasileira típica. Eu sou mestiça. Há muita mistura e realmente eu não sei... Português com certeza, que não tem muito a ver com a pele, totalmente.
P/1 – A senhora tem algum apelido?
R – Quando eu era criança as pessoas da família me chamavam de Gracinha. Todo mundo hoje me chama de Graça, Gracinha, mas Graça é o mais comum.
P/1 – Como era a cidade em que você morava na sua infância? Era no Cabo mesmo?
R – Eu fui morar no Cabo eu tinha sete anos. Então, eu morei no Recife. Bem novinha eu fui morar na cidade do meu pai, em Garanhuns. Mas eu tenho muito pouco registro dessa época. Eu lembro que eu comecei numa escola, escola de freiras, e que tinha uma história assim: a aluna bem comportada ganhava um cartão azul, que era ser amiguinha de Jesus; a que era mal comportada recebia um vermelho, que era amiguinha de demônio. Eu tinha muito medo de ir para o inferno e então recebia sempre o azul, minha irmã sempre recebia o vermelho (risos). Eu devia ter três anos, quatro, nessa época. Depois, meu pai... Minha mãe pediu transferência, minha mãe era professora, sempre foi diretora dessas escolas de interior e ela foi transferida pra Recife. Então, ela ficou ensinando em Recife e meu pai acompanhava. Foi nesse período que ele comprou esse moinho, que ficava indo para o Cabo e voltava, até que a família foi morar no Cabo. Eu me lembro que eu morava em uma casa muito grande e que minha mãe ficava preparando a aula e eu ficava olhando. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, porque eu perguntava tudo: “O que é isso?”. Então, isso teve... Eu tive umas repercussões por causa disso, porque por conta da idade eu deveria estar no Jardim. Eu chego no Jardim e a professora falou que era besteira eu ficar fazendo massinha. Eu achava mais interessante a aula da primeira série, que eu ficava ouvindo na sala ao lado; não prestava atenção na minha aula e prestava na outra. Então, me mandaram pra sala vizinha, mas com a recomendação que eu ficasse invisível, quer dizer: “Não pergunta nada a ela, porque ela está na idade de brincar e aqui vai ter tarefa”. Então, sempre que perguntavam alguma coisa que ninguém sabia, eu dizia: “Eu sei”. Mas aí a professora: “Deixa eu perguntar a outro”. E aí eu fui tendo uma postura de ficar... Eles diziam assim: “Quando começar a ficar mais difícil, ela volta pra outra sala”. Eu comecei a ter medo de voltar pra outra sala, aí eu comecei a ter medo de falar e falar besteira; eu comecei a ficar calada na sala de aula e eu fiquei toda minha vida de estudante calada na sala de aula. Eu era uma boa aluna, sempre passei com média, era uma das melhores, mas eu não conversava com o professor, sempre fui distante. Isso eu acho que... Como coisas que acontecem na sua vida repercutem, vai repercutir na sua vida adulta. Isso dá insegurança, porque você tem medo de errar. Você não é ousada. Então, às vezes, no curso pedagógico, no curso colegial mesmo, alguém pergunta: “Quem sabe isso?”. Eu ficava: “Digo, não digo. Digo, não digo”. E não dizia. E, quando o professor dizia a resposta certa, eu sabia a resposta certa e tinha perdido de ganhar um dez. Às vezes profissionalmente. Eu tentei me corrigir disso e quando eu fui fazer a minha prova no BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]... Para o BNDES não, antes do BNDES eu tinha feito uma seleção para o Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco e eu não passei na entrevista, porque eu tinha medo de dizer besteira.
P/1 – Graça, ainda voltando ao seu período de infância, quais são as suas memórias de brincadeiras?
R – Olha, eu brincava muito na rua. Nós brincávamos na rua mesmo. Tinha um jogo chamado “queimado” que eu gostava muito. Eu gostava muito de um que a gente chamava “academia” e que aqui se chama “amarelinha” hoje. A gente gostava de brincar de boneca. Eu via filmes na televisão e gostava de brincar de coisas que a gente via naquele filme. Morava numa casa que tinha um quintal muito grande, eu reproduzia programas de auditório, botava as cadeiras alinhadas para ouvir as pessoas cantarem. Eu não cantava, eu organizava o show. Eu brincava muito, mas eu também estudava, porque desde criança eu pensava nisso: eu tinha que ter uma profissão.
P/2 – Você lembra de algum filme que você tenha assistido e que tenha sido marcante? Algum programa de auditório...
R – Era programa de índio. Índio mesmo. Tinha aqueles filmes que apareciam na televisão, não sei exatamente o nome, mas aparecia como a conquista do Oeste americano. Os americanos lutando contra os índios. A gente fazia cabana no quintal, colocava penas na cabeça e brincava de correr, cavalgar. A vida indígena. Não era nem a guerra, mas eu achava muito bonito viver como índio, viver na natureza. E, programa de auditório, eu me lembro que apareciam programas de cantores famosos. E aí a gente... Eu fazia isso em casa também, chamava as pessoas e uma recitava, outra cantava. Eu dizia: “Você agora vai cantar, você vai recitar...”. Tinha o comercial (risos).
P/1 – Graça, você está comentando sobre sua vida escolar. De que forma sua vida escolar influenciou na tua escolha profissional?
R – Olha, eu não acho que foi assim a vida escolar. Eu olhava o que as pessoas faziam. Nesse período em que eu morei no Cabo, meus pais não tinham carro. Meu pai tinha esse moinho e eu achava muito bonito as pessoas estarem ali comprando, dando dinheiro, recebendo o troco, e lá dentro, onde as pessoas faziam o fubá, o xerém, onde as pessoas ficavam envasando, ensacando e faziam com rapidez. Eu achava aquilo bonito e cheguei até a pedir que na época que tivesse um movimento maior, eu fazer aquilo ali. E meu pai levava. Aí ficava eu e minha irmã, a gente fazendo os saquinhos e eu achava muito esse tipo de atividade. Quando eu ia numa loja comprar alguma coisa, eu também achava bonito a pessoa abrir a caixa registradora (risos) e fechar. O tecido... Eu brincava disso em casa, de loja, de vender coisas. Eu pegava alguns tecidos, enrolava e as minhas amigas iam comprar e eu vendia. Então, eu sempre fui olhando as atividades que as pessoas faziam. E a pessoa que tinha mais dinheiro na cidade, uma amiga minha, o pai dela tinha carro, ela tinha casa na praia, então: “O pai dela faz o que?”; “Ele é médico”; “Então eu vou ser médica, porque quando eu crescer, eu quero ter isso”. Eu não achava que eu podia ter alguma coisa partindo dos meus pais, porque eu pensava assim: “Poxa, isso daqui está dado, eu não nasci rica, então eu não vou ter o que eu quero através dos meus pais”. A outra opção seria um casamento rico (risos). Eu pensava assim: “Bom, eu não nasci pra casar porque eu não gosto de cozinhar. Não sou boa em prendas domésticas. Eu não vou casar, eu quero trabalhar”. Mas eu ficava olhando isso: “Quem é na cidade que...”. E me lembrei dessa história: “Vou ser médica...”, porque o médico... A casa dele era bonita, era a mais bonita, as filhas dele tinham as roupas mais bonitas, os aniversários eram os aniversários bonitos... Depois eu mudava. Mas sempre foi assim: “Eu quero fazer alguma coisa porque eu quero ter dinheiro quando crescer”. Quando eu recebia uma mesada, que meu pai me dava, eu não gastava. Tinha vontade de comprar chicletes... Chicletes eram até proibidos porque estragavam os dentes: “Não come chicletes...”. Mas eu não gastava. Achava muito bonito uma pessoa abrir uma carteira cheia de dinheiro (risos). Isso varia de pessoa pra pessoa, porque a minha irmã brincava o tempo todo e ela nunca percebeu essas coisas. E eu era sempre muito dirigida pra uma profissão. Eu não sei se o fato de a minha mãe trabalhar fora, isso influenciava, mas eu sempre achei que pra você fazer o que você quer tem que ser independente. Você só é independente, você tem que ter um emprego. Pra você ter um emprego, você tem que ser preparada. Um bom emprego, não era qualquer emprego que eu queria. E aí, eu não quis ser professora por causa disso. E eu gostava de muitas coisas relacionadas com ensino, porque eu gostava de Sociologia, gostava de Antropologia. Eu sempre fui boa aluna de Português, Línguas. Então, quando eu olhava: “O que eu vou fazer que não ensinar?”. Quando eu resolvi fazer o vestibular, foi muito assim, eu fiquei muito angustiada. Todo mundo estava fazendo e eu não. Eu tinha pensado em fazer Química, porque eu achava bonito também você transformar um produto, pegar duas coisas diferentes e fazer uma terceira. Falei assim: “Essa transformação é muito interessante. Você ter um algodão e de repente aparecer um tecido, uma roupa”. Eu achava bonito fábrica. Eu passava o tempo todo na estrada; quando eu fui fazer o ginásio – que eu fui fazer em Recife, o primeiro ano – eu ia de ônibus. Estava começando a industrialização. Tinha uma fábrica que se chamava Coperbo, Companhia de Borracha Sintética, e era considerada a empresa que ia mudar a face econômica do Estado, que era um Estado de tradição canavieira, a principal fonte de renda era a cana de açúcar. Essa fábrica era uma fábrica que aparecia na propaganda como um marco na industrialização no Estado. Eu achava lindo. Passava por ali, via aquelas tubulações... E eu achei que ia fazer Química por causa disso. Mas, como sempre, na véspera de encerrar o vestibular falei assim: “Vou fazer agora. E vou fazer o quê?”. Eu fiz curso Normal. Eu não achei que eu estava preparada pra fazer área de Ciências Exatas, só podia fazer na área de Ciências Humanas. Na área de Ciências Humanas, tirando o que não fosse ensinar (risos) era: Contábeis, Direito, Economia, Administração. Ciências Contábeis, eu achava que eu não dava pra Ciências Contábeis, porque eu achava que tinha que ser muito precisa nas contas e eu achava que não dava pra isso, achava que era uma coisa muito metódica. Economia, eu não sabia o que era, eu não conhecia ninguém economista. Não tinha a menor ideia onde uma pessoa que fizesse Economia fosse trabalhar, nem o que o curso estudava. Foi um período em que a gente estava em plena ditadura militar.
P/1 – Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa juventude? O que vocês faziam? Tinha movimento estudantil? Atividades culturais?
R – A minha juventude, nesse aspecto, foi um pouco diferente da maior parte dos jovens, porque como a minha família não tinha dinheiro pra dar pra cinco pessoas, seis pessoas – nós já éramos seis –, então eu passava as férias ali. A minha mãe era diretora da escola e eu li a biblioteca toda da escola. Eu não gostava desse período que as pessoas começavam a namorar... Aí eu falava assim: “Eu vou namorar, aí casa, eu não trabalho, vou ter filhos” (risos). “Eu não quero namorar agora”. Então, eu não ia para as festas. Mas eu me lembro que na escola, no outro dia, na segunda-feira, as pessoas comentavam: “Ah, teve um encontro de moços no Clube Internacional... Teve paquera...”. Eu não ia pra esses lugares. Eu não tinha a roupa da moda, eu não tinha dinheiro pra ir pra lá. Eu morava longe, porque nesse período eu já estava morando num bairro chamado Rio Doce, em Olinda. Já é o final, bem longe, não é o centro histórico de Olinda, mais afastado. Então era muito longe de tudo e você, como adolescente, fica muito ligado em estar com a roupa da moda e estar fazendo as coisas da moda. “Olha, eu disse que eu não vou”. Por isso que eu tinha essa ânsia de: “Eu preciso trabalhar pra ter o meu dinheiro”, porque eu não tinha dinheiro pra fazer essas coisas. Então eu não ia. Mas eu ouvia. Então eu lia, eu lia jornais, eu via televisão, mas era um período – a revolução foi em 1964 –, era uma coisa assim... Tudo era censurado. Eu tinha uma curiosidade muito grande, mas não tinha respostas pra algumas coisas que você gostaria de fazer. E a minha família não era uma família que tinha participação ativa nesses movimentos estudantis. Eu tinha medo de ser presa. Eu ouvia essas coisas na televisão e admirava as pessoas que tinham coragem de contestar o regime, mas eu me sentia covarde. Eu simpatizava, mas eu não tinha coragem de participar disso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu ainda via nos banheiros, eles jogavam panfletos: não sei quem foi preso, foi torturado. Eu morria de medo.
P/1 – Como se deu sua escolha para o curso de Economia?
R – Deu assim: eu fui olhar o que eu podia fazer, porque eu só estava preparada pra fazer o vestibular na área de Ciências Humanas e fiquei com essas quatro opções. Exclui Contabilidade. Direito eu também achei que era uma coisa muito formal, que eu não gostaria. Economia eu não sabia o que era e Administração eu achei que era uma coisa interessante, de lidar com pessoas. Então, eu optei por Administração, mas era uma opção apenas indicativa, porque foi o primeiro ano que foi instituído o ano básico no vestibular. Você cursava o ano inteiro, você dava uma indicação do curso que você pretendia fazer e durante o ano você fazia duas provas: uma prova em julho e outra em dezembro. E sua média nessas provas daria qual o curso que você poderia fazer. Se eu quisesse fazer Direito e minha média era, vamos supor, não fosse uma média alta, que não desse pra entrar nesse curso, você faria o que sobrava. Eu, durante o curso todinho, a primeira semana de aula, teve uma cadeira chamada Introdução à Economia. E o professor chegou na classe e falou assim: “Quem tirar quatro, se dê por feliz, porque a maior parte das notas aqui vão ser zero, dois, três”. E eu só passava por média, tirar dois? Entrei em pânico. Então, eu passei uma semana em casa chorando mesmo, escondida pra ninguém ver isso. Falei: “Onde é que eu me meti? Como é que eu vou sair dessa?”. Matemática, tinha aula de Matemática e o professor falava assim: “Vocês já viram isso no curso colegial”. Eu não tinha feito o colegial, o científico, tinha feito o pedagógico. E eu comecei assim... Parecia grego. Quando... Na primeira aula de Economia, eles falavam logo: “Não aceito perguntas, não aceito críticas, porque vocês vieram pra estudar, não vieram pra fazer subversão aqui”. E Economia é uma coisa que é muito ligada à política, então, ninguém comentava nada. Eu me lembro bem a expressão, a primeira palavra que eu ouvi: “A demanda decrescente”, meu Deus, o que é isso? Eu não ouvi a palavra demanda e o que é a demanda decrescente, então nem perguntava. Mas depois desse primeiro susto, eu passei a... Eu estudava pela manhã e à tarde eu ficava na faculdade. A tarde inteira. Os professores faziam mestrado também e eles falavam: “As dúvidas que vocês tiverem, vocês me perguntam”. E eu fazia quase que uma tradução: pegava um trecho, lia um parágrafo e traduzia. Perguntava para o professor: “Não entendi o que é isso”, aí ele dizia o que era e eu traduzia, botava ali de lado o significado. E comecei a estudar mesmo aquilo ali, inclusive eu ficava na faculdade o dia todo porque os livros eram muito caros. Esses primeiros livros eu não pude comprar, eu copiava o assunto. E o livro “Introdução à Economia” do ______, eu praticamente copiei aquele livro, o assunto todo da prova, copiei ali. Então, quando teve essa prova, eu tirei sete e meio. Foi uma das notas mais altas da sala; eu e outra pessoa. E aí eu comecei a gostar, comecei a entender o assunto, a gostar, a fazer um círculo de amizades maior, porque as pessoas se aproximam de você pra estudar com você: “Quando é que você estuda? Vamos estudar juntos”. E eu comecei a gostar e a entender, mas eu ainda não tinha me decidido por Economia. No final do ano, eles passaram um termo de opção antes da última prova, para as pessoas se decidirem e aí seria definitivo o curso que você ia fazer. Aí eu já estava gostando muito de Economia, porque eu já estava entendendo e vendo as relações que isso tem com o mundo, com o dia-a-dia das pessoas, com o mundo externo. Aí eu falei assim: “Acho que eu vou fazer Economia”. Mas isso foi uma coisa que eu passei uma semana ensaiando pra dizer em casa, que ia mudar mais uma vez. Aí eu cheguei e falei: “Não vou fazer Administração, vou fazer Economia”. Os meus próprios colegas não me viam como concorrente, diziam: “Ainda bem que você não vai fazer Economia”, porque eu tirava notas boas, “você vai fazer Administração”. E aí, depois que eu fiz a opção, falei: “Olha, eu mudei. Vou fazer Economia”.
P/1 – E seus pais? Como é que receberam essa mudança?
R – Tranquilos. Eu até não sei se eu teria essa tranquilidade com meus filhos: “Olha, estou mudando de curso”. Hoje eles fazem muito isso. “Você acha que é bom isso?”. Eles sempre acharam que eu sabia o que queria. Eles sempre confiaram cegamente no que eu queria. “Ela é muito estudiosa, o que ela escolher ela vai se dar bem”, e acharam ótimo, não se envolveram com isso. A partir daí, eu comecei a estudar muito. Mas aí eu tive uma crise: quando eu cheguei no final do segundo ano, eu achava assim: “Esse curso é muito teórico. No que eu vou trabalhar?” (risos). Ninguém falava nada. Aí eu pensava: “Eu não tenho família de empresários, não tenho amigos empresários, só me resta concurso”. Aí apareceu um concurso pra estagiário nesse Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, chamado Condepe.
P/1 – Em que ano foi isso?
R – Foi em novembro de 1972. Eu fiz a prova escrita e uma entrevista mas, como sempre, eu passava bem na escrita, porque a escrita era teórica, em cima do que você estudou, e quando chegou na hora de eu dar minha opinião, eu realmente não sabia. “Qual é a sua ideia pra eliminar o desemprego no Nordeste?”. Eu, estudante de Economia, segundo ano, como é que eu ia saber isso? Eu pensava assim: “Bom, o que eu falar aqui, de repente é uma besteira!”. Aí veio aquela história de temer ser avaliada. Então eu fiquei muito intimidada perante a comissão que estava me entrevistando. Fiquei muito nervosa. Realmente eu falei... Eu falava e nem sentia o que eu falava. Realmente eu não passei. Foi a minha primeira derrota, em termos assim de estudar, porque eu sempre passava mesmo nas matérias que eu tinha dificuldade. Eu pensei assim: “Minha vida está encerrada. Minha chance. Eu não vou ter mais chance, porque eu perdi isso aqui”. E continuei. Mas aí uma empresa, essa ______ empresa comercial, tipo Lojas Americanas, que era uma empresa que era a única que tinha escadas rolantes em Recife, todo mundo ia passear nessa empresa...
P/1 – E o que era essa empresa? Quais os produtos? Como era?
R – Era comércio, tipo Lojas Americanas. Eles vendiam tudo. As pessoas iam comprar. Tinha lanchonete na empresa. Você andava, subia nas escadas rolantes, ia na lanchonete. Era uma empresa que tinha esse esquema que uma loja de departamentos tem hoje, era uma coisa até avançada pra época, se destacava das outras. Eles chamaram o pessoal do Condepe e falaram assim: “Olha, eu queria a lista das pessoas que fizeram a prova pra estágio e que não passaram. As pessoas que não passaram na entrevista e passaram na prova escrita”. Aí alguém me telefonou e falou: “Olha, tem uma empresa que está interessada em estagiário”. Eu fui lá, falei pra ela: “Eu não passei na entrevista, eu não tenho experiência, eu fiquei muito nervosa e eu quero muito trabalhar e eu quero aprender a fazer alguma coisa que eu não sei no que é que eu vou empregar isso que eu estou estudando”. Até então eu só estudava derivada, custo marginal, ______, como é que eu vou aplicar isso? Eu ainda não tinha tido aula de projeto, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no banco, que é projeto. Planejamento econômico. A gente não tinha tido aula disso ainda. Eles gostaram dessa minha colocação e eu falei: “Eu fico até de graça. Não precisam nem me pagar nada” (risos). Eu fiquei lá esses três meses. Foi quando chegou na faculdade um edital do BNDES pra seleção de estagiários de Economia. Eu também não sabia direito o que era o BNDES, pouca gente do meu lugar tinha ouvido falar no BNDES, com exceção de alguns grandes empresários, que tinham acesso ao BNDES, porque tinham pedido financiamento ao banco. Eu fui ao BNDES – acho que nem era BNDES na época – e perguntei se haveria alguma possibilidade de continuar depois de formada. Eles disseram que não. Então falei: “Então não vou mudar, porque o outro estágio tinha promessa de emprego ao terminar o curso”. Mas um dia eu comecei a me sentir muito limitada naquele trabalho, passei a olhar que chegava à tarde, somava quanto vendeu a prazo, a vista, qual setor... Tinha o dono da empresa, que o filho dele estagiava lá. Ele sabia tudo da empresa e eu não sabia nada. Falei assim: “Eu vou ficar sempre assim, sem saber das coisas, só executando”.
P/1 – E você não quis.
R – “Eu acho que vou fazer esse teste do banco. Se eu passar, ótimo. Eu vou conhecer uma empresa pública e é uma forma, já que eu estou começando a minha carreira, eu posso experimentar atividades profissionais diferentes, e se eu não ficar aqui, eu não ficar no banco, faço Mestrado, vou estudar fora”. Também tinha vontade de fazer isso. Aí eu fiz a seleção.
P/1 – Nesse momento da faculdade, vocês discutiam os tipos de economia... O que vocês discutiam?
R – Olha, as pessoas tinham sempre desconfiança em relação aos colegas, porque havia aqueles boatos que tinha gente infiltrada. Então, você não podia fazer nenhum comentário. As pessoas falavam mesmo... Nesse período a gente ouvia aqui e ali que alguém foi preso. A gente começava a ouvir, falar das pessoas que estavam ainda desaparecidas... Mas eu acho que a minha turma, essa geração que entrou em 1970 – a gente entrou em 1970 e terminou em 1974 – começou a falar que devia haver abertura política. As pessoas falavam, mas era uma coisa assim que estava começando a surgir, que deveria haver uma eleição. Eu nunca tinha votado. Começaram a surgir esses partidos de oposição. Era o MDB [Movimento Democrático Brasileiro]. Tinha a Arena [Aliança Renovadora Nacional] e o MDB. Então, as pessoas, os estudantes praticamente eram quem votavam contra, eram contra. A gente era contra a ditadura militar. A gente achava que o Brasil era atrasado por conta do imperialismo americano, que os americanos deram o golpe, que os americanos eram os responsáveis pelas empresas, pela situação de atraso em que se encontrava o país. Então, você tinha umas poucas pessoas beneficiadas e a grande maioria sem ter acesso e oportunidade de uma vida saudável, se falava muito nessas coisas. Eram coisas que a gente via na imprensa... Mas, eu comecei a assinar – assinar não, eu comprava – um jornal chamado Opinião. E depois um outro, Movimento. Esse jornal saia frequentemente com uma folha inteira com uma tarja preta. Aquilo significava que aquele artigo tinha sido censurado. Então, era um momento muito político. As pessoas tinham a preocupação de ter um presidente em que você votasse nele. E criticavam o regime.
P/1 – Em termos profissionais, em termos de mercado de trabalho para o economista, como estudantes, quais eram as expectativas profissionais naquela época?
R – As expectativas... As pessoas pensavam assim: “Vou trabalhar numa empresa privada”. Principalmente no Nordeste. No Nordeste você não tem... Em Pernambuco, você tinha o quê? Você tinha usina de açúcar, você tinha umas poucas empresas familiares, como cerâmica, e você tinha que trabalhar no setor privado. Ou então você trabalhava nesses órgãos do governo, você trabalhava na Secretaria do Planejamento, você trabalhava no Banco do Nordeste, na Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste]. Então as pessoas economistas trabalhavam na Sudene ou então iam fazer Mestrado. Você não tinha muitas opções não, ou você ia para a empresa privada, que não faz concurso. Ela vai julgar, você vai. E numa empresa familiar muitas vezes por amizade, por indicação. Não existia, eu não sentia um certo profissionalismo. Não sei também se isso existia e, como a gente não era... Não fazia parte desse grupo, você interpreta que não tenha a oportunidade. Mas, realmente, as oportunidades eram poucas, seriam sempre essas: concurso e empresa privada, ou então magistério. Você fazia Mestrado e ia ensinar. Até o Presidente fez isso. Não podia fazer mais nada, foi ensinar.
P/1 – Depois desse impacto negativo de Introdução à Economia, o que te atraiu pra essa profissão? Quais eram as expectativas?
R – Eu achava muito interessante discutir o emprego, a renda das pessoas, o que tornava um país desenvolvido, o que fazia um país subdesenvolvido, as relações de um país com o mundo, a balança comercial: você vende, você exporta, investimentos diretos. Você está fazendo fábricas, você emprega pessoas. Essas coisas eu comecei a achar que mexia com o dia-a-dia das pessoas. A gente pensava que a Economia era uma coisa acadêmica, que não tinha nada a ver com a sua vida, e eu comecei a ver que uma política do governo afetava o seu bolso: subiam os juros, os juros estão mais altos, então você compra menos a crédito, você não consome. Então, toda a política econômica afeta o cotidiano das pessoas. E eu achei... Comecei a me interessar e a achar que a Economia é interessante em função dos impactos que as decisões econômicas tinham na vida das pessoas. Um bom governo teria uma boa política econômica e daria oportunidade do país superar as desigualdades regionais de renda, as desigualdades pessoais. Você vê porque tem países ricos, tem países pobres. É como você explorar os recursos naturais de um país, como você descobrir o potencial de cada cidade, de cada região. Eu comecei a achar, comecei a ver que isso tinha a ver com uma visão muito grande de mundo. E, como eu gostava de conhecer tudo, eu era curiosa, eu achei que era uma área interessante pra se trabalhar. Tem a área de banco... Mas a área de banco, especificamente financeira, letras de câmbio... Isso eu achava que era chato. Eu gostava muito mais da parte ligada aos impactos que uma industrialização teria naquela sociedade, eu achava que isso era uma coisa interessante. Eu via a paisagem de uma cidade mudar. Você tem uma paisagem agrícola, daqui a pouco você vê uma empresa, uma cidade em que a maioria das pessoas não tinha expectativas de trabalho, interessante você ver aquelas pessoas trabalharem naquela fábrica. Você começar a se profissionalizar, a fazer um curso de... Todo mundo queria saber – na época não era informática, estavam fixados em línguas –, queria estudar línguas, queria saber contabilidade. Você precisava entender o balanço de uma empresa. E a gente pensa que isso não tem, mas tem a ver, mas tem, com o dia-a-dia das pessoas. Quando eu falava... “Você está estudando o quê?”; “Economia, Economia!”. O pai de uma amiga minha uma vez falou assim: “Você é muito estudiosa, as pessoas têm que ser inteligentes, mas você não é. Se você fosse inteligente, você não faria esse curso. O que vai fazer com esse curso? Você teria feito Medicina”. Porque as pessoas escolhiam, na época, Medicina, Engenharia ou Direito. Então, se você não escolhia uma dessas três coisas, o resto, era resto.
P/1 – Tinha muitas mulheres nesse curso?
R – Tinha. Agora, na época em que eu fiz Economia, existia uma tradição assim: as pessoas que faziam Economia eram as pessoas que não conseguiam entrar no curso de Engenharia. Então, todo economista seria um engenheiro frustrado (risos). Lá em Recife se falava isso, e os professores falavam: “Olha, só vai fazer Economia quem realmente quiser ser economista”. Então eles entraram pesado nessa matéria, e a “Introdução à Economia”, e o curso vai ficando mais interessante, porque você começou a estudar o quê? Geografia econômica; você estuda os casos: a seca do Nordeste, a Índia, porque o Sul está desenvolvido e o Nordeste está atrasado, qual foi o papel da Sudene. Isso tudo, eu comecei a achar interessante.
P/1 – Tem algum professor que tenha te marcado mais no seu tempo de faculdade?
R – Professor de Microeconomia. Em Microeconomia você começa a estudar o universo a nível assim de empresa e preços, como é que você determina preços e como aquilo vai afetar a produção daquela empresa, a escala de produção. E esse professor – era uma matéria que também era considerada das piores –, no último dia do curso, no primeiro ano, falou assim: “Quem vai fazer Economia prepare-se que vai ser nessa forma”. Ele colocou uma fórmula que tomou o quadro todo. E a maior parte das pessoas é reprovada nessa matéria. Era assim, um ensino na base de você ter medo. A gente sempre tem medo, e eu tinha medo de ser reprovada. Aí ele falou essa história e todo mundo tinha medo. Chegou na primeira aula de Microeconomia, o professor falou assim – eu nunca esqueci: “Vocês já viram Derivadas?”; “Não”; “Vocês já estudaram Cálculo Integral?”; “Ainda não”. Porque isso fazia parte do programa de Matemática, que a gente ia começar a estudar. Então ele falou assim: “Bom, então eu vou passar aqui... Não adianta eu falar nada, porque vocês não vão entender nada. Eu vou passar uma semana fazendo revisão superficial, eu vou dar noções a vocês desse assunto, porque se não vocês não vão entender”. Aí ele resolveu dar uma semana de aula de Matemática pra entrar em Economia, Microeconomia. Isso me marcou, porque eu achei assim... Um professor preocupado com que o aluno aprenda, porque os professores – eu acho que é uma coisa que acontece hoje, a gente sente isso com os filhos da gente – vão lá e dão a matéria, não importa se você sabe, se a classe sabe, o problema é seu. Ele teve a preocupação de ser compreendido. Quando eu vi que eu tinha deficiência em Matemática e outras pessoas tinham, então nessa prova, eu tirei acho que nove e meio nessa prova. E outras pessoas que não sabiam Matemática, também tiraram nove, nove e meio, oito. Então, ele se orgulhava de as pessoas tirarem notas boas, porque significava que ele é que ensinou e que as pessoas aprenderam. Esse professor foi um professor que eu achei que merece o título de professor.
P/1 – Teve algum ______ marcante o período de faculdade?
R – Foi. Eu só estudava o assunto didático, porque nem tinha tempo. Primeiro que era muita coisa, era um capítulo por aula, às vezes dois, e aí eu estudava tanto, que quando acabava, estava exausta. Se você fosse... Não tinha tempo de ler. Eles não indicavam. Tinha os autores proibidos, então não indicavam. Ninguém indicava livros do Paulo Freire. Celso Furtado passou a ser na cadeira de História Econômica do Brasil, mas essa cadeira a gente começou a dar no terceiro ano de faculdade. E aí a gente começou a estudar Análise do Modelo Brasileiro, Formação Econômica do Brasil. Essa cadeira eu também gostava muito. Então, eles não tinham muita saída, o autor era Celso Furtado ou Caio Prado Júnior, duas pessoas visadas pelo sistema, pelo regime militar. Então, a gente tinha que estudar isso aí. Essa matéria também foi uma matéria muito importante e eu acho que ela deveria ser dada antes até de você começar a estudar a teoria, porque aí tem a ver com o dia-a-dia, a história da cidade, a história do Brasil. Aí você começa a ver as ligações da Economia com a História. A Economia, não é uma ciência exata. Eles falavam assim: “Você tem que ver as relações com a Sociologia, com a Antropologia”. Uma decisão econômica muda muito a vida de uma comunidade, então, às vezes, você cria um projeto lindo, todo mundo sabe que você tem um projeto lindo, e aquele projeto não vai adiante, por quê? Porque tem alguma coisa, vai de encontro a algum valor cultural daquela comunidade. Lá em Recife já teve um estacionamento que a Prefeitura fez com o Banco Mundial eu acho, e ninguém ia naquele lugar estacionar. Isso foi uma coisa que aumentou até a dívida brasileira, porque era recurso externo (risos). Aí pega esse financiamento: “Vamos fazer um estacionamento aqui”; “O que vai fazer esse estacionamento aqui? Aqui não precisa”; “Diminui a quantidade de carros no centro da cidade”. Mas aí foi assim: “Tem dinheiro sobrando lá fora?”; “Tem”; “Então vamos pegar”. Pegaram. Só que era junto de uma favela enorme, aí ninguém ia deixar um carro ali e ir para o centro da cidade. Então, a primeira vez que o Papa João Paulo II veio ao Brasil, eles fizeram um encontro lá nesse estacionamento. Aí o estacionamento ficou cheio. Então, a imprensa falava assim: “O primeiro milagre do Papa. O Papa fez um milagre aqui em Pernambuco, conseguiu encher esse estacionamento”. É uma forma de como às vezes os administradores pegam recursos e aplicam de forma inadequada; em vez de fazer um estacionamento ali, ver se tinha o recurso pra outra obra mais importante para a cidade.
P/1 – Em relação à sua entrada no BNDES, de que forma foi? Como aconteceu? Você consegue se lembrar do edital de convocação para o estágio?
R – Eu lembro que falava assim: as pessoas que ______ tinham que estar, eles exigiam que estivessem no penúltimo período da faculdade e estivesse no primeiro ______ da turma. Mas não tinha essa promessa. Não dizia mais nada. E não tinha essa promessa de continuar lá. Então eu lembro que eu resolvi que não ia fazer a prova.
P/1 – O edital estava aonde?
R – Na faculdade, num dos corredores da faculdade, da faculdade de Economia da Universidade Federal e na Católica, que era onde tinha os cursos de Economia. Só nessas duas. Porque nessa época, para o estágio, era o próprio BNDES quem fazia a seleção, e o estagiário era estagiário direto do BNDES. Hoje, o banco tem um programa de estágio, mas ele faz através de CIEE [Centro de Integração Empresa-Escola] e o estagiário não tem vínculo com o banco. Durante o período em que ele é estagiário ele recebe pelo CIEE. O CIEE é quem contrata e, acabou o estágio, acabou, não tem mais vínculo com a empresa. A gente foi de uma época que muitas pessoas que foram estagiárias hoje estão em cargos importantes na alta administração do BNDES. Depois de ser admitida como estagiária, passei dois anos, um ano e meio... E aí tinha um período chamado “adestrando”. Aí você passava dois anos como “adestrando”. O “adestrando” era o que hoje a gente chama de trainee. A gente fazia já os trabalhos técnicos, a gente tinha um salário que era no primeiro ano 80% do salário dos técnicos, no segundo ano 90% e, depois desse período, a gente fazia um concurso interno; se passasse seria efetivado no banco, se não passasse, seria demitido. No que eu vim fazer, passei três meses aqui no Rio, num curso dado na PUC [Pontifícia Universidade Católica]. A gente tinha aula, tínhamos provas diariamente – quase diariamente – e, no final, tinha que fazer uma monografia; a média tinha que ser oito, mas não havia uma preocupação do banco em eliminar essas pessoas. Eu senti que o departamento de pessoal do banco achava que as pessoas tinham que ser aprovadas porque elas já conheciam bastante do banco, já estavam há quase quatro anos no banco. Fez dois estágios e já conhecia muito do banco. Se falava na época das pessoas que... Às vezes, no concurso, a pessoa tira notas altíssimas, passa em primeiro lugar, mas no dia-a-dia não se adapta bem à instituição. Tem muita gente que é assim. Essa experiência como estagiário é uma experiência assim, diferente...
P/1 – Conta um pouquinho desse período de estágio. Qual foi sua primeira impressão ao lidar com esse escritório do BNDES?
R – A prova que eu fui fazer, vou ver se eu me lembro, teve uma redação e esse histórico era: “O papel do BNDES no desenvolvimento do Nordeste”. Eram poucas pessoas. O primeiro chefe de escritório foi o senhor Alberto Madeira Coimbra, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro. Ele foi pra lá pra ser o representante do banco, então ele representava o Presidente, representava o Diretor, ele tinha acesso ao Governador e, o BNDES lá em Recife, cobria o Nordeste todo e também o Norte. Então o BNDES tinha acento no conselho da Sudene, nas reuniões mensais junto a governadores, ministros; normalmente quando não ia o Diretor ou o Presidente do banco, dessa reunião quem participava era o representante do BNDES lá, no escritório. Vieram também com ele duas pessoas, assessores, que são funcionários do banco ainda hoje, o ______ e o Fernando ______. Eles eram assessores, um auxiliar de administração, e as outras pessoas foram contratadas lá. No final do ano o banco fez um concurso e algumas dessas pessoas passaram no concurso e continuaram lá, mas a ideia do banco era se aproveitar a mão de obra local, dentro dessa filosofia que o banco estava... Era o banco do Sudeste. Até diziam que o banco era um banco paulista, muitas empresas de São Paulo. A concentração industrial era em São Paulo. Então a ideia do banco ir para o Nordeste, ter esse escritório, era descentralizar um pouco as aplicações do BNDES. O BNDES, colocando um escritório lá, facilitaria o acesso dos pequenos empresários, dos médios empresários, que em todos os países do mundo os pequenos empresários são os que empregam mais pessoas. Mas esse empresário não tinha acesso ao banco porque, como é que ele viria aqui no Rio de Janeiro falar com os diretores? Às vezes tinha até aquela de ______: “É muito difícil, complicado. Só quem é amigo que consegue”. E o banco estava pensando em fazer um trabalho... Reforçar a atuação da Sudene lá e do Banco do Nordeste. Então foi como um parceiro dessas instituições. A gente ficava assim, muito... Como estudante de Economia, eu, o meu chefe hoje também foi estagiário de Economia, estudou na mesma época que eu, foi um dos meus colegas...
P/1 – Quem é?
R – O (Jolmar?) e tem outra pessoa também que foi estagiário e até hoje permanece, a Fernanda. Nós estudávamos, nos formamos na mesma turma e fizemos estágio lá, depois fomos aproveitados. Fizemos esse concurso e fomos aproveitados. Mas, no início, os chefes eram chefes aqui do Rio. Eu me lembro da minha entrevista; primeiro fiz a prova escrita, aí me chamaram: “Olha, tem uma pessoa chamando pra ter uma entrevista de um banco...”. Lá na faculdade eles disseram isso. Eu fui ao BNDES. O BNDES era subordinado ao Ministério do Planejamento. E foi uma coisa assim, que eu acho que foi um contraste muito grande. Eu cheguei lá de calça Lee, aqueles tamanquinhos do Dr. Scholl, camisetinha reggae. Todo mundo super bem vestido, aquela porta de vidro, aquele tapete que você afundava o pé (risos), as secretárias muito bem arrumadas e eu dizia: “O que será que isso tem a ver comigo? Eu ficar nesse lugar? É muito sofisticado”. Aí eu perguntei: “Eu queria saber quando é a entrevista. Fiz a prova, fui selecionada na prova escrita e agora vai ter a entrevista”. Falaram assim: “Deixa eu perguntar aqui ao chefe”. Voltou: “Agora”. Pensei: “Puxa. Acabaram as minhas chances. Eu vou me apresentar desse jeito, não vou ter chance”. E conversando com ele, ele me disse que eu tinha feito uma prova excelente e me pediu pra falar do curso, do que eu gostava. Eu falei que tinha tido essa experiência antes e não tinha conseguido passar. Mudei, falei assim: “Eu não tenho o que ter medo de errar. Eu sou estudante. Eu estou aprendendo. Enquanto a gente estiver vivo, a gente erra e a gente aprende. Então, eu não vou me incomodar com o que eu vou dizer pra ele. E aí, em seis meses, se eu não mudar, eu não vou conseguir nada”. Isso comigo. E aí eu falei sobre o meu curso, das matérias que eu gostava. Teve uma hora que ele falou assim: “Olha, esse trabalho aqui, a gente vai viajar bastante, porque a gente quer visitar as cidades do interior, conhecer empresas, fazer um trabalho de verificar a oportunidade de investimento do banco aqui na região. E aqui no Nordeste existe um certo machismo. Você é noiva, você tem namorado?”; “ Não”; “Mas o seu pai vai deixar você ir? Porque olha aí. A gente manda e de repente chega alguém aqui e diz que você não pode ir. Vem brigar com a gente”. Eu falei: “Olha, essa é uma ideia preconcebida que vocês têm, porque eu não estaria fazendo essa seleção se houvesse esses empecilhos”; “Ah, então está bom”. Levou mais de um mês pra me dar essa resposta e eu pensei até que não ia sair nada. Outras pessoas foram escolhidas. Quando chegou no início de julho alguém da faculdade ligou e falou, chegou a secretária e falou: “Quem é Maria das Graças aqui? Maria das Graças Amaral Passos”. Eu ia saindo pra beber água e voltei. Ela falou: “Quem é Maria das Graças?”. Falei: “Sou eu”. Pensei: “Bom, morreu alguém na minha casa pra chegar um telefonema assim, alguém me procurando”. Aí ela falou: “É sobre um estágio. Pra você ir lá ver o que é”. Aí eu cheguei, fui ao banco, ao escritório do banco e ele falou assim: “Você foi escolhida, você e o (Jolmar?), vocês vão ficar aqui...”; “Isso pra decidir quando vai começar?”; “Agora” (risos) “Pode ficar aqui agora?”; “Posso”. Mas eu nem tinha me desligado do outro estágio. Mas eu não ia dizer que não ia ficar. “Não. Posso” (risos). Eu fiquei lá o dia inteiro. “Vou fazer o quê?”. Eu tive umas frustrações iniciais, porque, o que eu imaginava? Eu vou para o banco, vou analisar projetos. Mas já era uma representação. Então ele me colocou numa sala cheia de documentos e disse: “Você começa organizando, separando. Vamos fazer um arquivo. A gente não tem arquivo. Você começa a separar o que é decisão técnica e o que é decisão administrativa. O que for sobre empresa, aprovação de empresa, você vai separando por assunto”. Aí eu criei um arquivo. Eu comecei a criar um arquivo e, com o tempo, eu sabia tudo onde estava lá no banco e sabia tudo do banco. Mas aquilo também me irritava, porque eu não tinha tempo pra fazer o que eu pensava. Eu quero ver análise de enquadramento... Consulta prévia, como é que faz? Eu sabia todos os programas do BNDES na ponta da língua, porque ainda tinha outras atividades que ele fazia assim: “Precisamos que o banco... Que todo dia tenha uma notícia do banco no jornal”. Aí tinha um jornalista que passava lá. E ele falava assim: “Graça, pega aqui e faz um resumo desse programa do banco”. O banco tinha acabado de criar um programa novo, era um programa chamado ______, às vezes aparece uns conjuntos assim. Era pra financiar pequena e média empresa. “Escreve aí sobre isso”. Aí eu pegava a resolução, mas tinha que ter aquela introdução: “Continuando a preocupação de eliminar as disparidades regionais de renda, o BNDES criou mais um instrumento com juros diferenciados...”. Escrevia essa história lá e aí depois eu colocava como o banco já estava participando ativamente na região. Colocava os investimentos nos anos anteriores e colocava quanto a Sudene estava aplicando pra comparar que o BNDES, em pouco tempo lá, já estava aplicando mais. E o jornalista passava, pegava esse documento e dava a linguagem jornalística. Às vezes eu olhava, nem mudava muita coisa. Eu falava assim: “Puxa, eu ______ jornalismo”. E eu também não reclamava muito pra não me botarem pra fora. Aí eu dizia: “Vão dizer que eu reclamo muito”. Eu vou ficar. Mas um dia eu cheguei na sala dele e falei: “Eu quero viajar. Eu não estou fazendo análise de projetos. Eu quero viajar”. Mas não era função da nossa área fazer análise de projetos, nós éramos ligados à área de representação. O que era área de representação? A gente era uma unidade... Era uma unidade dessa área lá no Rio, no Recife. Um dos objetivos básicos: dar apoio a todas as unidades do banco, divulgar o BNDES na região; pode ser divulgado através da imprensa escrita, falada e, também, visitando os órgãos públicos. Nessa época se financiava muito o Estado. Então, a gente visitava as secretarias estaduais, principalmente de Planejamento, Agricultura, Comércio, Turismo. A gente visitava o SEBRAE [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas], tinha os (CEABS?) que chamava (NAI?), os bancos de desenvolvimento estaduais, porque no banco muitas vezes chegava um relatório que não estava dentro dos parâmetros do BNDES. A gente pensava assim: vamos orientar para que esses relatórios cheguem lá estando corretos e que não leve muito tempo entre a entrada do pedido no banco e a liberação. Então a gente tinha em mente isso. Era essa a função da nossa representação. Então, cheguei pra ele e falei assim: “Agora eu quero viajar”. Mas quando eu viajava, ninguém achava nada lá (risos). Mas acontece que... Eu só ia à tarde, porque eu estudava pela manhã. “Mas eu quero fazer isso. Não tinha essa possibilidade de ficar, porque eu quero aprender tudo na vida, porque quando eu colocar no meu currículo que eu fiz estágio no BNDES, alguma empresa que for me contratar, ela vai pensar que eu sei analisar projetos. Ela vai pensar que eu sei e eu não vou saber? Eu tenho que saber isso tudo”. Ele falou assim: “Tá bom. Você quer ir? Então a gente vai. Eu coloco você pra ir”. Aí colocou eu e a outra estagiária e foi para o pior lugar. A gente foi pra Petrolina e aquela região toda ali. Alto sertão de Pernambuco. Petrolina, Araripina. A gente foi junto com o pessoal do banco, um técnico do BANDEPE [Banco do Estado de Pernambuco], porque a ideia era você levar um técnico do banco de desenvolvimento local para que a empresa conhecesse ele, porque o BANDEPE é que repassava o dinheiro do BNDES. Então, ele precisava conhecer... O empresário conhecer aquele técnico, porque ele poderia ir ao BANDEPE saber: “Olha, eu tenho esse projeto, eu gostaria de comprar uma máquina. Como é que eu faço isso?”. Então aquele técnico está mais perto dele, ele iria receber o projeto dele. A gente não receberia, a gente apenas está divulgando que existe aqui aquele programa. E a gente ia com esse técnico...
P/1 – Mas como é que vocês faziam? Faziam palestras?
R – A gente não fazia palestra. A gente ia ao banco de desenvolvimento, eles destacavam um técnico, a gente fazia uma reunião com as pessoas do setor industrial e eles destacavam um técnico pra ir com a gente. Então a gente marcava com o próprio banco, eles tinham carro com motorista, mandavam a gente nesse carro. Iam dois técnicos do BNDES, esse técnico do banco local, e a gente procurava a agência daquela cidade. A gente pegava um cadastro industrial, via quais as empresas daquelas cidades, ia ao banco, chegava lá, e o primeiro contato era com o agente, porque a gente queria valorizar o agente do BANDEPE. Nós queríamos valorizar o agente do BANDEPE, fazer com que ele... Nós não poderíamos ir toda hora lá, em Petrolina. Salgueiro, Juazeiro, no Ceará. Então, esse banco estava lá. Ele tem agência em todo esse trabalho. Então o nosso objetivo era fazer com que o técnico, os funcionários, o gerente desse banco, eles estivessem preparados. Nós levávamos uma cópia das políticas operacionais do BNDES, os programas que o BNDES tinha. Nós explicávamos para eles e eles agendavam as empresas. Nós dizíamos pra eles: “Olha, nós vimos essas e essas empresas pelo cadastro industrial do Estado e você aconselha outras?”. Eles aconselhavam e nós passávamos o dia visitando empresas. Mas as necessidades naquela época, em 1975 isso... Eles não tinham hotel decente. Eu já fiquei num hotel em que o banheiro era para o lado de fora, ou então do lado de fora tinha um penico mesmo (risos).
P/1 – Isso em que cidade, Graça?
R – Em Belo Jardim. E aí quando nós voltamos, cheios de relatórios, muitas coisas pra fazer, o chefe perguntou assim: “E aí? Gostaram da viagem?”; “Ótima. Foi maravilhosa”; “Estão preparados pra ir pra lá de novo?”; “Estamos sim”. E aí entre nós: “Meu Deus, que lugar horrível. Não tem hotel. Mas estamos sim” (risos). Não dizíamos não, a gente sempre dizia: “A gente pode ir”. Eu e outra estagiária, porque a gente tinha que quebrar esse preconceito que existia contra a mulher. Então, você veja uma coisa: nós tínhamos dois chefes na época. O chefe mesmo do escritório era carioca, os assessores eram cariocas. Os assessores não se envolviam, mas os chefes, na hora de distribuir as tarefas, eles ainda achavam que não podiam mandar mulher para o interior. A gente tinha também outro estagiário, de vez em quando a gente pegava briga com ele: “Olha, a gente que vai. Não é você que vai hoje” (risos). Porque então aparece ele, não aparece a gente. Vão pensar que a gente não faz nada aqui. E, quando chegava numa empresa, a gente corria na frente: “Eu sou do BNDES”, pra ninguém pensar que a gente era secretária dele (risos). A gente era estagiária. Você imagina o cara, um sertanejo, vir uma mulher pra falar de financiamento, de banco. Não existia lá na época. A gente tinha situações engraçadas. Você falava na empresa e perguntava: “Você pegou alguma vez financiamento?”; “Nunca peguei. Tudo meu, recurso meu”. Então você via uma máquina e perguntava: “E essa máquina? O senhor comprou com o seu dinheiro?”; “Olha, essa máquina, foi um cara do banco que veio aqui, ofereceu dinheiro e a gente comprou. Acho que foi do Bradesco”; “Deixa a gente ver o contrato”. Aí a gente olhava e era FINAME [Agência Especial de Financiamento Industrial], era BNDES. Então, no interior, o pessoal achava assim, o Bradesco nessa época entrava assim, eles faziam assim: “Foi uma máquina que o gerente do Bradesco me vendeu”. Mas ele não sabia a origem dos recursos, e a origem era BNDES.
P/2 – A senhora falou sobre uma prova para o estágio, uma redação sobre o papel do BNDES. A senhora consegue lembrar qual era esse papel do BNDES pra você antes de entrar no BNDES?
R – Antes de eu entrar no BNDES eu não sabia quase nada do BNDES. Eu me lembro que eu coloquei, porque eu passei meia hora sem escrever nada. Pânico. Como eu tinha resolvido não fazer a prova, eu me desliguei. Então, as outras pessoas procuraram conversar com os professores. As pessoas até falavam: “Olha gente. É um emprego muito bom, é um banco federal e aí vocês têm muitas oportunidades”. Então, as pessoas que estavam inscritas, foram conversar com eles, eles deram revistas, falaram. E eu não tive essa preocupação. Na hora da prova, quando ele deu o tema, falei: “Puxa vida, o que eu vou falar agora?”. E eu via todo mundo escrevendo. Aí eu pensei assim: “O tempo ainda não acabou. Como é que eu não consigo escrever uma linha?”. E a minha sorte é que a pessoa que estava ali aplicando a prova falou o que era o banco e porque resolveram que o banco devia ir ao Recife, ir ao Nordeste. Ele distribuiu... Existia um livrinho chamado BNDES Notícias e aí dava os projetos que o banco financiou naquele mês. Era mensal. E cada um recebeu um folder daquilo. Todo mundo começou a escrever e eu comecei a folhear aquele folheto. Primeiro eu fiquei em pânico, tremendo, suando. Aí falei assim: “Vai ser um vexame eu entregar essa prova em branco, porque todo mundo está fazendo, eu seria a única que não faria. Então vou esperar inspiração”. Fiquei lá, contei até dez. Para me distrair, comecei a folhear os livros, e fui lendo. Fui lendo e vendo como o banco atuava, com calma. Então fui tendo uma ideia de colocar que esse trabalho, alguma coisa disso aí, a Sudene estava fazendo. Aí comecei a fazer uma redação falando o que eu sabia – eu tinha estudado a Sudene, eu tinha feito nesse estágio que eu achava que não servia pra nada, durante os três meses, eu li um livro, um dia, sobre a industrialização do Nordeste, que era baseado na criação da Sudene. Então eu li tudo isso. Qual foi a ideia? A ideia da criação da Sudene, inspirada num projeto do Sul da Itália, que era uma região muito pobre e que eles conseguiram atrair bastantes indústrias para essa região... Eu fui lendo tudo isso e fui tendo a ideia de colocar esse trabalho que o banco estava fazendo aqui e botando a Sudene. Tudo o que era Sudene, eu botei no BNDES (risos). E daí, eu coloquei assim: que o BNDES seria parceiro da Sudene nesse trabalho, e tudo o que eu estudei, que era em função da Sudene, eu botei que era o BNDES que ia fazer. Aí, diz que a minha redação foi a melhor em termos de criatividade, precisão... (risos) E foi assim que eu passei.
P/1 – Tá bom. Vamos dar uma paradinha agora.
(PAUSA)
P/1 – Graça, ainda em relação às viagens de trabalho, tem alguma outra que tenha te marcado?
R – Tem algumas situações que a gente lembra que são engraçadas. Lembro de uma viagem em que nós fomos visitar várias empresas do agreste de Pernambuco, sertão, e chegamos em Caruaru que é no agreste. Fui eu e uma amiga, colega do banco. Quando nós descemos pra jantar, só tinha homem no restaurante. Era um ______ a gente se sentiu muito constrangida, porque não era comum, numa cidade do interior, mulher estar sozinha em restaurante. Isso em 1976, 1977, por aí. Teve uma outra vez que a gente estava com um pessoal aqui do Rio, a gente foi fazer um acompanhamento de um projeto, era a infraestrutura de um polo cloro-químico de Alagoas, e tinha o canavial que estava sendo derrubado, uma parte desse canavial que ia ter as estradas de acesso às empresas que iam se instalar nessa região. E quando nós estávamos acompanhando as obras, o carro ficou atolado, não saia de jeito nenhum desse atoleiro. O pessoal, todo mundo com as malas já pra voltar. O cara da estrada falou assim: “Olha, eu vou tentar ver se me comunico pelo rádio pra mandarem outro carro pra buscar vocês”. E o carro não saia, nem o rádio funcionava. Foi meter os pés na lama mesmo e passando assim aqueles montes de cana derrubada, e aí o cara falou assim: “Tem que ter cuidado com cobra”. Lá vai a gente andando com essa história de cobra e um colega: “Olha a cobra ali!”, e me jogou pra cima. Eu nem vi. Ainda bem que eu não cheguei a ver. “Gente, tem que ter cuidado. Vamos ver aonde a gente vai pisar”. A gente se metia numas situações assim, pioneira. Não existia nada naquele lugar.
P/1 – Vocês trabalhavam com que roupa?
R – Calça comprida mesmo, calça jeans. O banco não tem uma linha de como você tem que trabalhar. As pessoas se vestem de acordo com o seu estilo; tem gente que é mais formal, outras mais informais. Então, as pessoas estavam vestidas, a maioria de calça comprida. Mas eu me lembro que estava uma técnica daqui, que ela tinha comprado um sapato novo pra fazer essa viagem. Ela falava: “O meu sapato novo eu vou colocar aqui na lama? O meu sapato novo” (risos). Agora, mais recentemente, eu estava começando a voltar, a fazer trabalhos de acompanhamento. Então, eu fui visitar um projeto agrícola, lá no interior no Ceará. Quando nós chegamos, tinha a plantação de uva, manga e goiaba. Vimos a uva toda lá... Eu não tinha experiência... Eu confesso a você, que na época em que eu trabalhava fazendo acompanhamento, eu fazia mais essa parte de indústria. E agora, tem muita coisa do setor agrícola. Agroindústria. E nós estávamos vendo a uva. Depois da uva, nós íamos para a manga. Quando chegou no meio da manga, eu andando ali, ele falou: “Olha, vocês evitem pisar aqui nesses montes. Eu mandei limpar o terreno, mas é que tem cobra”. Eu falei: “Qual é a cobra que tem aqui?”; “Cascavel”. E eu falei: “E o senhor tem soro?”; “Não, eu não tenho, mas aqui perto tem um posto de saúde que tem”. Eu entrei em pânico e falei assim: “O que eu vou fazer? Voltar eu não posso, porque eu vou ter que atravessar toda a parte da uva sozinha, porque eles vão continuar vendo e não vão voltar por minha causa”. Aí continuei, pisando onde ele pisava, eu pisava atrás. Aí saí, quando passou essa área da manga, ele falou: “Bom, agora é goiaba. Eu não mandei limpar ainda. Tem até umas goiabas que às vezes a pessoa fica curiosa, quer pegar. Não pega, pode ter uma cobra ali”. Eu falei: “Eu não vou entrar ali”. O meu colega falou: “Graça, que bobagem”. Eu falei: “Eu não vou entrar aí. Vocês entram, eu tenho a máquina, eu coloco zoom na máquina – aquela máquina digital –, eu vou filmar tudo aqui, vou fotografar, mas eu não vou conseguir entrar aí” (risos). Fiquei lá parada. Olhando, ouvia as vozes deles, botava o zoom da máquina, fotografando as coisas, ia junto. Mas eu voltei apavorada e falei assim: “Puxa, agora vocês só mandam pra esses projetos complicados...”. E aí o meu chefe falou: “É isso, a gente quer acompanhar, o que é que vai fazer?”. Eu digo: “Bom, projeto especial, precisa ter uma roupa especial pra...”. Mas é um risco. Estou falando isso, mas na verdade é um risco, não é? ______. Aí eu falei: “Gente, eu não vou mais fazer acompanhamento” (risos) “vou denunciar isso à ______ do banco: condições de alta periculosidade”.
P/1 – De cobras?
R – Região de cobras, cascavel... (risos)
P/1 – Graça, retomando um pouquinho, quando você veio para o Rio de Janeiro, que curso você fez e que função você foi ocupar?
R – Eu nunca trabalhei aqui no Rio de Janeiro.
P/1 – Não. O curso.
R – Eu vim fazer depois do período de “adestrando”, em 1977, nós passamos três meses aqui, eu e mais dois estagiários, estagiários do Recife, nós tínhamos aula pela manhã na PUC e à tarde nós estudávamos os trabalhos... Depois desse período, eu conheci muita gente do banco, fiz muitas amizades. Teve até um período em que eu falei: “Puxa, é muito interessante trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou pedir transferência pra cá”. Mas eu não tive coragem. Eu sou muito apegada à família e é nessa hora que a gente descobre que é muito provinciana. Pensava que era muito moderna... “Eu quero ir embora. Quero viajar”. E aí eu pensava: “Puxa, vou ficar aqui sozinha, não conheço ninguém, só conheço meus amigos”. A maneira de ser do nordestino é diferente do carioca, a gente percebe. Vocês se encontram no restaurante, no bar, e as pessoas não se visitam... E as pessoas da Representação – a maior parte estão lá há vinte anos. Então, é quase uma família, todo mundo se conhece. Eu conheço os filhos dos meus colegas todos. Eles conhecem a minha vida toda. As brigas de família. Uma família mesmo. Todo mundo se gosta, quando você se chateia todo mundo se chateia. Tudo funciona exatamente na família. Eu achava assim, muito ferida por parte de meus colegas: “Puxa, um dia eu vou trabalhar num lugar, não sei se vou ter essas amizades todas, longe da família”. Então, realmente eu fiquei lá no Nordeste. Mas foi um período que o banco não fazia concurso. E tinha muitos projetos pra analisar. Nessa década de 1980, a partir de 1977, 1978, 1980, o banco tinha muito investimento nessa área petroquímica, e nós do escritório do Nordeste trabalhávamos muito de apoio da área do banco. Não podia contratar estagiário, o banco não tinha mais estagiário, e não podia fazer mais concurso. Nós da Representação trabalhamos muito com as áreas daqui. Eu comecei a conhecer muitas pessoas de área de infraestrutura, de área química, de operações com agentes e de fazer trabalhos de operação conjunta. Ia uma equipe, a pessoa, o gerente aqui do projeto ligava, falava assim: “Está precisando um economista. Dá pra você mandar alguém?”. Então, foi uma época muito interessante, nós trabalhávamos muito integrados com o banco. Uma coisa que a gente sentia muito, estar lá no Nordeste, e você não ter uma participação ativa no banco como um todo. A gente sentia uma coisa assim: quase que ninguém nem vê, nem sabe que você existe. Então era muito comum as pessoas perguntarem: “Vocês tem diária quando vocês viajam? Vocês fazem o quê?”. Ninguém nem sabia o que a gente fazia, porque as áreas novas do banco sempre foram planejamento e a área operacional, mas a gente não fazia isso. A gente não sentia que o nosso trabalho era valorizado. Todo mundo sentia um pouco de frustração porque não fazia análise de projeto. A gente fazia um trabalho que era de fomento, que hoje é uma área bastante valorizada por toda a empresa. E eu acho que hoje também, como a gente, ao longo do tempo, vai vendo isso. Hoje eu acho que é muito importante a gente ter feito isso. É aquela história do médico que só quer ficar na capital, muita gente diz: “Por que você não vai ao Rio...”. É que outras pessoas da Representação falam: “Se você estivesse lá no Rio, teria ascendido profissionalmente, teria cargos executivos maiores”. Outras pessoas falam isso. Mas na verdade, ninguém pode... Você faz um trabalho acho que pioneiro, que você vê assim: o Nordeste tem... No Brasil inteiro faltam médicos, mas se todos os estudantes de Medicina ficarem nas capitais, vai continuar sem ter médico. Então, esse trabalho que a gente tem, a gente se orgulha muito de ter feito e ainda fazer. A gente sempre teve uma noção assim: duas e meia. O horário do banco seria das dez às duas e meia. Às duas e meia chega um empresário, numa cidade lá no interior, e ele quer uma informação, ele quer saber lidar com um projeto, quer apresentar e ele não sabe o que o BNDES tem, nunca nenhum funcionário deixou de atender porque estava na hora do almoço. Isso eu acho uma postura muito bonita do banco. Você não trabalha só pelo dinheiro. Quer dizer, todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas você tem aquela noção de que você tem uma missão. As pessoas voltam, explicam e ensinam. Quando acaba aquele trabalho, você vai fazer o que tem que fazer. Não é como funcionário público que diz: “Olha, meu expediente encerrou. Volta amanhã”. Ou então: “Está na hora do meu almoço. Não vou atender”. Eu acho que esse trabalho... As pessoas ficam encantadas. Eles até dizem assim: “Puxa, obrigado pela atenção. A gente não está acostumado em órgão público a ser atendido assim”. E todo mundo tem essa consciência de que é importante que você atenda bem as pessoas, independente da origem das pessoas; lá em Recife eu vejo meus colegas de escritório, todos eles foram pessoas – com raríssimas exceções –, nós ascendemos socialmente através do estudo. Então, oportunidade de educação é uma coisa muito importante no país, porque a gente vê que a gente estudou em escola pública, todos eles, tanto o primário, secundário, universidade... A escola pública era uma coisa muito importante. O Estado tinha uma presença muito forte, na época ______ na vida das pessoas. Hoje está fora de moda. Mas como a gente viveu isso e a gente é fruto dessa intervenção do Estado, é muito difícil a gente achar que o Estado saiba tudo, que tudo é interessante. A iniciativa privada toma tudo. (risos)
P/1 – Como é que é esse escritório lá? Quantas pessoas são e quais são as pessoas?
R – O escritório, atualmente, tem aproximadamente dezesseis técnicos. Tem pessoal terceirizado que é o pessoal de recepção: tem um recepcionista, telefonista, mensageiro, tem um motorista, servente, copeiro... Pessoal terceirizado. Temos sete terceirizados. Temos dois estagiários, mas esses dois estagiários prestam serviço ao município, mas eles estão lotados aqui no Rio, na área do contencioso, porque a gente tem uma gerência do contencioso funcionando lá em Recife. É um advogado que é de Recife, trabalhou a vida inteira no Nordeste. Então começou a trabalhar... Tem muito projeto nessa área, muito trabalho nessa área do contencioso. Então ela começou a trabalhar com isso e chegou num ponto em que... Essa parte passou para a área jurídica. Então ela está ligada... A base dela é Recife, mas a lotação dela é aqui no Rio, no contencioso. E esses estagiários também trabalham com eles. Nós temos também um engenheiro, que tem base em Recife, mas ele é da área de crédito. Ele faz a avaliação das garantias que são dadas ao banco, por ocasião de financiamento. As outras pessoas fazem acompanhamento. A gente faz... Atende consultores, empresários... O dia inteiro você tem uma sala de atendimento, as pessoas são atendidas por telefone, como lá mesmo. Eles vão lá e a gente tem esse reservado onde você explica todas as linhas do banco. Eles querem saber como faz uma consulta, como preencher os formulários do banco. A gente continua sendo a área que, além de divulgar o banco, presta apoio aos empresários e, atualmente, esses projetos agrícolas que são de ______ e também na área social tem uns projetos interessantes, no apoio à criança com câncer. Tem pessoas do escritório que trabalham na representação do banco, envolvidos nesse projeto. Temos também do (Emic?) que é um projeto, “Mãe Canguru”, que é um projeto da área social, e que a gente teve técnicos nossos participando. A gente tem um relacionamento, um envolvimento de trabalho, com diversas áreas do BNDES. Feiras, por exemplo. Tem a feira Mecânica, tem a feira de Agricultura Irrigada. Aqui, a gente tem um departamento que cuida disso, tem uma área de comunicações. Sempre que a feira é na região, os técnicos do escritório vão participar desse trabalho. Eles ficam lá na feira para dar atendimento sobre o banco. Então, a gente se envolve com as mais diversas áreas. Os chefes, os técnicos, tem a função de representação e participam sempre que o BNDES tem que participar de alguma reunião, de algum órgão do governo, um projeto que vai ser inaugurado, que o banco financiou, uma coisa assim; vai Diretor, Presidente, e ele também acompanha ou então ele substitui essas pessoas.
P/1 – E esses técnicos são seus colegas antigos? Alguns que fizeram estágio com você?
R – São. Meu chefe hoje, o (Jolmar?), foi estagiário comigo. A Fernanda, que é economista, também foi. Tem o (Norival?), que foi estagiário no ano seguinte, que é engenheiro, e as outras pessoas entraram no banco mais ou menos nesse período, 1976, 1978. Eu entrei em 1973 junto com o (Jolmar?), Fernanda. A maior parte dessas pessoas é de 1973 ou então de 1978. E não houve muita mudança. Algumas pessoas saíram por algum período, como o Luiz Alfredo. Ele foi Secretário do Planejamento do Estado do Piauí um período. Ele... Um convênio que o banco tinha com um banco africano, ele passou três anos na Costa do Marfim dando assessoria. E um colega nosso também esteve lá, dando treinamento. Nos projetos na época da privatização nós tínhamos uma empresa lá, a (Cosior?), que tinha técnicos lá da Representação, que ficaram no conselho diretor dessa empresa. Então, a gente tem uma participação muito grande, até junto aos Estados, porque tem uma coisa muito importante, a falta de você ter um interlocutor. A gente sentia muito isso. Eu falo muita coisa também, da parte de dez anos atrás, quando eu participava ativamente dessas coisas. Eu me lembro de um projeto que a gente participava, que o BNDES financiava lá em Alagoas. Ainda estava em fase de liberação e, às vezes, aqui no Rio mudava a gerência. Então, mudava todo mundo. Mudava o chefe, mudava a gerência, mudavam os técnicos. E a pessoa do Estado dizia: “Olha, eu estou precisando de uma visita, que você viesse aqui pra liberar algum recurso”. Ligava: “Olha, não é mais essa pessoa”; “Com quem eu falo?”; “Olha, o gerente agora é fulano”. E o gerente também não conhecia nada daquele projeto. Muitas vezes ele ligava para o técnico, para o representante do Estado, empresário ou a própria secretaria estadual, eles ligavam pra gente: “Olha, com quem eu falo lá no BNDES? Não sei com quem eu falo”. Isso eu acho que é uma das funções mais importantes do escritório do Nordeste, porque se você for ligar para o BNDES sem você saber com quem você vai falar, você tem que ter o ramal das pessoas hoje. Então, você cai no PABX. E tinha gente que ligava e dizia: “Olha, eu liguei pra lá, atendeu uma pessoa no telefone, eu quis dar um recado, e não atendeu o recado. Uma telefonista não atendeu”. ______. “Olha, mas o BNDES não funciona assim, não tem uma telefonista que conhece todo mundo e vai passando os telefonemas. Você tem que saber qual o setor com que você vai falar”. Então, eu acho muito importante as representações nesse ponto, porque o empresário grande, o grande industrial, ele já conhece diretor, já conhece todo mundo. Ele sabe como chegar. Mas o pequeno e o médio, eles pensam que é uma coisa tão inacessível, que acontece com frequência, eles fazem tudo, eles tem recursos próprios, começam o projeto e aí acaba o dinheiro. Então faz só a parte de obras civis, acabou e não consegue ir adiante, porque não possui capital de giro, quando ele podia ter pego financiamento do BNDES pra essa parte, mas não teve orientação, não procurou.
P/2 – O que representou o escritório do BNDES em Recife?
R – Eu acho que criou uma aproximação entre os empresários locais, os pequenos, os micro, os médios empresários e entre a própria... Eu não digo assim, a comunidade, mas entre as próprias secretarias estaduais de desenvolvimento. E a gente dizer: “Olha, eu sou do BNDES”; “Ah, o BNDES, o dono do dinheiro”. Parecia uma coisa tão inacessível, e o banco tinha, sempre teve, recursos pra aplicar no Nordeste. Foi esse um dos objetivos da criação do banco: aplicar mais recursos no Nordeste. E muitas vezes esses recursos não eram transformados em... Não tinha projetos pra usar esses recursos. Não chegavam projetos. Você tinha um orçamento, aquela dotação, mas não havia projetos, as pessoas não encaminhavam projetos. Então, na hora que você tem muito projeto, aconteceu em função disso: as pessoas iam nos Estados, conversavam. Você fala com os agentes, fazia reuniões, sempre houve seminários... Uma das coisas que se fazia: sempre que mudava o governo, a Representação fazia isso. A gente pegava o nome de todas as secretarias e de todos os secretários e de um plano de governo. “Qual o seu plano de governo?”. A gente lia aquele material, nós formávamos a equipe, nós tínhamos uma equipe de técnicos distribuída pelos Estados. A gente ia naqueles Estados e conversava com o banco estadual, conversava com as secretarias envolvidas, do Comércio, Planejamento, e fazia visitas. Alguns projetos que eles achavam importantes, a gente deixava as normas do banco, dizia: “Olha, o banco pode entrar nisso, nisso, nisso”. Falava o que aquilo representava, dava os nomes das pessoas. Vocês podem... Não há dificuldade em encontrar essas pessoas. Liga para o escritório que a gente faz. Então, a gente sempre se colocava como intermediário pra aproximar a região do BNDES, porque a gente mesmo tem essa impressão: inacessível, o banco é inacessível. E eles começaram a ver... E eu acho que isso foi uma coisa muito importante, a gente poder falar. Então, a gente viajava para o Ceará, Maranhão... Mesmo por esses interiores, por essas cidades pequenininhas, que não tem nada, as pessoas ficavam às vezes tão felizes que diziam assim: “Olha, nunca ninguém de banco nenhum veio aqui. Vocês agora vieram? Um banco do governo?”; “Um banco do governo”. Convidavam pra almoçar na casa deles. A gente não ia, insistiam. Mostrava álbum de fotografia da família. Então era assim: aquele empresário geralmente ingênuo, pequeno, que nem sabe o que vai fazer, às vezes ele não tem nem ideia, vai crescendo a empresa, às vezes nem cresce, fica o tempo inteiro daquele jeito porque ele não tem ideia de que ele pode aumentar se ele pegar um financiamento. Ele tem medo do financiamento. Ele achava que... As pessoas, assim... Às vezes, não tem mais recursos de aplicação do BNDES na região, porque as pessoas estão acostumadas, na época da Sudene, que o recurso chegava e você não precisava pagar por ele. Era fundo perdido. Então, nordestino reclama muito, quer sempre que seja subsidiado, quer sempre que seja... Mas não tem só essa história de subsídio (risos). Tem que quebrar também a mentalidade. Não é só essa de: “Ser subsidiado”. Tem essa história de... Às vezes, isso o banco nem sempre soube. Uma coisa que é importante aqui no Rio, é importante no Paraná, ela pode não ser importante no Nordeste. E outro setor que é fundamental para o Nordeste, não pode ser julgado com um único parâmetro, um parâmetro nacional. “Esse setor não apoio”. Durante algum tempo, o banco teve essa postura, e a gente começou, através desses estudos de colocação de oportunidades, a gente colocou: “Olha, o Nordeste tem potencialidade pra isso, isso, isso”. O meu chefe, técnicos, passava em reuniões aqui e disse: “Olha, acho que nas políticas, operacionalizar, tem que contemplar esse setor lá do Nordeste”. E o banco começou a ficar sensível a isso. Então apareciam esses juros diferenciados. Alguns setores que não eram apoiados no Brasil como um todo, mas no Norte e Nordeste poderiam ser. Mas esse foi um trabalho que leva tempo, porque sempre fica aquela ideia preconceituosa que nordestino reclama, quer sempre as coisas e aí fica reclamando, reclamando. Mas desenvolvimento é isso também. É você entrar num setor que ninguém ainda entrou, que ninguém acreditou, você ousar. Aquela história, você ousar. Que o governo não pode, eu acho, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho que muita gente no banco passa a impressão que o BNDES é um banco de negócio, mas desenvolvimento não só pode ser você estar preocupado com retorno. Eu acho que você tem que entrar em áreas que são básicas, são pioneiras, e arriscar.
P/2 – ______.
R – Olha, eu não vejo isso só como papel do BNDES. Eu vejo isso como papel do Brasil, do governo brasileiro. Eu acho que os próximos governos, a gente tem que ter muito cuidado em quem vai votar, porque eu acho que tem uma coisa fundamental de perspectiva, que é a Educação. Eu acho que através da Educação, todos os países que cresceram – porque nem sempre crescimento é desenvolvimento – têm um alto nível de escolaridade. Eu sei que você ouve o exemplo de Coréia, de Japão... Mas eu acho que é o governo investir nas pessoas, porque o país é feito pelas pessoas. Então, não adianta você querer botar indústria de alta tecnologia e você não tem quem vai operar aquilo. Quem vai operar é uma pessoa, e ela não vai saber... A gente teve uma empresa no Nordeste, a ______, há alguns anos atrás, ela falava assim: “Olha, eu tenho uma máquina moderna, mas se o cara não souber operar, eu não vou conseguir nada aqui”. Construção civil é um exemplo, você tem um desperdício, o desperdício na construção civil é 30%, porque o operário quebra muito a cerâmica na hora que ele está assentando... Então, se ele tivesse essa noção que evitar desperdício seria muito mais barato... Mas ele não tem. Eu acho que a comunidade toda tem que se envolver. A nossa elite, a gente vê isso, aquela história que a gente também está sentindo hoje isso: eu tenho, eu estou bem, eu não estou me incomodando com os outros. Mas o resultado é que você está saindo hoje com um carro totalmente fechado, gradeando seu apartamento. Então, é fundamental, eu acho, pra diminuir essa desigualdade, é dar oportunidade. E as oportunidades começam com Educação. Eu acho que o Estado tem que voltar àquela função dele de educação básica, saúde. Como é que uma pessoa vai pra uma escola se está com fome? Se está doente? E se não vai pra escola, a gente tem esse problema hoje. Nas universidades públicas estão ______ das escolas públicas. A classe média alta, a classe média, média alta e a classe de elite na verdade. Quem vai para as faculdades particulares? As pessoas de baixa renda. Então, cada vez mais você não pode deixar o Estado fora disso não, porque se ela frequenta uma faculdade, que não é considerada de alto nível, ela também não vai ter um bom emprego. Se ela não tem um bom emprego, ela, os filhos dessa pessoa... É tudo em cadeia. Você não vai dar boas oportunidades a seus filhos. Então, o país como um todo perde. Eu ouvi uma vez uma entrevista, o cara falando que os americanos, a elite americana, eles fazem doações enormes para as instituições de pesquisa. É câncer, é AIDS, bolsistas de universidade. A nossa elite ainda tem aquela mentalidade colonial: eu tenho, não me importa o resto. Mas só que aí, o resto é isso: o problema de você passar na rua e ser assaltado. Os valores mudaram. Aquela história: não é se dar bem, quem leva a melhor... Eu acho que tem que haver uma mudança muito grande, porque aí você se preocupa com o próximo. Você diz assim: “Bom, eu tenho um emprego bom. Eu estou numa região que tem bastante indústria, bastante emprego”. Mas todo mundo vem pra cá. Então você tem que criar emprego também nessas regiões, você tem que preparar essas pessoas, porque o que está havendo é que essas pessoas vão procurar emprego, não acham, porque não são qualificadas, e vão morar nas favelas. Aí as favelas aumentam e aumenta a violência. Eu acho que o BNDES, como instrumento de política federal, tem participado criando programas que eles podem cada vez mais usar de repente na área social. Você tem projetos que você cria Educação. Tem umas creches, onde esses meninos de rua podem passar o dia lá. Aí tem computação, as meninas aprendem a costurar. Alguns lugares têm alfabetização. Isso aí, você está recriando essas pessoas e dando alguma capacitação, e você vê que algumas pessoas têm alguma expectativa da situação melhorar, porque se elas não têm essa expectativa que a vida delas pode melhorar, elas vão ser o quê? Vão ficar marginalizadas, vão ser excluídas. Então, eu acho que a política federal lá, o governo, tem que centrar nisso: tem que educar as pessoas, os jovens. Tem que cuidar bastante dessa educação básica, porque aí você prepara melhor. Então, você cria, você pode ter projetos, e você tem empresas com alto nível tecnológico com pessoas capazes pra trabalhar ali. Porque outra coisa que eu ouvi é essa, no mercado de trabalho tem gente assim: não tem vaga. Existem alguns setores que tem vaga, mas não existem pessoas preparadas pra trabalhar aí. Aí fica aquele círculo vicioso: você não tem emprego, a gente financia uma empresa, mas a empresa não tem mercado porque as pessoas não têm renda pra comprar... Acho que desenvolvimento é uma coisa assim, global.
P/2 – A senhora conseguiria lembrar de alguns projetos que o BNDES tenha participado pra tentar diminuir essa diferenças regionais?
R – Olha, eu vou dizer pra você: eu não trabalho na área operacional. A gente trabalha no apoio. Em alguns projetos, às vezes a gente está participando deles, e a gente na hora que faz a análise dos impactos que ele vai ter na região, a gente pensa, a gente tem essa expectativa: quer que ele se concretize. Então, eu me lembro que quando a gente foi fazer... Quando o banco financiou o porto de ______, a ideia do porto de ______, é que ele fosse atrair empresas: uma petroquímica, uma refinaria, uma indústria montadora, porque uma indústria automobilística é uma indústria que absorve um projeto, porque ela tem a empresa mãe e tem todas as indústrias de autopeças, os fornecedores, os serviços. Com isso, você tem um efeito multiplicador muito grande naquela economia. Então, quando a gente foi estudar ______, a gente pensou isso. ______ não era pra isso. Essa montadora, essa refinaria, mas a gente pensava assim. Mas tem hoje um parque de (trancagem?), tem outras empresas se instalando. Tudo isso tem que ser uma coisa a longo prazo, mas você vê um polo petroquímico na Bahia também. A Bahia é hoje um Estado que tem um crescimento econômico muito significativo, tem uma mão de obra bastante qualificada, porque foram pessoas especializadas, usar empresas de alta tecnologia e o impacto disso em Salvador e nas cidades é grande, porque tem impacto na construção civil, tem impacto nos restaurantes, no mercado local. Então, você cria um mercado naqueles lugares. E na hora que você cria o mercado, você cria a oportunidade de emprego, está criando renda. Então, todo projeto que a gente financia, que você emprega pessoas... O BNDES, sempre que ele financia um projeto, e que esse projeto tem um efeito multiplicador, a gente contribui pra desenvolver e pra diminuir essas disparidades regionais. No Nordeste, você tem o Vale do São Francisco, tem aquela fruticultura irrigada em pleno sertão, você tem duas safras por ano exportando uva. Algumas vinícolas estão se instalando na região. Todo aquele pessoal está tendo acesso à tecnologia moderna. Agora, a gente não pode dizer que o pequeno mesmo foi beneficiado. Isso é uma coisa de muito longo prazo.
P/1 – Graça, a partir da Era Collor, ______ como é que essa época refletiu no escritório?
R – Olha, foi uma época muito difícil. Muito traumática. O pessoal da Representação se sentiu assim, os enjeitados do BNDES, porque a gente fazia esse trabalho com a maior dedicação e, na época, nós mudamos sempre de área. A gente estava no gabinete, de repente vinha ordem de que a Representação fica agora na área de Relações Institucionais. Agora não é mais aqui. Agora é Área Social. Agora não é mais Área Social, é Desenvolvimento Regional. Então, a impressão que a gente tinha é que ninguém faz muita questão de ficar com você. É como se você não tivesse uma função importante dentro da empresa. Passava muito isso. E essa coisa realmente ficou muito evidente, na época que disseram assim: “É melhor fechar a Representação. Fecha a Representação... Olha, eu acho que é melhor fechar Representação. Fecha Representação. Pra que Representação? Pra que essa Representação no Nordeste? Então fecha e demite todo mundo”. Então, onde é que está o reconhecimento das pessoas que você tem aqui? Ninguém nem sabia quem era quem. Então, nessa hora, houve algumas pessoas que conheciam o trabalho e disseram: “Não pode fechar a Representação. É importante ter um escritório ali”. Algumas pessoas que tiveram mais visão. É importante ter um escritório. Você pode diminuir. Então foi uma coisa traumática. Nós tínhamos trinta e tantas pessoas nessa época e hoje estão reduzidas a quinze, dezessete. E a gente não... Aqui no Rio, esse período Collor, foi um período em que as pessoas diziam pra gente que eles conseguiram tirar as pessoas que estavam querendo tirar. Foram pessoas que achavam que não seriam demitidas... Foram pessoas que mereceram sair, mas no caso de representações não foi assim. No caso de representações foi que: “Tem que tirar alguém daí. Alguém chegou atrasado, tira essa pessoa”. Então, a gente se sentiu traído, descartado. E foi uma situação que deixou muitas marcas, porque as pessoas vestiam a camisa da instituição e, de repente, você diz: “Puxa. Não me querem aqui”. Tanto que eu, não sabia se seria demitida ou não, que estava há pouco tempo na coordenação de serviços, eu tinha três meses, e chegaram e disseram assim: “Olha, o banco vai demitir pessoas. Aqui de Representação vão sair – sei lá – cinco pessoas no início que eu tive que entregar as cartas. Então, pessoas que você convivia a quinze anos, dezessete, e eu tinha que entregar a carta: “Olha, você está demitido”. Foi uma coisa assim, difícil, pra gente. Tem como mudar isso? Não tem. Ninguém conhecia você, ninguém queria saber de você. Todo mundo queria salvar a sua pele. E, em função disso, eu tive síndrome de pânico na época, e a advogada do banco que homologava as demissões teve câncer. São doenças que estão associadas à ansiedade, estão associadas a você não estar emocionalmente bem. Eu acho que as pessoas tem que pensar nisso: que você não pode ser só... Aquela história que eu falei: a gente vive como família lá. Então, na hora que você chega pra uma pessoa e diz: “Olha, só vão ficar cinco aqui”. Qual foi o critério que usou? O critério foi assim: fica um técnico, fica um advogado, fica um contínuo e o resto está na rua? Não importava se a Representação faz estudos. Então a menina falou assim: “Estudo? Pra que a Representação faz estudos?”. Quer dizer o estudo ou era planejamento pra fazer estudo? Ou era planejamento? Tem os estudos da política no plano geral, global do banco, mas tem coisas locais, que ninguém está preocupado com isso, só quem está ali. Então, eu acho que foi uma coisa que foi difícil superar. Foi muito difícil e a gente ficava assim pensando: “Será que vai acabar isso?”. Porque você não faz planejamento a longo prazo. Eu falava assim: “Bom, eu não saí agora. A coordenação ficou e eu fiquei. Mas será que eu posso comprar... Sei lá... Um apartamento? E se eu for demitida para o ano?”. Então a gente começou a sentir o que a maioria dos brasileiros sente aqui na pele. Você não consegue, você não tem projetos de longo prazo. E aquela ansiedade, aquela insegurança que faz com que você adoeça. E muita gente no banco, mesmo aqui, adoeceu depois disso. E o banco teve um índice muito alto de gente doente... (risos) Eu acho que começou assim, porque até então a gente sentia assim: “Eu sou responsável, eu gosto do banco, eu faço meu trabalho certo, eu nunca vou sair daqui”. E aí alguém diz: “Não. Sai”. A gente sentiu que na época a administração do banco não mudou, porque o banco não era... Não tinha muita gente. Sempre teve uma estrutura de pessoal enxuta. Mas tinha que seguir... Porque o Collor tinha que aparecer. “Olha, vou demitir tantas pessoas”. Nós não éramos funcionários públicos, não somos empresa pública, mas todo mundo acha que somos uma empresa pública. Então, as pessoas que saíam da Representação diziam que chegavam nos lugares, o pessoal dizia assim: “Bem feito. Bem feito. Você saiu porque era preguiçoso”. Quem era preguiçoso não saiu, quem era ineficiente não saiu. E você ainda saia com essa pecha de que era burro, de que era ineficiente, incompetente. Então, isso foi muito difícil. E a gente passou um longo período assim. Alguém telefonava, um chefe aqui do Rio telefonava, e você dizia: “Será que vão fechar o escritório?”. Isso foi uma marca muito grande e criou um ambiente assim: quem saiu ficou com raiva de quem ficou. “Por que eles ficaram e eu saí?”. Eu me lembro que nessa época eu tinha comprado um pacote pra ir pra Disney, pra ir com os meus filhos. Eu tinha prometido ao mais velho. Eu tinha um filho de sete anos e outro de dois anos e dois meses mais ou menos. Aí eu tinha prometido e disse: “Olha, eu vou então...”. No início tudo vale. Congelado é congelado. Então todo mundo comprava dólar. Então eu comprei dólar e comprei um pacote pra ir pra Disney. Aí vieram as demissões e eu fiquei: “Como é que eu vou pra Disney, eu ainda trabalho, há outras demissões. Eu não sei se quando eu voltar vou estar demitida”. Mas aí se você não fosse, você recebia a passagem... Um crédito pra você viajar. Acho que era um crédito em cruzado. Nem me lembro como era isso. Pra que eu quero um crédito? “Então eu vou”. Então eu fiz essa viagem e eu me lembro que eu não conseguia relaxar, porque eu ficava sem saber se eu estaria demitida quando eu chegasse, e me sentindo mal pelos meus colegas que foram demitidos, que estavam sofrendo e eu estava passeando. Isso é uma marca muito grande nas pessoas.
P/1 – Você estava falando nos filhos. Qual a idade?
R – Eu tenho um filho que tem vinte anos e tenho outro que tem treze anos, agora. Eu só pensava nisso, na minha vida. A gente não tem uma estrutura pra educar os filhos, colocar num colégio bom, porque o ensino público não é mais um colégio bom (risos). Então, as oportunidades que eu tive, eles não vão ter... O que vai ser dessa pessoa no futuro? Eu pensava. Eu tenho esses dois filhos.
P/1 – Como é o nome?
R – Você quer saber o nome agora. O nome desse mais novo é Ricardo e o do mais velho é Leo. Eu acho que isso é tão importante, porque a gente mora num país e a gente não tem aqueles mecanismos de proteção social, que você tem uma garantia que seu filho vai estudar até terminar o segundo grau; que se você adoecer você tem um hospital decente pra você ficar. Então, na hora que você ficar desempregada... E agora? E tem a outra parte. Quem é funcionário público ou trabalha em empresa pública como o banco, eu não tenho vocação pra ser empresária. Eu nunca pensei em ser empresária. Eu não vou resolver ser empresária aos 48 anos, aos quarenta anos. Então, você tem a sua vida ali dentro. Seus amigos estão ali dentro. Todos os meus amigos estão dentro do banco. Então, é como você fazer um corte e pensar: “Puxa, batalhei a vida inteira. Desde criança eu pensava nisso. Eu prefiro morrer”. Cheguei a pensar assim: acho que eu prefiro morrer do que ficar desempregada, porque, onde eu vou trabalhar? Quem vai arranjar algum emprego? E se todo mundo estava cortando e demitindo como a gente? Isso era uma coisa que os administradores deviam ser mais sensíveis.
P/1 – Como é um dia seu, hoje, de trabalho?
R – Hoje eu trabalho... Eu sou coordenadora. Uma coordenação no escritório é diferente do que a coordenação aqui no Rio de Janeiro. Aqui, uma pessoa da coordenação trabalha com contratos. Então, ela só trabalha com contratos. Lá em Recife, você é como se fosse um banco... A gente é um departamento, mas a gente é como se fosse um banco. No meu setor, eu tenho um pedacinho de cada setor do banco. Então, aqui o pessoal tem a (FABS?), que é a Fundação de Assistência à Saúde... Então essas pessoas querem saber carenciamento, eles vão fazer um exame, precisam de autorização e querem saber... Aqui eles vão à (FABS?). Lá vão à ______. “Olha, eu quero saber... Tem um médico aqui que quer ser credenciado. Como é que ele faz?”. Eu sou a representante da (FABS?) pra esses contatos lá, mas eu não sei tudo de (FABS?), porque eu não sou (FABS?). Eu sei o geral. Então, é sempre assim: a gente sabe o geral do banco todo, mas você não é especialista em nada. A gente até diz isso: “A gente é especialista em generalidades”. Então, eu sei como é que faz pra pedir credenciamento, quais são os exames que tem que fazer. Precisa de visto, precisa de autorização, eu encaminho via malote essas coisas, e orçamento. Toda a unidade tem um orçamento. Então, eu faço o orçamento, elaboro o orçamento e acompanho o orçamento lá na unidade. Então, o que a gente faz dessas despesas que nós vamos ter durante o ano? Eu faço essa previsão e esse acompanhamento. E serviços. Pessoal de serviços. Os terceirizados. Eles são subordinados a mim. Às vezes a gente tem uma supervisora da empresa terceirizada, e a pessoa do banco aqui, eles prestam contas a mim. Na época que chega uma listagem: acabou o contrato, tem que fazer licitação, aí é você que tem que encaminhar a relação para o Rio e a gente tem que providenciar toda a documentação necessária pra fazer essa licitação. E essa licitação é feita aqui. Atualmente é feita aqui, mas já foi feita lá em Recife. O meu setor encaminha os pedidos de passagem. As pessoas querem viajar, vão querer carro alugado. Isso é do meu setor. A gente providencia isso, pede a reserva, encaminha pra cá. Querem pedir férias, por exemplo, querem saber sobre o banco, vem perguntar à mim, à pessoa que trabalha comigo – atualmente só tem uma pessoa, a Sandra. Então, é como se fosse... Está dando infiltração no andar lá embaixo, e a gente trabalha... Vai lá ver. E aí, lá vem uma pessoa reclamar e tem que arranjar uma pessoa pra providenciar. Você é síndico. Então, você cuida de uma porção de coisinhas. Feiras. O banco vai participar de uma feira lá no Centro de Convenções. Vai lá. Às vezes vem gente aqui do Rio, vai pra lá ou às vezes não vem ninguém. Então eu vou lá olhar se o stand está bom, o que é que precisa, o que é que tem que fazer. Então, você faz assim, aquele pouquinho de tudo. Ultimamente, eu passo o dia fazendo isso; atendendo telefonema e ligando, assistência técnica. Eu não tenho mais onde guardar nada, tem muita documentação que a gente não sabe como trabalhar. Então a gente pede assistência do pessoal aqui da GEDOC [Gerência de Documentos]. A GEDOC são pessoas que são muito amigas minhas. Então a gente vai lá, e o pessoal dá um tratamento técnico a esse material. Uma coisa que eu acho engraçada. Eu acho engraçado que a primeira coisa que eu fiz no banco foi o arquivo. Mandaram fazer o arquivo. E eu sempre batalhei que o arquivo tem que ser feito por uma pessoa técnica, que conhece, que estudou aquilo, que é especializada. E aí hoje, as minhas melhores amigas do banco são do arquivo.
P/1 – Bom, Graça, são trinta anos quase de banco. O que significa o BNDES pra você?
R – O BNDES significa tudo pra mim, porque – aquela história que eu falei – desce criança eu sempre pensei assim: “Quero ter um emprego, quero ter um emprego bom, eu quero ganhar um bom salário”. Então, quando eu entrei no BNDES, as pessoas que conheciam o banco, os economistas, colegas de faculdade, sabiam o que era o banco, diziam assim: “Puxa! Você entrou no BNDES?”. Então o BNDES era tudo o que todo economista desejava pra trabalhar. O BNDES porque era o principal órgão executor de toda a política econômica do governo. E tem uma área de abrangência nacional. Então você conhece, você tem que conhecer o Brasil inteiro, ver as peculiaridades de cada lugar, ver os projetos, as coisas acontecendo. Então, em termos profissionais, eu acho que dá essa... Você amplia os seus conhecimentos do Brasil, do mundo. Você convive com pessoas especializadas, pessoas que estudaram, pessoas de um nível intelectual muito bom, e que eu comparo com pessoas que trabalham em outros órgãos públicos. O banco tem... Uma coisa que eu achei fundamental. Eu, como nordestina, a gente conhece empresa nordestina. O que é que você vê numa empresa nordestina? Nos cargos de direção as pessoas não falam com as pessoas de nível hierárquico mais baixo. E isso foi uma coisa que me impressionou desde o primeiro dia no BNDES. Os chefes falavam com o contínuo, falavam com o estagiário, falavam com a secretária, de igual pra igual. E não fica aquela coisa de: “Eu sou o chefe, eu sou importante”. Eles valorizavam o trabalho daquela pessoa. Todo mundo se sentia importante dentro da organização. Todo mundo tem consciência de que seu trabalho é uma coisa que a instituição precisa. Então, eu acho... A gente sente isso na hora que uma pessoa terceirizada, uma empresa perde e a pessoa vai sair, eles saem assim... Choram. Dizem que eles nunca foram tratados tão bem, porque a regra é que as pessoas tenham discriminação social. Você acha que uma pessoa exerce uma função de contínuo, você não tem muito que falar com aquela pessoa. E o banco, eu acho que ele respeita as pessoas. Isso eu acho que é uma coisa que você leva pra fora e você também consegue transmitir isso. Na hora que você é respeitada dessa forma, você também passa a agir assim com as outras pessoas. Você começa a ______ que as pessoas também sejam assim. Então eu não aceito, quando é uma pessoa novata, eu digo: “Olha, você tem que tratar qualquer pessoa que chegar aqui, independente de como está vestido, como está falando. Essa pessoa precisa ser atendida. Você tem que ligar pra mim ou pra qualquer pessoa e atender. Essa pessoa tem que ter uma resposta, um atendimento”. Eu acho que o banco inteiro tem muito essa postura. Pode ter exceções, claro, mas isso eu achei uma coisa muito importante. Quando eu era estagiaria, o chefe sentava assim: “E aí, tudo bem? Está gostando do estágio que está fazendo?”. E outra coisa que eu vi foi a valorização. Eu vejo muita gente jovem no banco. A gente via, na minha infância, quando a gente via uma pessoa diretora, já de cabelo branco, grisalho, que já trabalhou bastante. Isso pra uma pessoa que está começando a carreira, você tem muito gás pra trabalhar. E aí você diz: “Puxa, eu vou me esforçar muito e vou chegar lá”. A gente via no banco, a diretora com 34 anos. A diretora tinha 34 anos. Acho que foi a (Helena Natal?). Valoriza a mulher. Eu acho que não tem discriminação. Na hora que você faz um concurso você vê que tem muitas mulheres com postos executivos no banco. Então eu acho que, mesmo tendo os defeitos que os outros lugares têm, o banco é uma instituição não só importante para o país inteiro, mas todas as contribuições que o BNDES deu ao país: financiamento de infraestrutura no país. O trem. O que você olhar tem o BNDES envolvido. Você tem as indústrias, você tem a infraestrutura, você andou num trem que a via férrea foi financiada pelo banco. O porto foi modernizado pelo banco. Você tem as indústrias. É calçado, roupa, toda essa sociedade de consumo. Tudo o que a gente consome hoje, que é mais barato, que hoje todo mundo consome independente da classe social, o banco ajudou isso. O banco financiou essas empresas. Em termos pessoais, você também tem, dentro da organização, a preocupação. Eu vejo agora que, a gente não pode fazer isso, mas o pessoal está fazendo ginástica laboral (risos). Tem curso de línguas, tem biodança, tem... (risos) Acho que isso é uma coisa que a empresa está vendo. A empresa, para ela crescer, ela é feita pelos funcionários, então ela tem que valorizar os funcionários. Eu acho que o banco faz isso. Fora esse período que eu achei que foi uma coisa que... Mas isso não impede todo um trabalho que o banco tem. Então, para mim, foi uma realização, porque os meus melhores amigos, os meus maiores amigos estão dentro do banco. Então a minha vida, desde que eu entrei no banco, eu gosto de viajar... Minha primeira viagem internacional foi com uma pessoa do banco. Quando eu fiz o curso aqui no Rio, ele falou: Vamos à Europa?”; “Puxa, será que eu vou à Europa? Eu não acredito que eu vou”. Isso era coisa de rico. Antigamente só quem ia pra Europa não era rico? Então, eu fui com essa pessoa do banco. Quando eu voltei e fiquei em Recife, meus melhores amigos são os amigos lá do banco. A Rosália, que trabalhou comigo e que hoje é subordinada a mim. Tem a Regina, a Fernanda. Nós somos um grupo bastante coeso. Quando acontece alguma coisa com uma, todo mundo vai atrás saber o que é. Eu viajei com elas nas férias. “Vamos viajar juntas?”; “Vamos”. Aqui no Rio eu tenho pessoas amicíssimas. Já viajei com a Marise, com a Marli, com a Fátima, inclusive com o Isaac, que é do setor de Arquitetura. Uma coisa que eu achava negativa, trabalhar na Representação, é que eu não me sentia especializada. Eu gostaria muito de ser especializada, vamos dizer: em porto, indústria química, essa indústria de calçados, que eu entendo bastante. Havia um colega que dizia assim: “Puxa, como eu gostaria de saber profundamente sobre celulose...”. De vez em quando a gente trabalhava nesses projetos. A gente tinha que estudar, eu corria, comprava revistas, pesquisava. Era um parto. Ficava preocupada em fazer um bom trabalho. Mas os meus colegas, o dia-a-dia deles era esse. Mas aí, quando eu vim aqui, eu observava que eu estava com uma pessoa, conversando com ela e de repente ela fazia assim. Aí chegava outro colega: “Oi Graça. Você por aqui?”. Eu não apresentava porque eu achava que eles se conheciam. De repente notava que eles não se conheciam, aí eu falava: “Vocês se conhecem?”; “Não”. E aí eu apresentava. Eu, de Recife, apresentava as pessoas aqui do Rio (risos). Eu conheço pessoas de todas as áreas. Eu tenho uma ideia global de tudo o que o banco faz, mas acho que todo mundo da Representação tem isso. Isso compensa um pouco essa frustração de não ser especialista.
P/1 – O banco está fazendo cinquenta anos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que é o banco dentro do desenvolvimento histórico e econômico do Brasil. Como é que a senhora vê o banco?
R – É isso que eu já vim falando até agora. Eu acho que tudo o que você faz hoje, pra onde você olhar, acho que tem a participação do banco. Mas o banco, nem sempre ele é conhecido pela comunidade, pela sociedade. Houve um período, aquela história que eu falei da máquina: “O cara veio aqui e me vendeu a máquina”. Quem é que financiou essa máquina? Foi com recursos do banco. Você hoje tem Shopping Center que é financiado pelo banco. Tem hospital que é financiado pelo banco. Escola financiada pelo banco. Na época que era o Estado o principal motor do desenvolvimento, todos os Estados tinham financiamento do banco pra infraestrutura. Você vê a estrutura de terminal de passageiros, de barcas, de metrô. Você tem metrô. Então, se você for olhar, fica difícil alguma coisa da vida das pessoas do Brasil que você não veja a participação do BNDES aí.
P/1 – Graça, para finalizar, o que você acha desse projeto cinquenta anos de memória do BNDES e de ter dado essa entrevista?
R – Eu acho muito importante o banco ter se preocupado em resgatar a memória, que é uma coisa que nós discutimos muito em vários seminários ______ desses projetos ______ é que o banco, as pessoas que trabalham vão embora e levam consigo a história da instituição. Então, ele está renovando os quadros, a gente vê que tem bastante gente nova entrando agora e essas pessoas não conhecem... Muitas vezes você coloca aquela pessoa naquele setor, e toda aquela história de a pessoa vai trabalhar com química, petroquímica, vai trabalhar com têxtil, e ele é recém-formado. Se você for olhar, as pessoas são recém-formadas, ou então já fizeram Mestrado, já fizeram Doutorado, mas a experiência de trabalho, todo esse conhecimento de todo esse período, não tem passado isso. Eu acho que essa é a preocupação do banco: de resgatar a memória mesmo, através das experiências que as pessoas tiveram no seu dia-a-dia trabalhando na instituição, visitando esses projetos. Você chega num lugar, existia um canavial, agora eu chego lá e tem indústrias. Você vê a mudança da paisagem das cidades pela ação do desenvolvimento. Então isso eu acho que foi importante. E dar a vez, é isso que eu falei que o banco valoriza as pessoas, porque ele está dando vez aos funcionários de colocarem a importância que a instituição teve pra você.
P/1 – Eu agradeço o seu depoimento.
R – Eu agradeço a você e ao banco.
Recolher