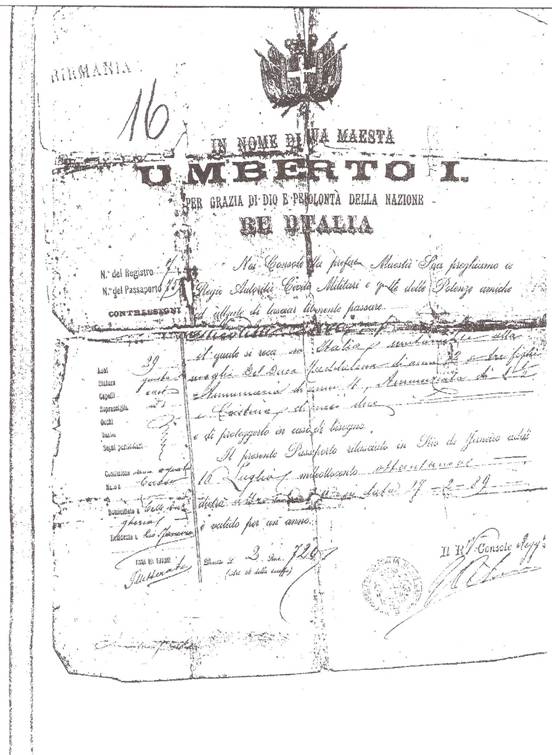P/1 – Bia, boa tarde! Para iniciar eu gostaria que você dissesse seu nome, local e data de nascimento.
R – Beatriz Campos Pantaleão de Araújo. Eu nasci [no] dia seis de outubro de 1970, em Niterói.
P/1 – Como é o nome dos seus pais, Bia?
R – Meu pai é Antônio Carlos Soares Pantaleão e a minha mãe, Maria Isabel Campos Pantaleão.
P/1 – Você chegou a conhecer os seus avós?
R – Conheci. Conheci três dos quatro avós.
P/1 – E qual era o nome deles?
R – Por parte de mãe era a vovó Lourdes, carinhosamente chamada assim, e o vovô José, pai da minha mãe, que já tinha morrido quando eu nasci. E por parte do meu pai era o vovô Juca, José, e a vovó Tentem, que era Hortência e ficou vovó Tentem. (risos)
P/1 – E você sabe a atividade deles?
R – Os meus dois avós… Os dois eram médicos, na verdade. Ele era patologista, esse meu avô [que] morreu. Ele criou um laboratório; com a morte dele a minha avó assumiu o laboratório, mas ela não era formada, não era médica, nada. Assumiu na parte administrativa. E o meu outro avô era ginecologista e obstetra, que foi uma profissão que o meu pai herdou depois também, o meu pai também é médico. E minhas avós, não… Ela depois assumiu, a minha avó materna, mas a outra era do lar.
P/1 – E qual era a atividade da sua mãe?
R – Minha mãe, atualmente, é professora, mas durante a infância ela também era, foi bem do lar. Eu lembro quando tinha mais ou menos uns dez anos - eu sou filha caçula -, foi quando ela resolveu fazer faculdade. Fez faculdade de Letras e atualmente ela está fazendo doutorado, mestrado. Enfim, enveredou por esse lado universitário, continua até hoje dando aula e estudando.
P/1 – Bia, você me falou que você é filha caçula. Você tem irmãos? Quantos?
R – Eu tenho um irmão mais velho, que é o Júnior, Antônio Carlos também, que também é médico, e...
Continuar leituraP/1 – Bia, boa tarde! Para iniciar eu gostaria que você dissesse seu nome, local e data de nascimento.
R – Beatriz Campos Pantaleão de Araújo. Eu nasci [no] dia seis de outubro de 1970, em Niterói.
P/1 – Como é o nome dos seus pais, Bia?
R – Meu pai é Antônio Carlos Soares Pantaleão e a minha mãe, Maria Isabel Campos Pantaleão.
P/1 – Você chegou a conhecer os seus avós?
R – Conheci. Conheci três dos quatro avós.
P/1 – E qual era o nome deles?
R – Por parte de mãe era a vovó Lourdes, carinhosamente chamada assim, e o vovô José, pai da minha mãe, que já tinha morrido quando eu nasci. E por parte do meu pai era o vovô Juca, José, e a vovó Tentem, que era Hortência e ficou vovó Tentem. (risos)
P/1 – E você sabe a atividade deles?
R – Os meus dois avós… Os dois eram médicos, na verdade. Ele era patologista, esse meu avô [que] morreu. Ele criou um laboratório; com a morte dele a minha avó assumiu o laboratório, mas ela não era formada, não era médica, nada. Assumiu na parte administrativa. E o meu outro avô era ginecologista e obstetra, que foi uma profissão que o meu pai herdou depois também, o meu pai também é médico. E minhas avós, não… Ela depois assumiu, a minha avó materna, mas a outra era do lar.
P/1 – E qual era a atividade da sua mãe?
R – Minha mãe, atualmente, é professora, mas durante a infância ela também era, foi bem do lar. Eu lembro quando tinha mais ou menos uns dez anos - eu sou filha caçula -, foi quando ela resolveu fazer faculdade. Fez faculdade de Letras e atualmente ela está fazendo doutorado, mestrado. Enfim, enveredou por esse lado universitário, continua até hoje dando aula e estudando.
P/1 – Bia, você me falou que você é filha caçula. Você tem irmãos? Quantos?
R – Eu tenho um irmão mais velho, que é o Júnior, Antônio Carlos também, que também é médico, e tem depois a minha irmã, a Márcia, que é professora. Eu sou a caçulinha. (risos)
P/1 – Bia, diz uma coisa, qual a origem da sua família, você sabe? Eles são descendentes...
R – Minha família tem origem portuguesa e espanhola. Eu lembro que morei na Espanha; quando a minha avó paterna - eu vi uma foto -, me viu vestida de espanhola, de valenciana, ela começou… Abriu a boca de chorar, porque lembrou-se da mãe, coisas assim. O pai dela era português, então tem português e espanhol.
P/1 – Desculpa, só pra... É por parte de pai?
R – Por parte de pai. Por parte de mãe são de Minas. Na verdade, não tem origem... Que eu saiba, não. Sei que são todos de Minas.
P/1 – E de que região de Minas?
R – Manhumirim.
P/1 – E você sabe porque eles foram para Niterói?
R – É... Quer dizer, não. Não sei porque. Sei que depois meu avô foi catar a minha avó lá. Ele era dezesseis anos mais velho que a minha avó. Foi para Niterói, se estabeleceu, depois foi lá [e] a trouxe; a levou menina. Mas o que motivou o meu avô a ir, realmente eu não sei. Vou procurar saber. (risos)
P/1 – E por parte paterna, que era dos avós espanhóis e portugueses, você sabe por que vieram pra cá ou não? Os pais deles...
R – O meu avô, na verdade, ele era… A origem dele é daqui de São Paulo. E esse do português era... Minha avó, que se estabeleceu em Niterói, mas não sei… Essa origem, na verdade, seriam os meus bisavós. Eles vieram; por conta de quê, eu não sei.
P/1 – Você me falou que nasceu em Niterói. Você se lembra do bairro, a casa, como era essa...
R – Eu lembro, quer dizer… Eu sei que quando nasci a gente morava em Icaraí, mas logo depois, eu era pequenininha, a gente foi pra uma casa em São Francisco, que eu me lembro perfeitamente, onde passei até eu me casar. Essa casa, hoje, a minha irmã mora nela. Minha mãe depois saiu de lá, foi pra uma casa menor, e a minha irmã está lá. É uma casa histórica na família, porque eu passei a minha infância todinha, os filhos… Era um bairro só de casas, então era aquela coisa de brincar na rua, a gente ainda podia jogar, brincar de pique-esconde, pega-ladrão na rua, essas coisas. Minha irmã está lá até hoje.
P/1 – E como era essa casa na época da sua infância? Conta pra gente um pouquinho.
R – Isso é interessante, porque a gente... Outro dia estava conversando isso na família, de quantas caras aquela casa já teve. Eu lembro, quando eu cheguei lá a casa era bem menor. Ela era toda rosa, com umas ondinhas na parede. Depois meu pai reformou, ampliou a casa, aí era verde, passou a ser branca e verde. Depois reformou de novo, fez uma piscina, com um varandão atrás, e depois, quando a minha irmã quando comprou a casa ela reformou umas duas vezes, já derrubou um quarto. A minha mãe, quando começou a trabalhar, ela abriu uma oficina de têxtil no fundo da casa, então foi uma casa que já teve várias roupas diferentes, digamos assim, várias caras...
P/1 – E nessa época que você era criança, quantos quartos tinha a casa? Você tinha um quarto só para você, como era?
R – Não, eu nunca tive... Era sempre eu e a minha irmã. Antes dessa reforma, inicialmente, eram três quartos. Depois o meu pai construiu mais um quarto, ficaram quatro, mas eu sempre dormi com a minha irmã, sempre. Ela sempre me enganando, porque eu era menor, eu sou cinco anos mais nova que ela; eu queria enfeitar o quarto de bonecas, ela não deixava porque era adolescente, falava que era cafona. (risos) Então, não podia. Acabava me levando no papo, me convencendo a fazer do jeito dela. (risos)
P/1 – E me diz uma coisa, como era a convivência... Você trouxe muito essa coisa dos irmãos. Como era essa convivência com o pai médico, e como era o dia a dia, o cotidiano dessa casa, quando você era criança?
R – Era em outros tempos. Niterói era uma cidade que não tinha tanto trânsito, então meu pai almoçava em casa todos os dias, por exemplo. É uma coisa, um hábito que vai se perdendo, porque as distâncias e o trânsito já não permitem mais tanto isso, eu acho. Mas a gente quando era criança tinha esse hábito, ele almoçava sempre em casa. Meu pai toca piano, então sempre tinha… A gente almoçava e depois do almoço ele sempre sentava ao piano para tocar um pouquinho. A gente sempre participou dessas cantorias.
A minha casa era sempre muito ponto de referência, seja de amigos, do resto da família, de primos, então estava sempre muito cheia. Tinha sempre algum convidado na hora do almoço, tinha sempre alguém; era sempre com muito barulho, muita alegria. Eu lembro de uma casa com muita alegria.
P/1 – E que música que ele tocava, na hora?
R – O meu pai toca de tudo um pouco, mas ele toca muito bossa nova, muito bolero. Ele fala isso, dá esse mérito muito à minha avó. Desde pequenininho, ela ficava ao lado dele: “Tem que tocar piano.”
Ele, na verdade, toca muito de ouvido. A gente cantava uma música: “Pai, eu ouvi uma música assim.” Eu cantava e ele tirava no piano, a gente ficava nessa brincadeira dias e horas. Eu lembro muito disso. Sempre gostei muito de cantar com ele - não é que eu cante bem, não, enfim... (risos)
Ele tem esse dom musical do ouvido, então ele sentava ao piano e começava a tocar. Ficava batucando, primeiro... “Canta de novo, canta de novo.”
Agora, no último Dia dos Pais, a gente fez um revival total. Ele sentou… Hoje ele tem um piano de um quarto de cauda, se dedica mais à música. Está aposentado; ele se dedica, estuda mais.
P/1 – Me fala uma coisa, Bia. Você falou que na infância vocês brincavam na rua, que naquela época ainda permitia que vocês brincassem mais. Quem eram os seus amigos, antes de você ir para a escola? Que brincadeiras eram essas que vocês faziam na rua?
R – É porque onde eu morava as minhas tias moravam lá também. Eu tinha uma tia que morava ao ladinho, tinha um portãozinho da minha casa pra casa dela, e a outra tia morava um pouquinho mais longe, mas também era perto, dava para chegar de bicicleta. Então essa minha convivência com primos foi uma coisa muito intensa na minha infância. Éramos nove primos, morávamos todos por perto: eram três, três e três e a gente vivia tudo junto.
Eram três primos homens, dessa casa do portãozinho, e eu era sempre a quarta para completar o jogo de futebol, porque ficava dois pra cada lado, então a gente... (risos) Eu era muito moleca também, muito criança. A gente jogava muito taco na rua e jogava futebol. Eu ia muito de bicicleta nessa minha outra tia; eram duas primas, já, aí rolava algumas brincadeiras mais femininas, de brincar de casinha, de Barbie, de Susy, essas coisas... (risos)
P/1 – E essas primas suas, como era o nome delas? Fala dos primos...
R – Minhas primas...São a Raquel, a Lu e o André, São três irmãos. Os outros irmãos eram Guilherme, Leonardo e Felipe. É interessante porque a gente estava... Eu vim pra São Paulo agora, vou estar aqui hoje e amanhã, por conta da Gol de Letra; na sexta-feira as primas estão vindo pra São Paulo. A gente tem uma outra prima que mora aqui em São Paulo, a gente está fazendo o encontro das primas.
A gente sempre conviveu muito junto. É que todos os primos tem mais ou menos a mesma idade. São três irmãs, a minha mãe, mais duas tias e tinha um irmão também, mas que não teve filhos, então todos os primos regulam. A gente sempre estudou junto, a gente sempre fez… Fazia balé com as minhas primas, fazia aulas de inglês com as minhas primas; a Lu tem a mesma idade que eu, inclusive ela é madrinha do meu filho. Então era Carnaval juntos, escola juntos, era primo e amigo, tudo junto, sabe. A gente cresceu nessas fases, desde brincar na praia até ir depois pras baladas à noite. A gente estava sempre, essa primalhada, todo mundo junto.
P/1 – Isso muito por parte da sua mãe. E por parte do seu pai, você tinha...
R – Por parte de meu pai também tinha muitos primos. Essa minha prima que mora em São Paulo hoje, por exemplo, é da parte do meu pai, e a gente também sempre se reunia. Todo domingo tinha lanche na casa da minha vovó, da vovó Tentem; os primos todos se reuniam também e a gente se via. A gente não morava tão próximos, os primos por parte de mãe, a gente era da mesma escola; por parte de pai, não éramos da mesma escola, mas todos de Niterói também. A gente passava férias juntos, também tinha essa interação muito gostosa, que até hoje tem, na verdade.
P/1 – E me diz uma coisa, você me falou de encontros na casa da sua avó. Como era o encontro dessas duas avós, chamadas tão carinhosamente de vovó Teté.
R – Tentem, é de Hortência. É Hortência e ficou Tentem. Essa minha avó Hortência, que é da parte de pai, ela é muito… Sempre foi muito gaiata, e ela fazia muita questão de todos os domingos a gente lanchar na casa dela. Vinha a família toda e ela preparava o lanche. Ela tinha o hábito também, interessante… Ela ligava pra todos os filhos, todos os dias: “Quais são as novidades?” Aí relatava-se as novidades do dia.
É um hábito que o meu pai adquiriu. (risos) Meu pai também é do tipo: “E aí, Bia, quais são as novidades? (risos).
Natal era na casa dela também. Tinha muitos encontros de família, sempre teve muitos encontros: Dia das Mães, Dia dos Pais, ovinho de Páscoa de esconder no jardim, essas coisas. A minha avó por parte de pai, meus avós paternos, eles tinham uma fazenda onde a gente sempre passava as férias também, os primos íamos todos juntos. Minha avó por parte de mãe tinha uma casa em Friburgo, que é uma região de serra. A gente sempre dividia, ficava metade das férias aqui, e metade ali, então era sempre com primo junto.
P/1 – E essa fazenda, por parte de pai, ou já era fazenda desses avós, por parte de pai?
R – Era em Silva Jardim. É no caminho indo para a Região dos Lagos, lá no Rio, pra Búzios, Cabo Frio e Araruama. É lá nessa região, não é longe do Rio.
P/1- E como era passar férias em lugares distantes, fora do local? Conta um pouquinho qual era... O que vocês faziam nessa fazenda, o que vocês faziam em Friburgo? Conta um pouquinho pra gente.
R – Na Fazenda, cada um tinha os seus atrativos. Na fazenda, geralmente, a gente ia mais pras férias de julho, porque não existia essa coisa de hoje em dia nessas férias: hotel não sei o quê, resorts... Hoje em dia, as crianças cada um pra um canto, cada vez, Hotel Fazenda...
Na Fazenda era acordar cedo, tirar leite de vaca, andar a cavalo. Tinha um riacho lá que tinha uma lama que se chama tabatinga. A gente pegava, fazia umas bolas, e fazia guerra de tabatinga, aí as nossas mães: “Não pode, vai machucar.” Essas coisas de mãe. Mas era... Ficava tudo enlameado, muito gostoso esse negócio.
Tinha piscina, campo de futebol... Todo ano a gente fazia uma Festa Junina, com fogueira, e era bem gostoso também. Enfim, a distração era essa, andar a cavalo, ir na fazenda vizinha, era pegar não sei o quê na fazenda vizinha. Subia em árvore... Como a gente subia em árvore lá. Muita árvore, casinha de boneca… Enfim, aquela coisa de ficar solto mesmo.
P/1 – E você sempre frequentou essa fazenda? Você começou muito cedo, como era?
R – Sempre, acho que desde antes de eu nascer essa Fazenda já existia, na verdade, e a gente sempre frequentava lá. Aí quando... Isso [era] mais em julho, nas férias de julho geralmente era isso, era típico ir pra fazenda do vovô Juca. E nas férias de verão, que eram mais longas, a gente ia pra Friburgo, [para o] sítio da minha avó. Fazia muito calor no Rio, então as irmãs se reuniam em Friburgo pra fugir um pouco, era mais agradável o clima.
Em Friburgo, as brincadeiras eram diferentes. Era menor, era num sítio, mas tinha galinheiro, tinha coelheira, e era brincar de polícia e ladrão. Tinha piscina e o pessoal da vizinhança ia todo pra lá; nossa casinha de boneca era uma graça, que a vovó construiu, tipo aquelas pré-fabricadas de madeirinha, então a gente brincava demais naquela coisa.
E esse sítio fez parte da história da vida da minha mãe, por que o meu avô comprou esse sítio quando a minha devia ter uns doze anos. Ele comprou só a terra, na verdade ele foi construindo.
Tinha a casa da minha avó. Ela ficou viúva muito cedo, então a criançada [ficava] toda na casa. Quando ela enchia o saco da gente, ela ia ficar reclusa lá na casinha dela. Na casa dela ninguém entrava. (risos) Era aquele negócio de respeitar a casa da vovó Lourdes. Mas guardo ótimas memórias.
É engraçado que, quando os primos se reúnem, o sítio sempre vem na pauta, não tem jeito. É até engraçado: “Já passou a pauta do sítio? Já passou a pauta da fazenda?” A gente brincando. Todos os primos, até hoje, sonham com o sítio, com as brincadeiras que a gente fazia, as coisas... Todo mundo ainda tem.. Quando bate a sensação nostalgia, de noite, com certeza um sonhozinho com o sítio vai ter.
P/1 – E me diz uma coisa, Bia. Você tem alguma coisa que te marcou muito nesse sítio ou mesmo nessa casa em Friburgo, pra contar pra gente?
R – Tenho. Quando eu tinha sete anos, sofri um acidente sério, lá no sítio, que marcou não só a mim, mas acho que a família toda. Fui eu e um outro primo meu, eu tinha sete anos e ele tinha quatro. A gente tinha essa casinha de boneca que era de madeira, dessas pré-fabricadas, então a gente não podia fazer fogo dentro da casa, tinha essa história. A gente, criança, gosta de fazer arte; um monte de criança junta pode dar confusão mesmo. Montamos uma fogueirinha pra tentar fazer café, enfim, fazer arte, na verdade. Pegamos álcool, como se não bastasse só o fogo, e quando a gente tacou álcool veio aquela labareda de fogo. Eu e o meu primo, a gente estava na direção do vento, o fogo veio pra cima da gente e eu me queimei toda, o corpo inteiro e ele também.
Foi um acidente feio, foi grave; a gente foi pra cirurgia plástica, fiquei internada durante um mês, tomando anestesia geral todo dia. Tinha que tirar a pele, e como era criança a gente não resistia a questão da dor, aí tinha que tomar anestesia geral, fazer aquela raspagem toda. Foi uma coisa que me marcou muito. Depois, o retorno às aulas; eu estava com o rosto todo manchado, queimei o cabelo todo e fiquei com marcas, até hoje eu tenho marcas. Foi uma coisa, um registro ruim, mas são muitos registros bons também, esse passa despercebido.
P/1 – E isso foi nesse sítio da sua avó.
R – Da minha avó, por parte de mãe.
P/1 – Lá em Friburgo.
R – Em Friburgo.
P/1 – E no outro, você tem alguma lembrança que te marcou muito?
R – No outro eu tenho muita lembrança da nossa relação com bicho, de andar a cavalo. Tinha cavalos lá, e aquela briga: “Eu quero ir no Remanso, eu quero ir no Pequira, esse é mais manso, esse é não sei o quê.” Essas coisas dos primos. Essa lembrança de ficar todo mundo junto, desse bororô de criança, e briga quem vai dormir onde.
Das festas juninas lá da Fazenda eu me lembro muito bem também. A gente ficava na fogueira tocando violão, era muito gostoso. E essa relação com animal, eu lembro disso: a gente ia pro curral tirar leite de vaca, tem uma memória muito viva com relação a isso.
P/1 – Deixa eu voltar um pouquinho. Nessa coisa que você fala que te marcou muito, você tinha quantos anos quando aconteceu esse acidente?
R - Sete.
R – Quanto tempo você ficou no processo de recuperação? E pros seus pais, como foi lidar com a situação, ainda mais seus pais sendo médicos e os avós?
R – Depois que eu fui mãe é que comecei a pensar como a minha mãe deve ter sofrido no dia daquele acidente, porque ela tinha falado pra gente não pegar álcool, ela tinha falado: “Espera que eu tô indo, que eu vou lá administrar essa situação.” Ela estava indo, realmente, tanto é que rapidinho ela socorreu a gente, só que a gente se antecipou, na verdade. E depois, eu lembro que eu fiquei, devo ter ficado mais ou menos um mês no hospital. Lembro [que] as pessoas, quando entravam no nosso quarto, meu e do Felipe, elas se assustavam. Eu lembro da minha tia chorando aos prantos de ver a gente com o rosto todo queimado. Enfim, eu lembro assim: mais ou menos um mês no hospital e depois foi uma recuperação longa, até recuperar tudo... Não lembro exatamente quando voltei pra escola.
P/1 – E você fez várias cirurgias plásticas?
R – Não precisou fazer, era um… Não era exatamente uma cirurgia plástica, eram procedimentos plásticos, fazer raspagem. Então eram cirurgiões plásticos que cuidavam da gente, mas não chegou a precisar a fazer enxerto, por exemplo. Eu lembro que… Aqui eu tenho uma cicatriz maior e ficaram na dúvida se eu precisaria de enxerto ou não, mas acabou não precisando. Depois eu lembro de ter feito muito tratamento dermatológico, de tirar essas manchas do rosto, mas eu não perdi o ano letivo, não. Não lembro se eu voltei pra escola exatamente depois. Isso deve ter acontecido em janeiro, [em] que a gente passava as férias de verão lá; devo talvez ter ficado de fevereiro a março, uma coisa assim.
P/1 – E o Felipe era mais novo que você.
R – O Felipe era mais novo que eu. O Felipe tinha quatro anos, ele também queimou bastante.
P/1 – E Bia, toda essa fase que você está nos contando, você relata muito essa convivência com primo. Você tinha algum amigo fora desse círculo de amigos primos ou não?
R – Tinha, eu sempre fui muito faladeira, muito... Principalmente, acho que mais tarde também… Você diz o quê, nessa primeira infância?
P/1 – Nessa fase, essa primeira infância.
R – A gente tinha lá em Friburgo. Tinha um grupo, amigos dos meus pais, aí os filhos vinham lá pro sítio também. Acho que a minha família sempre foi meio ímã, sabe? Os pontos de encontro sempre foram muito lá no sítio, na fazenda, na minha casa, sempre rolou um pouco isso. Como eu falei, o meu pai tocava piano; eu tinha um tio que tocava violão, o outro tocava flauta. Reuniam-se sempre em torno da música, então a gente tinha muitos amigos que iam pra lá por conta da música, pra tocar, pra cantar, e os filhos estavam sempre convivendo com a gente também.
Primos mais longe também tinha, que eu lembro, a Patrícia, a Cristiane. Outros primos que a gente convive até hoje, são o Marcelo, a Elaine, o Márcio. Eles também tinham casa em Friburgo e vinham pra lá. Muito família, eu lembro, muito primo mesmo; se não é primo, é primo do primo, coisas assim.
Tinha uma casa do nosso lado que era de amigos, até hoje a gente se relaciona. Eram a Mônica, a Patrícia, a Renata. Eram amigos que até hoje a gente, realmente, tem essa relação. Jogávamos muito buraco juntos.
P/1 –Bia, desses seus primos, dessa fase, tem algum que te marcou muito, que você pudesse falar: “Bom, eu vou eleger uma pessoa que desta fase...” ou: “Eu vou eleger essa pessoa.” Que te trouxe uma referência muito forte enquanto primo, enquanto amigo, e por quê?
R – Tem uns primos que eu tenho mais xodó. É normal, né? A Lu, por exemplo, ela tem a mesma idade que eu, eu nasci em outubro e ela nasceu em novembro, então a gente sempre tudo junto. A gente era da mesma sala da escola, a gente fazia balé, natação, inglês, era tudo junto, tanto que ela é madrinha do meu filho mais velho.
A gente sempre teve uma cumplicidade grande, apesar da timidez dela. A Lu sempre foi muito tímida, e por conta da timidez dela, eu sempre fui muito protetora dela. Na escola eu não deixava ninguém tocar nela, porque eu era soltinha e ela era tímida, então eu sempre protegia muito a Lu, o que eu acho que fez... Construiu uma cumplicidade entre a gente.
Raquel, irmã dela, é um ano mais velha que eu, então a gente também era muito amiga, mas com a Lu mais, talvez. Depois eu tenho dois primos por parte de pai, o Marcelo e o Zé, até hoje eu tenho um carinho muito grande por eles. A gente conviveu muito, depois o Marcelo veio estudar na mesma sala que a gente. A gente tem um temperamento parecido. Ele tem um carinho muito grande por mim, nunca deixou de me ligar no meu aniversário; mesmo ele morando fora, [em] todo aniversário meu esses meus dois primos meus sempre me ligaram. Mas todos os primos têm um carinho muito grande com todos.
P/1 – Bia, vamos falar um pouquinho do início da sua formação educacional. Você se lembra da primeira escola? Qual era, como ela era?
R – Lembro. Pequenininha mesmo que você está falando?
P/1 – Isso.
R – Lembro. Chamava-se Sônia Tereza. Na verdade não fiquei muito tempo lá, porque eu lembro que meus irmãos eram mais velhos e estudavam lá também. Minha mãe se aborreceu na escola porque o Júnior só tomava café com leite, o Márcio tomava Nescau, e a escola, pra forçá-los a aprender a beber outra coisa, eles trocavam o leite um do outro. (risos) A minha mãe se aborreceu com isso, tirou todo mundo da escola e a gente passou pra uma outra que se chamava Betânia, que eu fiquei muito pouco tempo. Era muito pequenininha, foi quando eu morava em Icaraí ainda, mas eu lembro de… Eu não lembro direito, mas eu lembro de uma... Tenho uma lembrança gostosa do Betânia.
Logo depois, que a gente foi morar em São Francisco, nessa casa que eu falei antes, a gente foi pra uma escola lá perto, que era o Gay Lussac. Do Gay Lussac eu trago ótimas recordações. Eu me lembro exatamente como era, inclusive depois trabalhei no Gay Lussac porque eu era professora, aí eu voltei num outro momento. Foi lá [que eu estudava] na época do meu acidente que eu tive, e foi engraçado isso, porque esse negócio do acidente marcou também a escola. Todo mundo ficou sabendo: “A menina que se queimou.” Era uma coisa assim, falada. Quando eu voltei, anos mais tarde, para ser professora da escola, tinha muitos serventes daquela época que lembravam de mim: “Você não foi aquela menina que se queimou?” (risos)
O Gay Lussac marcou muito. E depois do Gay Lussac eu passei pro Assunção, que era uma outra escola ali perto também. Tinha a questão do ensino religioso, que a minha mãe achava que fazia um pouco [de] falta, uma coisa que o Gay Lussac não tinha. Foi onde eu terminei meus estudos, no Assunção.
P/1 – E dessa escola, o Gay Lussac, você ficou de que série a que série, você lembra?
R – Fiquei do Jardim de Infância… Devo ter chegado ao terceiro período da época e fiquei até a antiga quarta série, fiz o Fundamental I lá. No Fundamental II, na quinta série, que hoje é sexto ano, eu passei pro Assunção. Aí fiz o Fundamental II e o Ensino Médio no Assunção.
P/1 – E quem foi a professora dessa primeira escola que te marcou mais, que você se identificou mais? Que lembranças marcantes você tem dessa primeira escola?
R – Engraçado, eu lembro de várias professoras minhas lá do Gay Lussac, e posso até te falar: a da primeira série era a tia Fátima e depois tia Vânia, tia Virgínia e tia Ângela. Na verdade, eu acho que todas me marcaram muito, eu lembro de todas com muito carinho.
A tia Vânia, eu lembro dela com muito carinho - ela já faleceu -, porque ela tinha uma filhinha que tinha uma deficiência e batalhava por aquela filha: levar pra APAE, trazer pra APAE, então eu lembro muito disso, dessa... De ver... Eu tinha uma imagem dela muito guerreira, por conta dessa filha dela.
A tia Virginia, eu lembro dela com muito carinho também. Ela era muito meiguinha, muito carinhosa. Lembro muito da tia Virgínia cantando na sala, umas coisas pra gente decorar a matéria… (risos) Ensinando a gente pra recorrer, pra ter esse recurso do canto. (risos) Lembro das músicas, de algumas musiquinhas até hoje...
P/1 – Qual? Canta pra gente! (gargalhada)
R – Eu lembro quando ela ensinou a questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona, [lembro] dela cantando na sala: “Na última, é oxítona; na penúltima, paroxítona; na antepenúltima, proparoxítona.” Até hoje eu lembro, então serviu o recurso, foi uma ferramenta útil. (risos)
P/1 – Bia, que amigos você tinha nessa fase, nessa primeira escola, que marcou e que ficou?
R – Eu lembro de uma amiga minha, a Georgiana. Ela era muito amiga minha. Quando eu fui trabalhar na escola, o irmãozinho dela, que era o irmãozinho temporão, foi ser meu aluno, o Tiago. Era uma coisa engraçada.
Eu lembro de uma outra amiga minha também, que era a Renata Falcão, a Paula Teles, que depois vieram a namorar um primo meu - porque Niterói também é pequena, então tem essas coisas, você acaba encontrando e reencontrando as pessoas. Quem mais... Ah, eu lembro da Ana Paula, que é uma que eu reencontrei há pouco tempo, lembro bem dela.
Alguns amigos também eu lembro, tipo o Bóris, que foi o meu primeiro namoradinho; eu lembro do Rogério, estudou comigo muitos anos também, desde pequenininho até lá em cima.
Quem mais eu lembro, lá do Gay Lussac? O Pablo, que era um tipo mais excêntrico. Nem sei o que foi feito dele, tem anos. Nunca mais fiquei sabendo dele, mas ele também era um personagem diferente, eu lembro dele.
P/2 – Tinha uma disciplina que você gostava mais, que você se entusiasmava?
R – Eu sempre fui muito… Eu sempre, na verdade, fui muito boa aluna, eu gostava sempre... Sempre gostei de estudar, mas eu adoro, eu sempre adorei fazer esportes, então eu sempre me destacava muito na parte do esporte; fazia muito teatro na escola, também. Lá no Gay Lussac, eles estimulavam muito a gente, então eu tinha esse meu grupinho, Renata Falcão, Paula, eu, a Lu. Tinha duas gêmeas também, a Andréa e Adriana, depois a gente foi junto estudar no Assunção, elas foram... Seguiram a mesma escola que eu. A gente sempre fazia teatrinho na sala, então a gente às vezes ficava um pouco em evidência - atualmente as crianças falavam que é pop (risos). Então eu sempre fui...
Por conta desse negócio de fazer teatro e do esporte também, eu sempre fui meio ‘liderzinha’. Eu sempre gostei de fazer graça, era sempre representante de turma, sempre fui muito de reivindicar as coisas, de ficar meio... Eu sempre fui meio política. (risos)
P/1 – E Bia, porque da decisão de sair dessa escola e ir pra outra, pra Assunção?
R – A minha mãe ela queria que tivesse um viés religioso, que no Gay Lussac não tinha, era uma escola laica. O Assunção tinha, Nossa Senhora da Assunção. Também foi na época que mudou o diretor da escola lá no Gay Lussac. Eu lembro que rolou uma certa polêmica, uma certa insegurança de como seria, como iria prosseguir, aí a minha mãe optou por mudar a gente.
P/1 – E como foi essa adaptação de sair de uma escola que, pelo que você conta, tinha muito boas recordações, e ir pra uma nova escola?
R – Foi quando eu passei da quarta para a quinta série. A gente, nessa época, não tinha muita escolha. O pai e a mãe escolhem muito pra gente, e eu lembro que a minha mãe convenceu muito a gente por essa questão da coisa religiosa, de mudar. O Assunção era uma escola bem maior que o Gay Lussac; quando eu fui lá me impressionou a parte física da escola.
Na verdade, os primos foram todos juntos também, então a gente não se sentiu desamparado. Não me senti desamparada porque as três irmãs sempre foram muito unidas, a minha mãe com as duas irmãs dela, então elas arquitetaram um plano: “Embora e tum.” Aí mudaram os nove pra essa outra escola, então não foi traumático, não.
P/1 – E você ficou nessa escola até quando, Bia?
R – Fiquei da quinta série até o pré-vestibular. Quer dizer, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro...
P/1 – E como era essa escola, conta pra gente um pouquinho. Quem eram, quem foram seus amigos?
R – É... Era uma escola muito boa. Eu também sempre joguei handebol, sempre joguei vôlei pela escola e sempre participei muito desses negócios de jogo estudantil, enfim... Eu tenho amigos até hoje lá. Tenho a Ana Vitória, por exemplo, que é uma grande amiga minha, que eu sou madrinha do filho dela; tem a Susana, que é uma outra grande amiga minha, eu a adoro também; tem a Carmel, que hoje em dia mora em Londres, me manda email sempre, a gente se comunica até hoje; a Lu, essa minha prima que a gente foi junto pra lá; tem Cris e tem a outra Cris; tem uma que chama Raquel também, a Raquel Ribeiro, que eu gosto muito. A gente era muito amiga quando eu entrei, era muito amiga da Raquel.
Depois tem um grupo de meninos. A gente sempre ia para esse sítio de Friburgo, a gente sempre organizava excursões e ia todo mundo pra lá. Tinha um menino, o Marco Antônio, que tocava violão; a gente também tocava violão, era muito gostoso. A gente, de vez em quando, ainda se vê. Ano passado, por exemplo, no final do ano, o grupo se reuniu. Tinha um amigo meu que eu adoro de paixão, que é o João, mas depois ele casou com uma chata de galocha, superciumenta, não deixa ele se relacionar mais com a gente, mas enfim… (risos) Tinha o João, o Luciano, que agora mora no Sul. Tem o Kazuo, que mora em Angra.
As pessoas vão também indo cada um pelos seus caminhos, mas era um grupo muito intenso, porque não era uma escola… Era uma escola maior que o Gay Lussac, mas já não era uma escola enorme como outras de Niterói, como o Abel, Salesiano. Era uma escola [em] que cada turma, cada série, tinha duas ou três turmas só, então todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era, todo mundo era tratado pelo nome. E a minha turma foi muito junta, da quinta série até o pré, todo mundo foi junto, então ficou uma amizade muito bacana, muito sólida, eu acho.
P/1 – E o que vocês... Já nessa fase de pré-adolescência, adolescência, o que vocês faziam pra se divertir? Como vocês se vestiam? Conta um pouquinho da coisa dessa época pra gente.
R – Se vestir, eu vou ter que pensar um pouquinho.
Eu lembro uma coisa, que todos moravam em São Francisco, meio perto da escola, então o nosso veículo tradicional era a bicicleta. Todo mundo, a gente sempre saía de bicicleta junto, inclusive à noite. A gente passava um de bicicleta na casa do outro pra ir para a praia de São Francisco, ou sentar, bater papo. A gente se reunia muito na casa um do outro também, pra... Estar junto, fazer churrasco, bater papo.
Lá em casa era muito ponto de encontro, sempre fazia churrasco lá em casa, as festas eram sempre... Eu sempre organizava as festas, sempre pegava a liderança... Como é que a gente se vestia...
P/1 – Como vocês se divertiam - se vestiam não tem problema, mas como vocês se divertiam? Você falou que tinha churrasco, mas tinha bailinho, essa coisa de ir pra boate, como era?
R – Hum...
P/2 – Era discoteca essa época...
P/1 – É, discoteca.
R – É, discoteca, mas na verdade a gente não ia muito, a gente tinha muito essa coisa de se divertir mesmo na casa um do outro. A gente na época não dirigia ainda; eu lembro que a Carmel, no pré-vestibular ganhou um carro do pai dela, aí vinha todo mundo dentro do carro dela, mas tinha muito esse negócio de fazer churrasco um na casa do outro e ficar junto, de bagunça mesmo. E tinha esse menino que tocava violão; isso, enfim, era a nossa distração também.
P/1 – E aí esse grupo começou a frequentar tanto a fazenda do seu... Era hábito eles irem nas férias para a fazenda dos seus avós? Ou pra...
R – Não. Na verdade, nessa época, já não tinha mais a fazenda. Meu avô vendeu a fazenda, na época talvez da minha adolescência; já não existia mais o sítio, que continua existindo. A gente ia muito pro sítio, ia todo mundo de ônibus. Tinha uma ladeira enorme pra chegar até o sítio, aí todo mundo carregando mala naquela ladeira. Eu lembro que era muito gostoso ficar no sítio. E no sítio, aí sim, tinha campo, aí brincava, piscina, sauna… Enfim, ficava naquela brincadeira gostosa também.
P/1 – E quem foi o seu primeiro namorado, Bia?
R – Meu primeiro namorado oficial? (risos)
P/1 – É, o primeiro namorado.
R – Ou extra-oficial? (risos) Meu primeiro namorado, o nome dele era Dico, mas na verdade foi um namorico, a gente namorou pouquinho tempo, só.
P/1 – Você tinha quantos anos?
R – Eu tinha já quatorze pra quinze anos.
P/2 – Ele era da escola?
R – Ele era da escola. É engraçado, porque ele já tinha namorado duas primas minhas, a Raquel e a Carminha. Aí depois a gente teve esse namorico assim, mas na verdade nunca foi muito... (risos) Eu lembro que ele falava ali, ficava me paquerando muito porque eu tinha esse negócio de me destacar com esporte. Acho que foi mais por isso, não por... Um pouco mais vaidade do que qualquer outra coisa.
P/1 – Você falou dos esportes. Você jogava handebol e vôlei, é isso?
R – É...
P/1 – E porque a escolha desses dois esportes?
R – Eu adorava jogar handebol e achava que jogava direitinho. Participava não só do time da escola, como jogava também no time da cidade, que era Niterói Rugby, só que minha mãe detestava que eu jogasse handebol; ela falava que era esporte masculino, que era muito feio, ela me enchia o saco com isso. Ela me incentivava muito pra jogar vôlei, achava vôlei lindo, e bá, bá, bá... Então eu jogava os dois: eu jogava vôlei na AABB e na escola, e jogava handebol na escola e nesse time que chamava Niterói Rugby. Eu tentava fazer os dois, mas o vôlei foi por causa disso.
Eu achava que tinha mais aptidão pro handebol até, porque eu sou muito baixinha pra jogar vôlei. Eu era levantadora, claro, não podia ser outra coisa também. (risos) Mas é... Foi mais assim, por insistência, mas era o mesmo grupo, o grupo da escola. Era o mesmo grupo que frequentava a AABB também, então era gostoso. Era a Tininha, a Ana Paula, a Maria Fernanda, era um grupo bacana.
P/1 – E Bia, vamos voltar agora para os namorados. Depois desse namorado, qual namorado que você teve?
R – Eu tive um outro que chamava Sávio, que foi um tempo depois. Com ele eu já namorei um pouco mais tempo, foi um ano e alguma coisa.
P/1 – Quantos anos você tinha nessa época?
R – Na época que eu namorei o Sávio eu tinha de dezesseis para dezessete anos, mais ou menos. É curioso desses meus namorados que quem me apresentou o Léo foi o Sávio.
O Sávio era doido por futebol, botafoguense, vivia falando... Na época, o Léo estava subindo. Estava começando a jogar futebol na categoria de base ainda, no júnior. O Léo estudou com o Sávio, eles eram da mesma sala, e o Sávio vivia falando do Léo: “Tem um amigo meu que está começando a jogar futebol, que está indo pro Flamengo”, e pi pi pi, pó pó pó, e sempre falava do Léo. Um dia a gente encontrou com o Léo numa sorveteria, o Sávio me apresentou pra ele, mas enfim... Passou um pouquinho, o meu namoro com o Sávio terminou, e eu vim a reencontrar o Léo.
P/1 – E como foi esse reencontro, como você o encontrou?
R – Deixa eu tentar lembrar aqui, porque na verdade... Não… É... Ah, lembrei. Eu reencontrei o Léo... Foi uma coisa, uma situação curiosa, porque foi no aniversário de uma amiga minha da escola, a Cris, que ele não conhecia. Ele foi parar nessa festa por conta de um primo da Cris que também jogava futebol, o Fabinho. E o Fabinho falou: “Ah, vamos lá, Léo, vamos lá…” E ele foi. Lá a gente se reencontrou e logo depois, um mês depois era o meu aniversário, eu o convidei. Foi engraçado porque estava terminando o namoro com o Sávio, enfim... Aí estavam os dois na festa; aquela confusão, aquele mal estar. O Sávio falou: “O que você está fazendo aqui, Ratinho?” O apelido do Léo era Ratinho. “Fui convidado, né?” (risos)
Eu nem quis ouvir muito a resposta, saí pela tangente. Foi quando eu comecei a namorar o Léo. A gente namorou [por] cinco anos.
P/1 – Essa atração surgiu nessa festa de aniversário? Como é que rolou um clima pra namorar?
R – Foi engraçado, porque eu sempre [fui] muito saidinha. Cantaram parabéns, eu falei: “Deixa que eu sirvo o bolo!” Comecei a servir bolo pra todo mundo. Eu lembro de ter oferecido: “Você quer um pedaço de bolo?” Estava ele com um grupinho, aí ele falou: “Quero.” Falou num “quero” assim, já meio... Fazendo gracinha... Rolou troca de olhares só, aí acabou.
E teve esses dois irmãos, o Fábio e o Marcos. Os dois jogavam futebol e o Fabinho era muito amigo do Léo. Eu era muito… O Fabinho era da minha escola e eu conheço o Fábio desde pequeno. Eu conheci os pais dele, os pais dele conhecem os meus pais. E foi o Fábio o link disso. No dia seguinte o Marco ligou, pedindo o meu telefone, se poderia dar para um amigo dele, falou assim. Falei: “Pode, tudo bem, não tem problema.” (risos)
Eu lembro que era um domingo; ele ligou lá pra casa super cedo, eu estava dormindo ainda. Acordei, falei com o Marco meio sonâmbula. Depois eu peguei o jornal, fui ler o jornal, aí tinha aquele caderno que é do bairro, no caso era o Globo Niterói; quando eu abri o caderno do Globo Niterói tinha uma foto, uma reportagem do Léo e ele falando da namorada dele: “Porque a minha namorada é isso, minha namorada é aquilo.” “Pô, cara de pau, cara!! Liga pra minha casa pedindo o meu telefone e agora a reportagem aqui falando da namorada. Que história é essa?” (risos)
Enfim, mas depois ele... Aí nada. Ele começou, me ligou e a gente ficou mais ou menos, sei lá... Um mês, um mês e meio; saía, se via, ele ia me buscar na escola, coisas assim, até... Começar a namorar, mesmo.
P/1 – Você tinha quantos anos mais ou menos nessa fase?
R – Eu tinha acabado de fazer dezoito anos.
(pausa)
P/1 – Bia, você estava contando pra gente o início do seu relacionamento com o Léo. Vocês começaram a namorar e você já tinha terminado o colegial. Como é que foi? Você estava prestando vestibular?
R – Eu estava, eu ia fazer vestibular no final do ano, e... O meu vestibular, a minha escolha pro vestibular foi uma escolha acho que equivocada. Eu fiquei até o meio do ano sem saber o que eu queria, pensei em fazer milhões de carreiras e acabei optando por Economia, que acho que não tinha nada a ver comigo. Mas passei, passei no vestibular.
Eu lembro que passei pro segundo semestre, aí o primeiro semestre de 89 foi só pra namorar. Início de namoro, tudo são flores, uma beleza... (risos) E eu trabalhava. Foi quando eu comecei a trabalhar no Gay Lussac, porque o meu segundo grau… Na verdade, eu fiz dois cursos: eu fiz o Científico, de manhã e à tarde eu fazia o Pedagógico, na época era chamado Pedagógico. Antes era Normal, depois passou a ser Pedagógico. Eu me formei nos dois e logo comecei a trabalhar no Gay Lussac, que foi muito gostoso também. Eu era ‘jardineira’ lá.
P/1 – Você dava aula pro pessoal do...
R – Jardim da Infância. Foi gostoso porque foi nessa escola que eu estudei e tinha muitas pessoas da minha época ainda. Professoras que tinham sido minhas professoras lá, mães que agora levavam filhos que tinham estudado comigo. Os serventes eram os mesmos. Eu lembro deles até hoje. Tinha o Valdeci, Regina, eram os mesmos de quando eu era criança, sabe? Então foi um resgate muito... A diretora era a mesma, que era a Iandara. Foi muito gostoso, essa época de eu trabalhar onde eu tinha estudado, com uma outra visão, ver aquela escola de um outro prisma. Foi bem interessante.
P/1 – Você começou a trabalhar. Tinha um incentivo por parte da sua família pra que você seguisse alguma carreira ou essa coisa de você ter sido professora foi uma coisa… Foi uma decisão sua ou tinha um incentivo pra isso?
R – Na verdade, eu não queria fazer o Pedagógico. Eu não queria. Foi no primeiro, no segundo, no terceiro ano, foram três anos que eu estudava o dia inteiro. E minha mãe insistiu muito. Falei: “Mãe, eu não quero ser professora, eu não quero...” Minha mãe falou assim: “Bia, uma oportunidade que a escola dá”, não sei o quê. Porque não alterava muito, nem na mensalidade, nada disso.
A minha mãe insistiu muito para eu fazer, lembro que eu ainda falei assim pra ela: “Tá bom, eu vou fazer porque você está querendo, mas se eu não gostar, depois de seis meses eu abandono, tá bom?” A gente fez meio que um trato.
Mas quando eu comecei a fazer o Pedagógico me encantei, porque a gente faz matérias que não fazia na época do Científico, que era Filosofia, Sociologia. São matérias que te despertam, que são muito interessantes, muito bacanas. Então depois não precisou mais ela insistir. A gente foi nesse combinado, mas depois eu já fui por minha conta; como eu falei, eu nunca tive muita certeza do que eu queria.
Eu sempre fui super boa aluna, eu lembro até que no... Quando estava no Assunção eu tive um apelido durante um tempo que era ‘Foco’. O professor, o coordenador falou que eu era uma péssima amiga, porque eu batia papo a aula inteira, mas depois eu chegava em casa e estudava e me dava bem, e nunca fiquei de recuperação. (risos) E os meus amigos que conversavam comigo, todos tomavam pau. (risos) Aí falava: “Beatriz é o ‘Foco’ da sala.” Ele falava assim: “Ela é o ‘Foco’.” Aí me botaram na primeira carteira, eu lembro disso perfeitamente. (risos)
Mas eu sempre fui boa aluna, sempre gostei muito de estudar, então o Pedagógico, foi um complemento pra minha formação que eu gostei muito, eu gostei muito de ter cursado as matérias didáticas.
Depois eu fiz um estágio numa escola municipal lá em Niterói, que foi uma experiência bem bacana também. Outro dia eu passei em frente dessa escola. Estava lembrando disso porque eu lembro que escola municipal [era] aquele ambiente difícil. Eu era uma menina, com cara... Imagina se os alunos iam me respeitar. Não respeitavam porcaria nenhuma, uma barulheira na sala sempre, aquela confusão... E eu lembro de duas coisas que eu fiz que foi quando eu conquistei a turma: uma foi que eu levei material de limpeza pra sala e botei todo mundo pra limpar a sala. Aquelas carteiras todas sujas, imundas, e a gente... Levei esponja, sabão e a gente lavou a sala inteira. Lavou parede, lavou carteira e a gente... Aí fizemos cartazes pra turma da tarde conservar a nossa sala limpa. Isso foi bem legal porque foi uma iniciativa minha, mas não por… Acho que foi uma iniciativa própria eu… Aquele ambiente, eu não concordar com aquilo.
Uma outra vez foi quando eu levei violão. Eu nunca toquei violão muito bem. (risos) Aliás, uma coisa engraçada: eu falei que a gente se reunia pra tocar violão e eu sei tocar três músicas no violão - duas músicas, na verdade: uma é “Maria, Maria” e a outra é “Hora do Almoço”. Como sou muito despachada, ficava todo mundo com vergonha de começar a tocar, então eu sempre começava a tocar. Aí tocava “Maria, Maria” e “Hora do Almoço” e passava adiante a minha bola. O pessoal da minha turma, até hoje, eles lembram: “Ah, lá vai a Bia tocar “Maria, Maria” e “Hora do Almoço”.” (risos) Até hoje, quando eles me vêem, eles falam isso.
Foi quando eu levei o violão pra sala, e a criançada adorou também. Eu lembro que eu tocava aquela música da Noviça Rebelde, também: “Dó é pena de alguém...” Ali eu conquistei um pouco a criançada. Foi muito bacana.
P/1 – E Bia, a decisão de começar a dar aula... Tudo bem, você terminou o primeiro e o segundo grau, e essa coisa de querer começar a trabalhar foi meio incentivado pelo pai...
R – Foi...
P/1 – Ou como foi?
R – Não lembro se teve incentivo. Eu lembro que quando fiz vestibular, eu passei pra de noite, então… Eu sempre fui meio assim, tensa, meu tempo tem que estar sempre ocupado. E também [estava] naquela fase de você querer ter a sua grana. Foi o que eu pensei: “Pô, vou trabalhar de dia, e de noite eu vou para a faculdade.” Eu lembro, os meus pais me incentivaram muito, mas acho que foi mais uma iniciativa minha, de eu querer. Eu estava muito encantada, no final eu me encantei muito pelo curso, pelo Pedagógico. Então é… Exercer mesmo a profissão.
P/1 – E, você se lembra o que você fez com o seu primeiro salário?
R – Com o meu primeiro, não, mas eu me lembro que eu saí: “Ah, infelizmente professor...”
Eu lembro de ter comprado um colar, uma vez que eu fiquei encantada: “Foi com o meu dinheiro.” Aquela coisa... Não sei se foi o primeiro ou qual foi, mas eu lembro desse colar perfeitamente. Ele era redondo, assim… Umas coisas...
P/1 – Me fala uma coisa: você começou a fazer Economia, trabalhava nessa escola e namorando o Léo, nessa fase. Como é que ele estava em termos profissionais?
R – Então, quando a gente começou a namorar, foi em 88, quando ele tinha... Foi o primeiro ano dele de profissional, e ele estava ainda se firmando no time do Flamengo profissional. Um tempo depois ele veio pra São Paulo e a gente continuou namorando meio de longe; eu vinha pra cá, ele ia pra lá. Volta a pergunta.
P/1 – Nesse comecinho, em 88, foi quando você termina de se formar, começa a trabalhar nessa escola e entrou pra faculdade. Você estava namorando. Como foi esse comecinho de carreira dele? Você falou que é o ano que ele se torna profissional e vai para o Flamengo.
R – Quando a gente se conheceu ele já era profissional, há um ano, um ano e pouco. Por exemplo, na Copa União, ele foi campeão pelo Flamengo na Copa de 87. Em 88 ele já estava um ano como profissional. Quando a gente começou a namorar eu acompanhava muito, porque foram nesses seis meses que eu fiquei sem faculdade então eu acompanhava muito a carreira dele. Eu lembro que era jogo quarta e domingo, e eu ia sempre. Tinha jogo na Gávea, eu ia muito com a mãe dele. A mãe dele passava, me pegava e a gente ia pro jogo, foi uma época que a gente viveu muito junto. Ele ia treinar, eu lembro que ele ia… A gente morava em Niterói, ele ia de manhã pro Rio, treinava, aí vinha, almoçava comigo em Niterói, depois voltava para o Rio, pro treino de tarde. Foi na época que ele começou a crescer mesmo, profissionalmente.
P/1 – E ele tinha quantos anos nessa época, Bia?
R – Ele tinha dezenove. Eu tinha acabado de fazer dezoito e ele faz em setembro. Ele tinha acabado de fazer em setembro, dezenove.
P/1 – E como era namorar uma pessoa que está se firmando no futebol, que tinha concentração? Como era isso, conta pra gente. (risos)
R – Esse negócio de concentração sempre foi uma coisa ruim. Eu lembro que a gente se via muito durante a semana. Às vezes, no final de semana, era concentração que não tinha final de semana. E Léo, além de tudo, sempre foi muito bem disciplinado, então ele concentrava na sexta... Ele concentrava no sábado pra jogar no domingo, mas na verdade, na sexta, ele já estava numa pré-concentração, entendeu? (risos)
A gente sempre foi muito de fazer programas light, nunca fomos... Apesar dos dois gostarem muito de dançar, a gente nunca foi muito pra discoteca, pra voltar tardíssimo da noite, justamente porque ele ficava nesse rigor com a disciplina dele, que tinha que ser assim mesmo. Então a gente sempre foi muito de ir para restaurante, teatro, cinema, coisas assim.
P/1 – E nesse início de namoro ele vem pra São Paulo; você continuou fazendo faculdade e continuou trabalhando.
R – É.
P/1 – E você fez faculdade até que ano, Bia?
R – Eu fiz mais ou menos dois anos de Economia. O Léo foi pra São Paulo, ficou aqui um ano, um ano e pouco, não lembro. Depois de São Paulo ele foi para Espanha. Eu lembro que a minha faculdade estava em greve, aí eu ia pra Espanha ficar com ele. Aí, enfim, começou a complicar o namoro também, a distância. Foi quando a gente...
Aí não, eu fui pra Espanha e a gente resolveu terminar. Eu voltei para o Brasil, larguei a Economia também. Falei: “Não é isso que eu quero...” Fiz outro vestibular, para Educação Física, que na verdade eu acho que era o que eu deveria ter feito quando eu tinha dezoito anos, mas… Eu sempre gostei de esportes, mas não sei, talvez não tenha tido coragem, porque era aquele negócio: “Vai ser professora...” Aquele preconceito que existe também. Resolvi fazer, fiz vestibular, passei e fiquei seis meses fazendo faculdade de Educação Física na Gama Filho. Foi quando o Léo voltou no final do ano e a gente resolveu reatar, mas quando a gente resolveu reatar, já foi pra ficar noivo e casar.
P/1 – Vamos voltar um pouquinho. Ele, quando vem a São Paulo, ele vem pra jogar no São Paulo?
R – No São Paulo, foi quando ele conheceu o Raí. Eles ficaram muito amigos. Na verdade, o Raí foi embora primeiro, morar na França, em Paris. O Léo ainda ficou mais um tempo aqui em São Paulo. Nisso, eles já jogavam juntos na Seleção também, enfim, foi aí que começou a amizade dos dois, que foi muito bacana. Eles se identificaram muito, sempre, desde o início.
P/1 – E nessa fase do São Paulo o Léo estava com quantos anos, mais ou menos? Você lembra?
R – Pois é, devia estar com uns 22 anos... 21, 22.
P/1 – E aí ele vem, joga no São Paulo; já estava indo pra Seleção e recebe um convite pra ir jogar na Espanha, é isso?
R – É, ele foi vendido pro Valencia. A gente casou em 93, então ele foi pro Valencia em 92, deve ter sido, mais ou menos. A gente casou e ia voltar a morar na Espanha, mas aí o Valencia emprestou ele pro São Paulo, então a gente casou e veio morar em São Paulo.
P/1 – Vamos voltar um pouquinho. Você disse que no começo do namoro vocês começam... Ele muda pra Espanha, você vai até ele quando tem greve da escola. Porque vocês resolveram terminar?
R – Porque quando eu fui pra Espanha, eu acho também que foi um momento que eu não tinha me encontrado na faculdade. A faculdade de Economia definitivamente foi uma bola fora, não tinha nada a ver comigo, então eu acho também que eu não tinha essa parte da realização profissional.
Eu acho que eu queria muito casar e ele não, ele estava ainda muito reticente, aí eu falei: “Bem, se não é pra ser, então vamos terminar.” E aí eu que botei assim, eu falei: “Ou casa ou não casa.” (risos) E aí ele ficou meio assim, porque na verdade a gente era muito novo mesmo, mas eu também.
A gente já estava… Particularmente, já estava meio cansada, porque já eram o quê? Dois ou três anos, aqui em São Paulo, na Espanha, ele ficava nesse... Nessa coisa desse namoro à distância. A gente resolveu terminar por causa disso. eu falei, assim: “Desse jeito não dá, então vou embora, vou cuidar da minha vida.” E realmente eu fui, cuidei da minha vida, como eu eu achava que tinha que ser. Fiz outro, comecei de novo do zero. E estava muito feliz, entrei na faculdade, acho que era isso que eu deveria ter feito com dezoito anos. Talvez se eu tivesse feito Educação Física com dezoito anos, eu tivesse completado a faculdade.
P/1 – E o Léo? Quando ele começa a jogar futebol, ele para de estudar também?
R – Para. O Léo fez Educação Física também no Gama Filho, onde eu fiz, mas eu acho que o Léo deve ter feito um ano, seis meses. Talvez nem um ano ele tenha feito, porque eu lembro que quando foi ser profissional, o Flamengo começou a fazer uma certa pressão nele: “Fica muito puxado esse negócio de fazer faculdade.” Eu lembro que rolou uma pressão nele, que acabou fazendo com que ele desistisse da faculdade. Realmente ficava complicado.
P/1 – E quando ele volta, então, da Espanha, ele vem aqui a passeio, o que ele… Quando ele volta no fim do ano, quando que vocês reatam. Ele veio a passeio?
R – Foi. No final do ano sempre tem uma parada do campeonato, o campeonato europeu para, todos, aí eles têm sempre essa folguinha de Natal e Ano Novo.
P/1 – Como foi? Ele foi te procurar, como foi essa história?
R – Foi. Ele foi me procurar. A gente estava uns seis meses sem se ver, sem se falar, e aí ele foi me procurar, já com essa coisa de decidido a... De me pedir em casamento.
Foi uma surpresa, na verdade. Nesses seis meses da minha vida eu vivi de maneira muito intensa também. Já era mais velha, não era garota, já tinha mais autonomia, eu lembro que tinha os amigos da faculdade. Eu comecei a viver - aí sim, ia muito pra discoteca, pra balada, coisa que eu não fazia antes, porque eu sempre namorei, eu sempre fui namoradeira, engatava de um namorado no outro. (risos) Nunca fui... Esse negócio de sair com amiga, nunca tive muito esse espaço, e nesse tempo, eu tive esse espaço de... Eu me lembro que tocava muito, estava muito na moda esse negócio de música da Bahia, aí tinha muita festa com isso. Fiquei surpresa quando o Léo voltou para o Brasil pra o Natal e Ano Novo com a proposta dele de casamento.
P/1 – E durante esse período, você não se relacionou com ninguém, você ficou sozinha?
R – Acho que sim, nem lembro, mas nada sério não. Acho que sim, uns beijinhos devem ter rolado. (risos)
P/1 – Bia, quando ele veio, te pede em casamento. Você aceitou logo, como é que foi isso?
R – Aceitei, porque na verdade era uma coisa que eu tinha muito planejado. Apesar de ter reconstruído o negócio da Educação Física, de eu estar feliz ali, era um plano muito recente, ainda, foram coisas de seis meses. Enfim, aceitei, já fui… Lembro que a gente já passou o Ano Novo na Espanha, que não ia poder passar aqui no Brasil. A gente já foi pra lá passar o Ano Novo e em junho a gente casou.
Eu fiquei lá com ele morando antes de casar: janeiro, fevereiro, março, abril, mais ou menos, acho que fiquei uns quatro meses lá. Depois eu voltei pra arrumar o casamento e em junho a gente casou. A gente voltaria para a Espanha, mas aí deu essa reviravolta de ter sido emprestado para o São Paulo, e a gente veio morar aqui, em São Paulo.
P/1 – E o casamento, como é que foi? Foi em Niterói mesmo? Seus pais aceitaram numa boa? Como é que foi isso?
R – Aceitaram, porque Léo, na verdade, sempre fez muito parte, foi um relacionamento de namoro muito longo. A gente era muito novo, conheci Léo [quando] eu tinha dezessete anos, era muito menina. Eu dezessete, ele dezoito - não, ele já tinha dezenove e eu ia fazer dezoito, então foi uma coisa meio que natural, porque ele já tinha vindo pra São Paulo, já tinha ido pra Espanha. Era uma coisa assim, todo mundo já esperava um pouco por isso, que a gente fosse se casar. Lembro que quando conheci a mãe do Léo, Dona Aurélia, logo no início do nosso namoro, ela falou assim: “Você sabe, né, minha filha, jogador de futebol casa cedo.” Eu tinha um mês, dois de namoro, me mandou essa. Falei: “Opa, que isso?” (risos) Mas é, se você for ver o histórico dos jogadores, por questão deles se mudarem, acaba que força a barra pra... Na vida pessoal também. Então era uma coisa que todo mundo já esperava um pouco.
Foi em Niterói, foi numa igreja lá perto da casa do Léo. O casamento foi até curioso, porque quando a gente teve aquele negócio de correr os proclames, os proclames tinham que correr pela paróquia do noivo. O Léo já estava há um ano na Espanha, a residência dele era na Espanha, então os nossos proclames correram na Espanha.
P/1 – Olha que loucura!
R – Quando a gente foi, eu fui buscar o negócio dos documentos, o padre [disse] : “Não, tem que ter uma cerimônia, não posso te dar assim, sem...desse jeito.” (risos) Eu lembro que a gente estava num clube, eu já estava vindo para o Brasil no dia seguinte ou dois dias depois, para ver, enfim... Fomos em casa rapidinho, trocamos de roupa, tirarmos a bermuda, voltamos com a calça. Tinha uma igreja simpaticíssima lá no bairro em que a gente morava, que era uma grutazinha.
P/1 – Onde era isso, em que cidade?
R – Era em Valência, mas era fora de Valência, num bairro que se chamava Rocafort. Nesse bairro a gente acabou fazendo uma cerimônia, o padre fez uma cerimônia. Na verdade, a gente se casou ali. Eu lembro quem estava lá na nossa casa era o Ricardo Rocha, que era jogador também, e ele foi o padrinho da cerimônia. (risos) Então toda a vez que eu encontro com o Ricardo Rocha, ele fala: “Eu fui padrinho do teu casamento, hein? Do casamento de verdade fui eu.” (risos) Ele fala isso. E realmente é, foi ali.
Foi uma cerimônia muito engraçada, todo mundo de calça jeans, singela, mas num lugar muito gostosinho, uma coisa diferente. Eu vim pra cá com toda a documentação e depois a gente fez a cerimônia, realmente, lá em Niterói.
P/1 – Vocês vieram para São Paulo e foram morar onde, Bia?
R – A gente morava em Jardins, na Alameda Franca.
P/1 – E ele jogou, ele foi da época que ficou jogando no São Paulo. Nessa época ele já não convivia mais com o Raí.
R – Não, nessa época, o Raí já estava na França, convivia... Eles sempre mantiveram uma amizade, tinha a questão do link da Seleção Brasileira, que eles sempre se encontravam, mas o Raí já estava na França.
P/1 – E como eram essas viagens? Por exemplo, quando ele ia jogar fora, quando ele ia jogar pela Seleção, você acompanhava, como era?
R – Não, não, nunca... Nunca acompanhei muito, até porque a gente casou em 30 de junho de 1993. [No] dia 21 de junho de 1994, nosso primeiro filho nasceu. Foi no meio da Copa de 94, inclusive. E em agosto de 95 nasceu a nossa segunda filha, então eu sempre fiquei envolvida com criança, não que eu era muito simples. Nessas viagens nem todas as mulheres acompanhavam, a não ser que fossem campeonatos mais longos, senão não existia... Eu sempre lembro quando ele tinha concentração em Teresópolis, eu sempre ia a Teresópolis pra vê-lo, coisas assim, mas viajar sempre, não. Uma viagem ou outra.
P/2 – Só pra registro, qual o nome dos seus filhos?
R – Lucas, Júlia e Joana.
P/1 – Você quis ser mãe logo cedo, vocês quiseram ter filho logo cedo?
R – Quis. Foi uma decisão minha. Hoje eu vejo que foi uma decisão superlúcida, mas eu era uma menina, na verdade. Não sei [de onde] partiu tanta lucidez, porque eu estava fazendo faculdade de Educação Física e estava feliz fazendo isso.
Consegui transferir minha faculdade para Valência, foi uma papelada danada traduzir tudo. Eu ia continuar minha faculdade em Valência quando o Léo foi vendido para o São Paulo e eu não consegui dar continuidade nisso.
Quando eu vim pra São Paulo eu falei: “Gente, eu vou aproveitar. [Se] ficar nesse pinga-pinga, vou ficar daqui pra lá, sempre acompanhando o Léo, não vou conseguir estudar. Vou aproveitar meu tempo pra ter meus filhos e cuidar dos meus filhos.” E foi ótimo, foi uma decisão muito coerente pra mim, porque meus filhos me fizeram sempre muita companhia.
Ficamos em São Paulo um ano e depois fomos para o Japão. Ficamos no Japão dois anos e fomos para a França, foi quando [ele] reencontrou o Raí. Na França a gente ficou um ano e meio, depois fomos para a Itália. Se você for ver meu percurso, realmente… Na Itália sim, eu morei dez anos, mas em nenhum desses outros lugares eu teria tempo, disponibilidade de tempo, de duração para ter feito algum curso, alguma... Mais longo, que me proporcionasse ter uma carreira profissional. Mas foi muito bom, porque eu sempre fui muito galinha dos meus pintos. Cuidava, eu sempre fui muito inteira, fui uma mãe muito participativa na vida deles.
P/1 – E quando você vai para o Japão, você só tinha...
R – Só tinha o Lucas.
P/1 – Lucas... E como foi chegar num país com uma criança, com uma língua que eu acho que você não falava? (risos)
R – Não.
P/1 – E foi pra morar onde?
R – Fui morar numa cidadezinha desse ‘tamaniquinho’ que chama Kashima, que é onde o clube ficava, o Kashima Antlers. Ficava mais ou menos umas duas horas e meia ou três de Tóquio. E não sei, acho que quando a gente é novo é mais inconsequente. Acho que eu já estava esperando por isso também pela vida do Léo, já sabia que seria mais ou menos essa minha vida.
Mas é engraçado isso você perguntar, porque eu lembro quando a gente voltou a morar em São Paulo. Nesses dez anos na Itália teve um break [em] que a gente voltou um ano para o Brasil; a gente ficou seis meses em São Paulo e seis meses no Rio. Eu era muito amiga da minha vizinha de porta, Ivani, e o filho dela era adolescente. Eu lembro que [estava] morrendo de medo do Brasil, violência, essas coisas todas, e ela saía assim, de madrugada, quatro horas da manhã paá pegar filho em boate. Eu falava assim: “Ivani, você é maluca, cara. Você sair sozinha pra buscar criança em boate, às quatro horas da manhã.” “Maluca é você, que vai morar com uma criança recém-nascida no Japão.” (risos) “Eu não saio de São Paulo de jeito nenhum, nem amarrada.” (risos) Ela falou assim pra mim (risos).
Eu nunca tive problema, não. Acho que foi uma experiência, uma vivência muito rica, na verdade, e no Japão era tudo diferente. Tudo diferente: os hábitos, os costumes, a comida, a medicina é diferente no Japão.
Eu me lembro de uma cena no Japão. A minha vizinha que já estava lá há mais tempo, que era brasileira e tinha uma filhinha da idade do Lucas. Eu só tinha o Lucas, meu primeiro filho, aí ela virou e falou assim: “Bia, você não quer levar o Lucas pra pesar, medir, essas coisas?” Ele era bebezinho. Falei: “Vamos, Ana.” Enfim, estou achando que ia chegar lá no consultório, conversar com o médico. Quando eu cheguei lá parecia que eu estava entrando num filme, porque no Japão eles primam muito pelo uniforme. Então as enfermeiras era aquele negocinho, na cabeça, sainha, vestidinho, uma cruz vermelha aqui na frente, bem coisa de típico de filme de época. Pegaram o Lucas do meu colo; parecia linha de fábrica, de produção: passa pra uma, uma tira a roupa, passa pra outra, a outra mede, passa pra outra, a outra pesa. Quando você vê, te devolvem a criança, lá do outro lado, vestida. (risos) Aí eu falei assim: “Caramba, cadê meu filho? Meu primeiro filho, meu filho único, meu Deus!!!” (risos) Eu lembro que a Ana virou assim e falou: “Ai Bia, eu devia ter te prevenido, né.” Falei assim: “Não, Ana, tudo bem.” Mas enfim, a gente vai pegando no... Vai acostumando, né?
P/1 – E como era a convivência? Você convivia muito com os brasileiros, você aprendeu a falar japonês? Como é que foi?
R – Eu convivia muito com os brasileiros. Os japoneses, na verdade, eles sabiam que a adaptação era difícil, então os times adotavam assim, de postura… Cada time adotava uma nacionalidade, então, eram, sei lá, quatro jogadores poderiam ser, então eram todos brasileiros. No Kashima eram todos brasileiros, éramos mais ou menos umas dez famílias porque tinha uns quatro jogadores, aí tinha os treinadores e os goleiros, fisioterapeuta, o técnico, que era o irmão do Zico na época. No final, eram umas dez famílias de brasileiros. E justamente pra criar um pouco esse gueto. No outro time, eram todos argentinos, no outro eram todos italianos, no outro... E por aí vai. Justamente porque eles sabiam que a adaptação não era simples, então a nossa convivência acabava ficando mais entre os brasileiros mesmos.
P/1 – E o que te impressionou mais ir morar num país como o Japão?
R – O que me impressionou mais? Não só no Japão, é uma coisa… Mas principalmente no Japão, comparando com o nosso Brasil, apesar da nossa bagunça, essa confusão, eu sempre falo que acho que brasileiro tem vocação pra ser feliz. Porque a gente... O governo oferece pra gente estrutura de vida muito precária, de questão de saúde, de educação, de infraestrutura de um modo geral e mesmo assim a gente vê as crianças sorrindo, a gente vê as pessoas felizes. Eu acho que as pessoas são mais felizes aqui.
Aí você pega e compara com o Japão, onde tudo funciona; tudo funciona no Japão, tudo. É uma coisa incrível. Eu lembro, uma vez eu comprei um brinquedo para a Júlia, cheguei em casa o brinquedo não funcionava. Eu liguei, era um domingo, foram na minha casa trocar o brinquedo dela, porque tinha que funcionar o negócio. Então, se o sinal está fechado, não está passando carro nenhum, mas está fechado para o pedestre, o pedestre espera o sinal abrir pra ele atravessar. Ele é incapaz de cruzar, mesmo quando não está vindo carro nenhum. E no entanto, o índice de suicídio entre jovens no Japão é altíssimo. Então eu acho assim, quanto mais organizada, quanto mais estrutura acaba tendo uma sociedade, mais chances de infeliz ela... Tem mais chance de ser infeliz, é uma contradição, mas é uma coisa que eu vivi, essa experiência, muito... Nos países que eu vivi.
Acho que tem também uma interferência muito do clima. Na Espanha, por exemplo, eles são bem mais abertos, são bem mais descontraídos, rola uma interação mais bacana. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no Japão foi a questão familiar, porque não existe muito esse aconchego da família que eu estava tão acostumada. Eu fui, eu nasci muito nessa coisa da família. Eu lembro que [quando] o Lucas era pequenininho a gente convivia muito com a família do pediatra, por exemplo. Eu ia fazer aniversário dele de um ano, sei lá, era um ano, falei: “Minoa...” Aí convidei o Minoa pra ir e falei: “Se você quiser levar o seu filho… Eu sei que é aniversário de bebê, mas traz o seu filho.” Tinha uns dez ou doze anos. Aí ele falou: “Não. Se você quiser convidar o meu filho, liga para ao meu filho ou então você manda um convite pra ele.” Como se fosse... Como se ele não tivesse a liberdade de chegar para o filho, e falar: “Vamos lá.” E realmente não existia essa liberdade, essa convivência familiar lá. A gente nunca teve muita abertura, porque o idioma no Japão cria uma barreira muito grande.
P/1 – E eles falavam em inglês ou não?
R – Não, não. Os japoneses eles falam japonês. Pronto. Outra língua que eles precisem falar, eles contratam um intérprete, porque japonês não se permite errar. Eles têm essa questão de estar, de ser o primeiro da turma. Alguém tem que ser o último, não podem ser todos os primeiros, por isso que eu acho que essa cobrança em cima deles mesmos, eles se cobram demais.
O japonês é um idioma curioso. Eu lembro que eu fiz umas aulas de japonês e a professora falou assim pra mim, aqui no Brasil, ainda: “Japonês é muito fácil.” Falei: “Tá de brincadeira, falar que japonês é fácil.” Mas é porque não existe feminino e masculino, plural e singular, então é uma língua muito enxuta. E a parte fonética da língua é toda assim: todas as palavras em japonês são formadas com consoante e vogal, consoante e vogal, como ‘casa’, pra gente. Meu nome, Beatriz, esse ‘tr’, eles não conseguem fazer, então eles botam uma vogal no meio, meu nome era ‘Beaturizo’. (risos) Em nenhum momento a língua japonesa faz com que ela enrole a língua, como se tiver que falar em inglês: ‘through’. Eles não têm esse exercício da língua, e como eles não se permitem errar, eles não arriscam, então eles preferem não falar inglês, porque eles sabem que não vão alcançar. Isso é uma análise minha, claro. (risos) Eu que estou fazendo essa… Porque depois eu convivi com outros japoneses.
Convivi com uma japonesa, por exemplo, na França, no curso de francês, que também é uma língua difícil, você tem que enrolar muito a língua também, e a menina, a bichinha era assim, super. Na parte gramatical ela corrigia a professora, não errava nada, mas na hora de falar ela não falava, ela se travava e não falava. Porque o japonês tem essa coisa também, parece que são feitos em fábrica, é tudo aquela coisa padronizada, todos têm a mesma reação nas ocasiões. Você já sabe como é que japonês vai reagir se, sei lá, cair uma árvore. “Ah, já sei como vai ser.” E são todos iguais, é uma coisa bem engraçada. Quer dizer, não todos, né, isso aí a gente já... Estou radicalizando, depois que você mora lá, você vê que realmente não são todos iguais. Claro que eles também são seres humanos. (risos)
P/1 – Bia, como é que era essa cidadezinha, ela era muito pequena? Como era a sua casa lá? Conta um pouquinho pra gente.
R – Nossa, a cidade era mínima. A minha casa era toda de madeira pela questão do terremoto, então era um pouco alta, ficava um vácuo entre a casa e o solo pra não ter tanto terremoto.
A gente morava numa vila que tinham quatro casas juntas. Eram quatro jogadores que moravam ali, tinha um gramadão junto, em comum, na frente. Eu rodava a cidade toda de bicicleta. Eu lembro que, logo depois que a Júlia nasceu, eu botava a Júlia no canguru, aqui, e o Lucas ia na cadeirinha.
P/1 – Ela nasceu lá?
R – Não, ela nasceu aqui. Eu fiz o pré-natal lá e depois ela veio pra nascer aqui. Eu rodava a cidade toda em bicicleta, que era muito pequenininha mesmo. Claro que, do mesmo jeito que a gente detecta um oriental aqui, pelos olhos puxados, por ser diferente, lá era a gente que era o diferente, então eles olhavam pra gente com essa curiosidade, olhavam pras crianças com curiosidade.
A Júlia usava brinquinho e lá eles não botam brincos nas crianças, então era um sucesso esse negócio. Eu lembro, por exemplo, os bebês lá também… Todas as roupinhas de bebês vão até aqui e os bebês andam com o pezinho sem sapato e sem meia, porque eles acham que os anticorpos entram pelos pés. Então podia estar um frio capeta, que aqueles nenezinhos [estavam] todos com o pé pra fora, entendeu? E os meus não, eu botava meinha, sapatinho, pi pi pi, pó pó pó, tudo… Então fazia um sucesso esse negócio de sapatinho, brinquinho. As pessoas paravam pra ver as crianças. E não ter olho puxado... (risos)
P/1 – Como é que vocês vão para a França?
R – Na verdade, o Léo nunca cumpriu nenhum contrato dele. (risos) Eu lembro que na Espanha, sei lá, assinou por quatro anos e ficou dois; no Japão também foram quatro anos de contrato e ficamos dois, aí, foi... Como é que foi essa história? Eu lembro que teve uma coisa do Raí. Alguém mostrou um vídeo pro Raí, do Léo. Eu não lembro quem foi que mostrou, não sei como foi, e o Raí não sabia, e falou: “Raí, vê esse cara aqui. Esse jogador, o cara é bom. O que você acha dele?” Quando passam o filme para o Raí era o Léo. Tem uma história dessa, talvez o Raí saiba contar melhor do que eu. Enfim, já naquela época jogava na Seleção, já tinha jogado em 94.
O Léo foi um caso muito atípico pro Japão, porque naquele momento só ia pro Japão jogadores mais velhos, e o Léo tinha 24 anos, então todo mundo: “O que você vai fazer no Japão, cara? O Japão nem tem futebol direito.” Realmente, foi o Zico que começou com o futebol no Japão, e o Léo foi parar no Japão por conta do Zico, porque ele não conseguia mais jogar. Eles jogaram juntos no Flamengo, o Zico teve uma interferência muito forte na vida profissional do Léo, e foi o Zico que levou o Léo pro Japão, mas foi essa polêmica: “O que você está fazendo? Você está se escondendo no Japão, você saiu da vitrine do futebol.” E aí eu não sei, foi um empresário que levou o Léo pra França, foi assim...
P/1 – E ele foi morar no Paris, foi jogar no Paris Saint-Germain.
R – Foi jogar no Paris Saint-Germain. Tinha o Raí, que foi um grande incentivo, e o Ricardo Gomes, com quem ele tinha jogado na Seleção também. Era o técnico, ia passar a ser técnico na época, que foi um outro incentivo também pra gente ir.
Foi uma mudança radical, porque a gente saiu de uma cidade desse ‘tamaniquinho’, que era Kashima, para ir morar em Paris, Cidade Luz.
P/1 – Vocês moravam onde?
R – A gente morava em Saint-Germain. O nome do time é Paris Saint-Germain e Saint-Germain fica a oeste de Paris, perto do Castelo de Versailles. Era pertinho do time, do clube onde eles treinavam.
P/1 – Vocês moravam em uma casa?
R – A gente morava numa casa na frente de um cemitério. Tinha um custo pra chegar naquela casa, o Raí que ajudou muito a gente achar aquela casa. Era gostosa, tinha um quintalzinho, um jardim bacana, e as crianças começaram a ir pra creche, que era pertinho.
P/1 – E o Raí morava perto.
R – O Raí morava em Croissy-sur-Celle, mas era perto. Não era pertíssimo, mas era perto. Todos os jogadores moravam naquela região ali, justamente para ficar perto de onde eles treinavam.
P/1 – Como é que foi essa mudança para Paris e o que você começou a fazer? Você falava francês, foi aprender francês, como é que era?
R – Não, não falava francês; foi a primeira coisa que eu fui fazer, na verdade. Eu me matriculei para fazer uma aula de francês, foi quando eu conheci essa japonesa que eu estava falando. Era muito gostosa a aula, porque eram todos estrangeiros: tinha uma norueguesa, tinha outra brasileira, tinha essa japonesa, tinha um português, era bem diversificada a turma, então era uma troca muito bacana também. E só; fazia isso, estudava francês, e as crianças eram muito pequenininhas.
P/1 – Nessa época você ainda tinha dois.
R – Eu tinha dois. O Lucas chegou em Paris, ele tinha... A Júlia tinha um aninho e o Lucas dois. Foi...
P/1 – E como era a convivência com esses jogadores, com o Raí? Conta pra gente um pouquinho como é que...
R – Foi um momento muito gostoso da amizade também do Raí. O Raí era muito paizão nosso, lá. Era engraçado porque o japonês tem essas coisas padronizadas, mas eles te carregam no colo, com estrangeiro eles te paparicam até... Eu lembro que eu saía aqui do Brasil, estava calor, aí chegava lá no Japão, frio; eles esperavam a gente com sobretudo, sabendo que a gente não ia carregar. Tinha um sobretudo pra cada um, e se pedia uma coisa, eles já providenciavam, sabe? Tinha lá as burocracias deles, mas eles sempre tentavam agradar a gente de todas as maneiras. E quando eu cheguei lá já estava tudo arrumado, já tinha a minha casa, já tinha a loja para ir comprar a louça, já tinha uma pessoa pra me ajudar, já estava tudo dentro do esquema.
Em Paris não foi assim. Era um clube maior, uma outra realidade, e não tinha esses paparicos. O Raí que paparicou a gente, ficava brincando com a gente: “Vocês estão muito mal acostumados com esses japoneses, estão achando o quê?” (risos) Eu lembro do Raí brincar muito com a gente por conta disso. É isso que eu estou falando, ele falava francês perfeitamente. O Raí foi na creche comigo pra conseguir vagas para as crianças, a nossa casa foi ele que conseguiu ir com a gente também, então nesse início, nessa adaptação, o Raí ajudou muito a gente, ele foi muito bacana. Depois ele apresentou Paris pra gente, porque ele já estava lá há alguns anos, então a gente tinha… Paris é uma cidade também que, enfim, oferece milhões de coisas. Então a gente… Eu vivi muito intensamente a cidade também.
P/1 – E o que você fazia, o que você curtia fazer lá?
R – Inclusive quando a gente chegou em Paris, a gente ficou num apartamento do Raí. O Raí morava em Croissy-sur-Celle, mas ele tinha um apartamentinho na cidade de Paris, foi onde a gente ficou.
P/1 – E esse apartamento ficava onde?
R – Ficava do lado da Torre Eiffel, que era num lugar bacanérrimo também. No início eu fiz muito turismo; eu não conhecia Paris, então fiz muito turismo mesmo lá, de conhecer.
P/1 – E como era, como é que começou essa coisa da... Vocês se reuniam muito um na casa do outro, como era o lazer?
R – A Tina, esposa do Raí, ela fazia um curso, o Cordon Bleu, e tinha outros também. Eu lembro que tinha a Denise do Flávio, que trabalhava na Varig, na época, também fazia o Cordon Bleu, então tinha muito desse negócio de comer um na casa do outro. Eu sou terrível na cozinha. (risos) Mas eu ia pra casa deles pra... Tinha muito dessa coisa de reunir sim, mas tinha também muito de sair mesmo à noite, de frequentar restaurantes, restaurantes diferentes, essa vida cultural de Paris também.
P/1 – E Bia, como começou essa coisa de pensar em algum projeto social? Você se envolveu nessa fase inicial do casamento, mesmo aqui no Brasil? Você chegou a se envolver em alguma coisa, em algum projeto social ou não?
R – Não, efetivamente não. Nunca...
P/1 – E como é que surgiu essa ideia do Raí e do Léo, de começarem a pensar em alguma coisa, de fazer algum trabalho social. De criar esse sonho...
R – A gente sempre brinca que, na verdade, a Gol de Letra nasce de uma grande amizade entre os dois. Eles tinham essa coisa de tentar usar a força do futebol, canalizar essa força para um fim social. “Vamos fazer alguma coisa”, mas não se sabia o quê, como, por onde começar, enfim, a partir do zero. Ainda mais [porque] eles não eram do ramo, nem pedagogos, nem eram professores. Eram atletas. Mas existia esse desejo.
Eu acho que são duas pessoas muito sonhadoras, são muito idealistas também, e foi muito legal isso, porque na verdade é um link que mantém os dois juntos até hoje. Mas foi uma coisa que surgiu entre eles, foi papo de concentração. A gente brinca que eram papos assim: não tem mais o que fazer mesmo, já jogou sinuca, já jogou buraco, já jogou não sei o quê, vamos bater papo, aí começam nessas filosofias.
P/1 – Você acha que... O que os motivou, fora essa questão talvez do papo da concentração ter se esgotado… (risos) O que os motivou a começar a discutir isso na França? Você acha que teve algum estopim ou teve algum... Alguma visão da realidade francesa, diferente da nossa, que possa ter estimulado...
R – Eu acho que sim, eu lembro muito de ouvir o Raí falar dessa questão. Acho que quando você vai morar fora você começa a fazer as comparações também. Uma coisa, por exemplo, na França, que eu lembro que funciona perfeitamente é a questão da saúde lá. Eu lembro que eu ia no pediatra, mandava o recibo, depositavam na minha casa, a consulta - não, na minha conta, a consulta. O sistema sanitário lá funciona de uma forma perfeita, a parte educacional também, então você acaba fazendo essas comparações. Acho que talvez isso tenha estimulado os dois.
P/1 – Bia, você coloca muito essa coisa do início, dessa inquietude, talvez, dos dois. Até conversa de papo, você brincou até que talvez tenha surgido num papo de concentração, mas tinha reuniões na casa do Raí, por exemplo, em Paris, sobre como se deveria se montar uma organização? Que discussões eram essas? Vocês tinham isso ou não?
R – Não lembro não, Márcia, porque eu lembro assim… Não sei se isso vai entrar em conflito com os outros depoimentos...(risos)
P/1 – Não, não...
R – (risos) Não sei se eu vou me lembrar de alguma coisa, mas eu lembro muito que o pontapé inicial da Gol de Letra foi quando o Raí voltou para o Brasil - nisso a gente já estava na Itália, na verdade. Eu diria que lá em Paris foi uma preliminar do sonho, foram coisas… Foi o rascunho, entendeu? Foi quando começou-se a pensar: “Pô, vamos fazer. O que a gente vai fazer?” Uma coisa assim, mas realmente se efetivou a situação quando o Raí voltou para o Brasil.
P/1 – Vocês ficaram dois anos em Paris, né? O que mais te marcou nessa sua estada em Paris?
R – O que mais me marcou? Deixa eu pensar. Eu lembro… Hoje eu falo que se eu tivesse que voltar a morar em Paris, por exemplo, eu não moraria onde morei. Apesar de ser uma cidade muito gracinha, muito gostosa, a gente tinha que pegar o _______ para chegar em Paris. Eu lembro que demorava vinte minutos pra chegar, mais ou menos. Eu tinha filho pequeno, então eu ia sempre muito corrido a Paris. Eu ia, visitava o museu, voltava, porque tinha que buscar as crianças na creche, essas coisas assim. Então eu sempre falo que se eu tivesse que morar, moraria em Paris, que é uma cidade que você não pode perder; é uma cidade muito intensa, está sempre acontecendo alguma coisa. Tanto que a Cláudia e o Ricardo, quando voltaram a morar em Paris, ele como técnico, foi uma coisa que ela quis. Ela falou: “Não quero morar fora de Paris, eu quero morar em Paris.”
Paris é uma cidade que… Lembro que a gente passava muito frio lá em Paris. Foi engraçado, foi nessa época que eu vi como a Espanha era quentinha, porque quando eu fui morar na Espanha, [o primeiro] lugar fora de Niterói que eu fui morar, eu morria de frio na Espanha, mas Valência, na beira do mar, era uma cidade superquente. Eu fui ver, como Valência era quente quando fui morar em Paris (risos). Paris realmente é muito frio, e eu acho os franceses assim… Mas isso foi uma conclusão que eu tirei depois, na verdade, quando eu fui morar na Itália. Os franceses são muito… Eu gosto muito do povo francês, porque eles são muito corretos, em todos os sentidos. O italiano é mais tutti buona gente. Em Milão, principalmente, é uma cidade que… Como é que eu diria isso? Que precisa ter um certo pedigree. Vai depender do seu pedigree como eles vão te tratar ou não. E o francês não, o francês é muito Egalité, Socialité, Fraternité.
Sabe, eu lembro que eu fui com o Raí, por exemplo, pra buscar, procurar vaga na creche para os meus filhos, e eu não falava nada de francês na época. Mas eu lembro que a diretora falava inglês e o Raí estava ali. Era meio francês, meio inglês, aquela confusão, e um certo...
Eu não teria direito que os meus filhos tivessem vagas na creche porque eu não trabalhava. Eles só davam vagas pras mães que trabalhavam fora. E eu lembro dela ter me perguntado por que eu queria botar meus filhos na creche. Eu lembro de ter respondido, na hora eu respondi em inglês, que eu queria que eles tivessem uma continuidade de conteúdo, não queria que fosse garderie, que cada dia era um grupo de criança diferentes, cada dia era um conteúdo diferente, sempre ter uma continuidade. Eu achava que era importante essa convivência deles com outras crianças, já que... Eu lembro de resgatar essa questão dos primos, falei: “Meus filhos aqui só convivem com adultos e isso é uma coisa que me incomoda, eu gostaria que eles convivessem com outras crianças também.” Acho que foi o meu argumento que a convenceu a me dar as duas vagas, entendeu? Porque na verdade eu não teria direito. E foi uma coisa muito boa também pra eles, eles terem convivido nesse espaço, lá.
P/1 – E a ida pra Itália, por que se dá? O que acontece que vocês são obrigados a ir pra lá?
R – A gente foi pra Itália em noventa e... Ai, agora não sei... Em julho fez dois anos, julho de 1997. Foi mais ou menos isso, em 97 que a gente foi para Itália. Léo, na verdade, ele estava no auge da carreira dele, eu diria. E saiu do Paris Saint-Germain para ir para o Milan, que é um time muito grande.
Acho que é uma ambição de todos, de muitos jogadores, jogar nestes times grandes: o Chelsea, o Milan, o Real Madrid, então foi uma proposta que não podia negar, mas foi muito dolorido ir embora da França, eu lembro, porque o Léo estava jogando muito bem. Eu lembro que ele saía sempre no jornal, tem uma manchete no jornal, escrito: “Léo, rest avec nous.” Para ele não ir embora, para ficar lá na França, e a gente acabou indo por uma questão de proposta mesmo de trabalho dele, de...
P/1 – E o Raí ainda permanecia em Paris, ele estava ainda no Paris Saint-German.
R – O Raí estava em Paris. O Raí ainda ficou em Paris talvez por mais um ano, não muito tempo também, não sei.
P/1 – E aí, como é que...
R – Não muito tempo depois, ele veio para o Brasil. Em 98, foi quando deu partida aqui na Gol de Letra.
P/1 – Como se dá a sua chegada na Itália e como foi essa adaptação, Bia?
R – Na Itália, francês e italiano é igual brasileiro e argentino, existe essa rivalidade total. Os italianos falam que os franceses consideram os italianos os primos pobres, então tratam eles mal, não sei o quê, existe uma... Que francês é arrogante. Existe uma rivalidade: qual cozinha é melhor, a francesa ou a italiana, ou então qual é a melhor moda.. Eu lembro... (risos)
Por exemplo, quando eu cheguei na Itália. Você estava falando negócio de vestir, que eu não lembro como eu estava vestida na minha infância. Eu lembro que cheguei na Itália muito francesinha e uma mulher me olhou… Fui com uma amiga italiana numa loja ela falou assim: “Ah não, ela está recém-chegada da França.” A mulher olhou pra mim assim, de cima abaixo, falou assim: “Nota-se.” (risos)
Realmente, apesar da proximidade é muito diferente. É uma diferença muito grande de tudo: de hábito, de vida, de cultura, de roupa, de comida, muda muito. A Europa tem essa curiosidade, você de repente pegar um trem, estar em duas horas em um outro país e mudar completamente. É muito ramificada a Europa, mesmo dentro dos próprios países, também. Na Itália, por exemplo, a diferença do norte para o sul é gritante. E na França também tem as suas diferenças; na Espanha nem se fala, o dialeto muda completamente, o valenciano você não entende nada, é completamente diferente do espanhol, e eles preservam isso muito, inclusive nas escolas. Eu diria que essa questão dos dialetos, o país que preserva mais é a Espanha, até. Porque ainda ensina na escola.
P/1 – E me diz uma coisa, Bia, como é que se dá essa chegada, como é que se dá a sua adaptação e o que você vai fazer... Você chega lá com dois filhos, você teve o seuterceiro filho lá.
R – É, a Joana nasceu lá. Quando eu cheguei na Itália, na verdade eu me liguei a aprender italiano. Estava cansada já de aprender idioma: quando eu fui para a Espanha eu me matriculei na aula de espanhol; fui pra o Japão, tentei aprender japonês também, fui pra aula de japonês.
É engraçado esse negócio do Japão. Resgatando um pouco, eu lembro que eu aprendi a falar japonês, algumas coisas, umas frases clichês em japonês. Foi um diretor lá me receber… Na minha casa, foi à minha casa me conhecer, e eu sabia falar assim: “Muito prazer, eu me chamo Beatriz, você aceita um café?” Ele entrou lá em casa, eu falei isso tudo de sopetão pra ele, ele ficou ...(risos). Os dois anos que eu fiquei lá ele não parava de falar que quem melhor falava japonês era eu. (risos) Só que eu só sabia falar essas duas frases, eu o enganei direitinho. (risos) E ele mantém essa imagem minha até hoje. (risos)
Quando eu cheguei na Itália, eu lembro que estava exausta de aprender mais um idioma. Eu continuei aprendendo francês, na verdade; [me] matriculei na Aliança Francesa lá e continuei estudando francês. Meio incentivada por essa coisa da Cristina do Raí, que fez curso de culinária na França, cheguei na Itália e fiz um curso de culinária também.
Mais tarde fui aprender o italiano. Na verdade, o francês me ajudou muito com o italiano, porque são duas... Dois idiomas muito parecidos, gramaticalmente tem muitas palavras parecidas. Por exemplo, janela em francês é fenêtre, e em italiano é finestra. É um idioma mais aberto, o italiano, mas existem muitas palavras parecidas.
P/1 – E vocês moravam em Milão mesmo.
R – A gente morava em Milão mesmo. É um condomínio de prédios, a gente sempre morou ali. A gente mudou de apartamento, mas sempre do mesmo condomínio.
P/1 – E como foi essa adaptação? No final, você acabou ficando dez anos lá.
R – Dez anos. Eu lembro que quando eu cheguei à Itália foi… É engraçado de ver essa diferença cultural. O Léo estava treinando, não podia ir lá me buscar, e mandou um motorista do clube buscar as minhas crianças, no aeroporto. Ele falava francês, então a gente veio conversando em francês. Eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: “Qualquer coisa que você precisar, problema que tiver, basta falar Milão AC, que os seus problemas estão resolvidos.” Eu olhei e falei assim: “Caramba! Bem vinda à máfia italiana. (risos) Onde é que eu estou me metendo.” Porque na França não existia isso.
Na França, eu acho que as coisas funcionam sem existir preferências ou burocracias. Por exemplo, a minha carteira de motorista na França. Fui à Prefeitura, dei minha carteira brasileira, na mesma hora eles me deram uma francesa. Tipo “você já fez a prova no Brasil, está tudo certo”, então foi uma troca. Quando eu fui embora eu destroquei, acabou. Na Itália eu cheguei, eu tive que fazer autoescola, tive que fazer prova, uma burocracia tremenda, e funciona assim meio pelo jeitinho, entendeu? Quando ele me falou isso, na hora eu não entendi bem, mas depois, com a convivência, você vai entendendo.
Uma outra coisa que me chamou muito a atenção também: eles são fanáticos por futebol, muito mais talvez que na França. A gente foi tirar foto pra fazer o Promécio, não sei, de ouro, e o rapaz da loja falou assim: “Você é Milanista?” Enfim, não sei qual foi o papo que rolou, aí ele falou: “Não, eu sou de uma outra religião.” Falei: “Nossa, que coisa mais forte, comparar futebol com religião.” Depois, com a convivência, eu realmente eu vi, constatei que é isso mesmo. A questão de futebol lá é quase religiosa, sabe? É uma rivalidade muito grande, me impressionou muito essa questão.
P/1 – Bia, quando você chegou à Itália, essas conversas do surgimento da Gol de Letra continuaram entre o Raí e o Léo. Como é que se deu isso?
R – Continuou, continuou. O Raí veio aqui para o Brasil; eu lembro que o Raí ligava sempre para o Léo, porque o Raí visitava muitos projetos sociais aqui em São Paulo. Ele ligava entusiasmadíssimo: “Fui visitar um Projeto X, Projeto Y. Que bacana, que não sei o quê, que legal!” Foi um momento muito intenso de falatório por telefone.
P/1 – Como é que o Léo via esse movimento do Raí em busca aqui de concretizar uma coisa que havia sido sonhada em Paris? Como é que lá, à distância, se envolvia e via?
R – O Léo é sempre assim, ele é muito… Só quer botar a mão onde sabe o que está esperando por ele. Essa coisa de caminhar para um lado, que ele desconhece, é uma... Ele sempre foi um pouco reticente. Só que o Raí sempre foi muito mais de se jogar mesmo, sem tantas dúvidas, então acho que isso foi para um...
Ao mesmo tempo acho que o Raí se lança muito nisso, mas ele precisa de um suporte. Acho que ele precisa desse suporte, então acho que um completou muito o outro. Até lá na Vila Albertina, naquele dia que eu brinquei: “Foi um casamento que deu certo, o Léo e o Raí.”
Mas foi isso, acho, que um completou muito o outro. Porque eu acho que se dependesse só do Léo, a Gol de Letra não iria existir, e se dependesse só do Raí, acho que também não iria existir. O Raí se lançava nos sonhos, e o Léo não se lançaria. Acho que o Léo não tomaria essa iniciativa, talvez, que o Raí tomou, de subir em comunidade, de procurar mesmo. O Raí foi pra dentro nesse sentido, mas o Léo dava esse suporte, o suporte do sonho do ideal.
P/1 – E como eles estruturaram, começaram a concretizar isso? O Léo começou a procurar, localizaram a Vila Albertina e aí como se deu essa coisa do nome, a questão do estatuto, a questão da grana inicial? Como foi esse envolvimento deles?
R – Eu lembro assim… Eu sempre brinco, falo que a nossa madrinha foi a Sônia London. Foi ela que partiu da [Fundação] Abrinq. A gente fez esse contato com a Abrinq, foi o Raí que fez, e a gente fala que a Abrinq é a madrinha e a Kellogg’s foi o padrinho, porque a Kellogg’s tem essa filosofia de financiar as fundações no início.
Na verdade, o Raí ficou um ano, a gente escolhendo qual seria o formato da Gol de Letra. Teve um projeto que a gente foi visitar; a gente veio de férias para o Brasil, veio aqui pra São Paulo. Foi um dos projetos que mais chamou a atenção do Raí, que ele falou: “Não, vocês tem que visitar.” É o projeto do Morro Azul - ou Monte Azul, não sei, que é uma comunidade aqui, em São Paulo.
P/1 – Eles trabalham com o quê, você sabe me dizer?
R – A gente foi visitar. Era uma alemã, que era a líder desse projeto. Ela veio para o Brasil, se encantou e ficou aqui; foi parar nesse lugar, que era uma comunidade, não sei exatamente por quê. E ela começou a fazer rodas de leitura na casa dela. As crianças vinham da escola, ela reunia as crianças e começava a ler. E depois ela ensinou a fazer pão alemão, aí também foi começando assim. Invadiram um terreno, começaram a montar uma sede nesse terreno.
Eu lembro que na época a gente foi… Tinha um teatrinho super bonitinho, era uma sede muito aconchegante até, e ela começou na casa dela, lendo, fazendo rodas de leitura e depois foi crescendo.
Na época que a gente foi visitar existiam várias atividades complementares. Eu lembro que existia capoeira, existia teatro. Ela ensinava a fazer marcenaria, pegava caixa de feira de frutas e com essa madeira os ensinava a fazer trabalhos manuais. A gente foi visitar na época do Natal, eu lembro que tinha muitos presépios feitos dessa madeirinha, ela que ensinou a fazer. Esse pão alemão foi um boom que começou, ela montou quase que uma pequena fábrica ali, e vendia para várias padarias aqui em São Paulo. Ela meio que organizou aquela comunidade ali, do tipo “eu fico com os teus filhos hoje e você vai trabalhar, amanhã você fica com os meus e eu vou trabalhar”, então ela... E quando a gente foi lá, eu lembro que ela falava de como tinham caído esses índices de violência.
Eu não sei nem se está viva ainda essa senhora, não me lembro o nome dela, porque na época ela já era bem velhinha, tinha a cabecinha branca. Isso me tocou muito, tocou muito o Raí, primeiramente, que ele já tinha isso de visitar. Eu lembro que ele ficou encantado, ele levou a gente. E me tocou muito, particularmente, ver uma pessoa estrangeira fazendo aquilo pelo meu país.
Eu lembro de ter tido esse pensamento na cabeça: “Caramba, a mulher é uma alemã, se enfia numa comunidade, e olha só o que ela conseguiu mobilizar.” Eu acho que é ser muito desgarrada, viver pra humanidade mesmo. E ela era uma pessoa supersimples, superdoce, que não se deslumbrou pelo Léo e o Raí estarem ali. Muito convicta dos ideais dela e muito mergulhada ali naquele projeto. Esse projeto foi nosso grande espelho, serviu pra gente como um modelo mesmo. Era um modelo de complemento escolar, então a gente… O nosso objetivo era um pouco esse, era tirar as crianças da rua. No momento em que elas não estivessem na escola, elas estariam na Gol de Letra, e a gente se baseou muito nesse projeto pra gente seguir a nossa linha.
P/1 – E ela deu algum suporte ou foi muito mais nessa coisa da visita?
R – Não, eu acho que ela deu essa luz.
P/1 – Inspiração.
R – Essa luz, a inspiração para qual estrada seguir. A partir daí a gente começou a buscar recursos técnicos e profissionais para formatar essa nossa ideia. Foi nessa época que entrou a Abrinq com a metodologia, que foi a Sônia London que criou, e aí começamos a procurar lugares. Eu lembro que o Raí ia mesmo de cara, na cara e na coragem procurar um lugar, uma sede pra acontecer, onde iria acontecer o negócio. Foi quando ele descobriu, por acaso, essa escola abandonada, lá na Vila Albertina.
P/1 – E quando vocês, mas vocês continuavam estando...
R – Fora.
P/1 – Fora, quer dizer, a participação de vocês era muito nesse suporte, nessa conversa, e quando vocês vinham ao Brasil, vocês visitavam os locais.
R – Era muito… Na verdade, sempre foi uma coisa muito institucional. A gente, na época… Eu lembro que surgiu uma dúvida se seria uma fundação, associação, cooperativa, porque cada uma tem um estatuto diferente. Cada uma segue uma regra. Fundação, na verdade, é porque a gente poderia financiar outros projetos, isso que é a questão da fundação; instituto também tem essa possibilidade. E a gente pensou em ser fundação, porque a gente achava que com a imagem deles, a gente conseguia captar muitos recursos que fossem suficientes para manter a Gol de Letra e financiar outros projetos também. Então a escolha de ser uma fundação e não um instituto foi por conta disso. E eu lembro que não poderiam ser duas pessoas, pra ser uma fundação tinha que ser no mínimo três. Foi aí que eu acho que eu e a Tina entramos um pouco no circuito, porque até então era um sonho muito dos dois. A gente entrou no circuito com duas famílias, mas realmente, a semente, o embrião, foram os dois. Aconteceu da gente entrar, mas foi bom. (risos)
P/1 – E como foi o seu envolvimento, no início, Bia? Fala um pouquinho pra gente, como foi o seu processo nesse início da Gol, e...
R – Meu processo, no início da Gol, não posso dizer que foi uma participação muito efetiva. Eu morava fora com os meus filhos pequenos, entrei de gaiata no navio, digamos, porque foi uma questão realmente de ter que ser mais duas pessoas. Acharam tudo muito bacana, mas eu não posso dizer que tenha sido um projeto meu. Eu achava bacana tudo, a ideologia.
Esse negócio do nome que você estava perguntando, eu lembro que a gente, na época, ficou muito assim, “Gol de Letra”, “Toque de Letra”… Eu lembro [de estar] conversando com a Tina uma vez, dessa dúvida, ou Toque ou Gol de Letra. A gente falou assim: “Não, mas o gol é o objetivo alcançado e o toque não, de repente dá um toque, mas não é gol. De repente a bola vai pra fora, né?” Então a gente optou por Gol de Letra, teve essas trocas de ideia. Então eu sempre participei muito fora, mas sempre que eu vinha, a gente vinha muito aqui na Vila Albertina, a gente participava. Depois de um tempo, a gente resolveu lançar em Niterói, que é a minha cidade e do Léo, foi uma questão afetiva mesmo.
P/1 – Quer dizer, vocês resolveram criar o processo de estabelecimento da Gol de Letra no Rio, em Niterói, foi por uma questão afetiva.
R – Foi por uma questão afetiva.
P/1 – E por que do local inicial?
R – Foi por uma questão afetiva, também pela facilidade do local, porque o local já pertencia à gente, então já tinha uma disponibilidade do local. Era a cidade que eu e o Léo estávamos, a gente queria ampliar e resolveu ir pra lá.
P/1 – E que comunidade no Rio, em Niterói, nesse espaço próximo era atendido?
R – Isso foi, na verdade… Não digo que tenha sido um erro, porque acho que toda experiência é válida, tudo serve pra gente crescer e aprender. Mas a gente contrastava muito essa situação, porque esse local não ficava no meio de uma comunidade, ele ficava afastado das comunidades. A gente atendia as cinco comunidades, então tinha um ônibus que passava e circulava, pegava as crianças, as crianças iam pra lá, pra sede, e a gente tinha um problema seriíssimo de evasão, porque era distante, o que na Vila Albertina nunca aconteceu. As crianças sempre tropeçaram ali na fundação porque estão ali no entorno, entendeu?
Depois a gente tentou mudar o formato de Niterói, indo pra dentro da comunidade e se estabeleceu dentro de uma escola municipal. Ficamos por lá acho que dois anos, uma coisa assim. Foi bacana, acho que foi um momento do projeto que funcionou, mas acabou terminando lá em Niterói por falta de verba mesmo.
P/1 – Vamos voltar um pouquinho, Bia. Quando você fala que foi uma questão afetiva e tinha até, vamos dizer assim, tinha a oportunidade de vocês terem um espaço, só que vocês estavam na Itália, nesse período. Como vocês estruturam a equipe do Rio e quem vocês chamam pra colaborar? Porque vocês não estavam atuando efetivamente aqui.
R – A equipe do Rio foi a Sônia London, ainda estava na época, ela que fez esse… Tinha o Marcelo de Abu, que era também do São Paulo, e eles que fizeram essa seleção dessas pessoas, porque eles estavam mais no mercado, em contato. Na época a gente acabou… A gente tinha um envolvimento; tinha o Cesinha, que é casado com essa minha prima, que é a Raquel. O Léo e o Cesinha eram muito amigos na época, porque o Cesinha também é uma pessoa muito idealista. O Cesinha virou um meio, nossa representação dentro da Gol de Letra, em Niterói, porque era meio família, era amigo, era uma pessoa idealista, e foi um pouco através… Foi assim que aconteceu.
P/1 – A questão de Niterói, quando vocês saem desse local, que era de vocês, e vão pra dentro de uma escola que era na comunidade, quais foram os desafios que foram encontrados lá? Quais foram as dificuldades? Vocês saíram de um espaço estruturado, muito bom, e vão pra dentro de uma escola.
R – Na verdade, eu acho que foi bom porque lá na sede em Itaipu era um pouco uma Ilha da Fantasia. Era uma espaço muito bonito, muito amplo. Eu lembro que tinha uma tenda de circo que a gente conseguiu uma doação, no meio, onde as crianças tinham aula de música, então tinha muito contato… Está tendo aula de música, mas numa tenda de circo, no aberto. Era muito agradável o lugar, mas também não condizia muito com a própria realidade deles.
Quando a gente foi pro Jacaré, era tudo mais improvisado. Eu lembro que a biblioteca ficou dentro de um contêiner. A escola disponibilizou algumas salas, aí a aula... Tinha um grafite, era mais longe a quadra. Enfim, não tinha uma sede, não tinha uma estrutura formal como existe em São Paulo e como existia lá na unidade. Mas eu acho que foi uma experiência importante. Eu acho que não foi… Não sei, eu acho que não posso falar muito porque eu sempre estive morando fora, então a minha participação realmente nunca foi efetiva.
Aqui no Caju, agora sim, é uma coisa efetiva que eu posso falar mais com conhecimento de causa, mas eu acho que assim a gente não… Criou-se muita expectativa. Não sei, não acho que as nossas expectativas tenham sido correspondidas. Eu acho que quando a gente foi pra dentro dessa escola, o objetivo era que existisse um link maior com o ensino público, e eu acho que não existiu tanto, entendeu? Não foi exatamente como a gente planejou, não.
P/1 – E Bia, vocês ainda continuavam lá em Milão e o Leonardo jogando, né? Você voltou para o Brasil quando?
R – A gente voltou para o Brasil foi em 2001, porque eu lembro que foi o ano das Torres Gêmeas. A gente voltou em agosto de 2001, aqui pra São Paulo. E isso foi muito bom pra mim, porque foi num período que eu realmente me enfronhei na Gol de Letra, ali sim eu comecei a realmente fazer parte de corpo e alma, eu diria. A gente tinha a Zélia Cavalcante como coordenadora, eu lembro que rolavam muitos papos na casa dela, muita reunião. Eu participava realmente fisicamente da Gol de Letra, eu ia pra Gol de Letra todo dia.
P/1 – Vocês moravam onde aqui?
R – A gente morava em Perdizes. Eu lembro de ir sempre pra lá, pra Gol de Letra. A gente ficou pouco tempo aqui, uns seis meses, mas foi bom, porque foi um momento que eu me... Passei a conhecer os funcionários daqui, as pessoas, cada um. Quem era o professor de Educação Física, o professor de Música, então isso foi bom pra mim.
P/1 – E por que vocês voltaram pra cá, Bia, nesse período, em 2001.
R – Por que o contrato do Léo tinha acabado. O Léo teve problemas sérios, físicos. Ele teve problemas, teve uma pubalgia muito séria. O contrato dele acabou e a gente voltou, a gente estava… Ele tinha 31, 32 anos; tinha muita vontade ainda de jogar aqui no Brasil, enfim, já estava meio em final de carreira mesmo.
P/1 – Ele teve o quê? Não entendi o que você falou.
R – Pubalgia, uma inflamação no púbis.
P/1 – Ah, tá.
R – Isso o deixou, sei lá, um bom tempo ele ficou sem jogar. Ele operou o joelho três vezes também. Isso ao longo da carreira.
P/1 – E aí vocês vieram para São Paulo, moram aqui, mas ele não veio pra ficar em nenhum clube, vocês vieram morar aqui em São Paulo...
R – Não, ele já veio pro São Paulo. Veio jogar por São Paulo. Na verdade, a gente tinha que ficar um ano, mas ele jogou por seis meses, e a gente foi pro Rio, aí ele jogou no Flamengo [por] seis meses também, que foram os dois times que ele jogou aqui no Brasil, antes. Acho que foi meio que despedida do Flamengo, despedida do São Paulo. Quando foi em novembro - não, em outubro de 2002, ele foi fazer um jogo. Fui com ele pra Milão fazer um jogo que era uma despedida de um jogador do Boban. Ele era muito novo, já tinha parado de jogar, mas parou de jogar [quando] tinha 31 pra 32 - não, 32 pra 33. Quando foi, recebeu esse convite pra voltar pra Milão.
P/1 – E pra fazer o quê, Bia?
R – Pra voltar a jogar, aí ele voltou a jogar no Milan. Nesses tempos, nesse ano que eu fiquei no Brasil, na verdade eu vivi seis meses da Gol de Letra em São Paulo, e seis meses da Gol de Letra no Rio.
P/1 – E lá em Jacaré.
R – Lá em Niterói. E pra mim foi muito legal. Quando eu voltei pra Milão, nessa segunda etapa de Milão, eu abri lá uma Associação Gol de Letra: passei a promover eventos, fazer coisas pra arrecadar fundos e mandar o dinheiro pra cá, pra manter os projetos. E isso também fez com que mantivesse esse link com a Gol de Letra, por conta desses eventos. Eles me mandavam trabalho das crianças pra lá, os projetos que tinham, então isso manteve meu link com a Gol de Letra nesses outros anos que fiquei lá.
P/1 – E essa estratégia de montar essa associação foi uma iniciativa sua, foi uma conversa que vocês tiveram? O objetivo era mais pra captar recursos.
R – Foi uma iniciativa minha, mas quando o Raí veio embora da França criou-se a Associação Gol de Letra França, que eram amigos do Raí. Existe até hoje. Aí eu resolvi mandar uma, criar a Associação Gol de Letra na Itália também.
P/1 – E o que você promovia lá? Que tipo de eventos, o que você fazia, Bia?
R – O Brasil é um país é muito sedutor, as pessoas... Agora acho até que mudou um pouco essa questão, mas na época existia muito uma visão de querer ajudar o Brasil. Então tinha muitas doações pontuais, às vezes, escolas... Tinha uma escola de tênis que fazia turnês de tênis e a inscrição era pra Gol de Letra, faziam caminhadas não sei do quê, e arrecadava-se fundos também, jantares, enfim, peças de teatro. Teve uma escola que promoveu um desfile, que também arrecadou, e também doações pontuais de amigos, que queriam doar também.
Às vezes a gente tentava chegar também em projetos. Por exemplo, eu fui descobrir que Milão é a cidade gêmea de São Paulo, e realmente é totalmente igual, é muito parecida, é muito essa visão de trabalho, essa coisa industrial. Por conta disso, existia um fundo na Prefeitura de Milão pra financiar projetos sociais aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente.
P/1 – E você conseguiu muito?
R – Não, acabou não rolando isso, mas a gente chegou a apresentar. Começou a existir um link, mas depois vim embora.
P/1 – E esses projetos que você tentava apresentar tinha a ver com os projetos que eram desenvolvidos aqui...
R – Não, eram projetos que a Gol de Letra daqui do Brasil me fornecia. O meu trabalho lá… Eu fazia uma tradução pro italiano e depois, claro, tinha uma correção de uma italiana mesmo, e aí apresentava.
P/2 – E qual era a repercussão disso, da Gol de Letra, lá fora?
R – Era uma coisa muito positiva. Eu lembro, por exemplo, um trabalho que eu fiz lá, foi um intercâmbio entre os meninos da Gol de Letra aqui e os meninos de uma escola internacional lá. Foi super bacana essa… Eles se comunicavam por e-mail, às vezes por carta, por desenho, coisa assim, e foi muito legal. Era uma repercussão boa, porque tinha essa questão do Brasil [como] um país simpático. Era uma coisa bem bacana, as pessoas tinham um feeling legal, tanto é que até hoje, mesmo eu tendo voltado, ainda existe essa associação. Claro que existem menos eventos, menos iniciativas, mas ainda existe algum trabalho lá.
P/1 – E Bia, nesse segundo retorno, isso foi mais ou menos em 2002, que você falou que vocês voltaram...
R – Que eu voltei pra lá. É.
P/1 – Você ficou lá até quando?
R – Fiquei lá até 2007.
P/1 – E durante esse tempo todo você ficou trabalhando na associação.
R – Foi.
P/1 – Fazendo eventos.
R – Isso.
P/1 – Você já tinha o seu terceiro filho? Ou a sua terceira filha?
R – Já, a terceira filha nasceu em 2000, e aí a gente…. Ela morou nesse período, a gente morou no Brasil, ela morou também. Nasceu antes da gente voltar para o Brasil, nasceu lá.
P/1 – E Bia, você acabou voltando por quê?
R – Eu voltei por que, enfim, o casamento já não estava andando tão bem. Eu tinha alguns sonhos e desejos também, como o de fazer faculdade, de ter a minha vida. Foi assim, um momento que o Léo já não jogava mais, ele parou de jogar futebol e assumiu imediatamente, de um mês pro outro ele deixou de ser jogador e passou a ser dirigente do clube.
P/1 – Quando foi isso?
R – Exatamente a data, não...
P/1 – Tudo bem, mais ou menos. Você lembrou de 2004...
R – É, se a gente voltou em 2002, ele deve ter jogado ainda uns dois anos, talvez, 2004, porque ele passou a ser dirigente. Ele não gostou, não se adaptou muito, aí largou. Ficou um ano como Dirigente, parou, aí foi ser comentarista; trabalhou na Sky, na BBC e ficou um ano também, depois voltou de novo a ser dirigente.Mas eu não via o Léo muito realizado como dirigente, tanto que agora ele já deixou de ser dirigente de novo, já mudou o rumo dele.
Acho que isso foi o que mais me incentivou, também, a voltar para o Brasil. Eu queria… Eu também vi meus filhos muito italianos; isso às vezes me incomodava um pouco, sabe, essa questão de… Eles vinham pra cá com um português muito carregado do italiano, então eram estrangeiros lá e eram estrangeiros aqui. Essa questão de ser estrangeiro me cansou, ser estrangeira. Eu tinha muita necessidade de voltar às minhas raízes, tinha essa questão familiar, de construir mesmo uma coisa pra mim. E os meus filhos estavam começando a atingir uma idade… Eu comecei a me botar um limite, eu falei assim: “Ou eu levo essas crianças embora ou não levo mais.”
P/1 – Eles estavam com quantos anos?
R – Em 2007, o Lucas estava com… A Joana sete. Oito, nove, dez, onze, o Lucas com doze anos.
P/1 – E o mais novo, a mais nova, com sete.
R – Com sete. É. O Lucas estava com doze pra treze. Aí eu falei: “Gente...”
P/1 – Você tem dois?
R – Tenho três.
P/1 – E a do meio, com quantos anos?
R – Então, o Lucas estava com treze, a Júlia com doze e a Joana com sete. Foi quando eu resolvi voltar para o Brasil, por essa questão de ser estrangeira.
É engraçado, tem uma história que eu sempre conto dessa minha... Teve uma vez que eu estava no Brasil. Eu morava em Milão e vim pra cá pro Natal; Natal lá era inverno e aqui era verão, então existia esse contraste de temperatura gritante. Quando a gente voltou pra Milão, eu lembro de sair daqui um sol, um azul, uma coisa linda. Entrei no avião, uma senhora sentou do meu lado e a gente começou bater papo. Ela tinha um filho único, era viúva, não tinha mais família nenhuma; era milanesa, não tinha família mais lá em Milão, já tinha perdido todo mundo e o filho se casou com uma brasileira, morava aqui no interior de São Paulo. Ela tinha um filho aqui com a brasileira, com netos, e ela falando que tinha uma casinha aqui no Brasil, mas que não arredava mão da terra dela, ela queria sempre voltar.
Chegamos em Milão, o avião aterrissa [às] três horas da tarde, que era a hora que a gente chegava lá. Ela abre a janela em pleno inverno, aquela neblina, que a gente não enxergava um palmo além da janela. Quando eu vi aquela neblina já me entrou aquela angústia, falei: “Ai, bem vindo a Milão.” (risos) A minha reação foi essa, a dela foi assim: “Ai, que saudades que eu estava dessa neblina.” (gargalhadas)
Então assim, essa questão da raiz é uma coisa muito forte dentro da gente, não tem como negar. O céu azul, eu lembro que eu vinha pra cá, ficava contemplando aquelas montanhas no Rio de Janeiro, com aquele contraste do céu azul, atrás, e eu ficava embevecida cada vez que eu vinha. Com paisagem que agora a gente se acostuma, mas que eu que era turista no Rio, eu ficava assim. Era uma coisa que me atraía, me puxava, tinha essa necessidade do retorno.
P/1 – E o Léo não tinha essa necessidade.
R – O Léo não, acho que não. Eu vejo ele muito inserido lá em Milão, hoje, sabe, eu vejo muito ele dentro. Acho que foi assim também enquanto o Léo jogava, ele era muito feliz jogando; acho que todos os jogadores passam um pouco por esse momento do parar de jogar.
Parar de jogar é muito complicado, porque é uma profissão que envolve um glamour muito intenso, muito grande. Você entrar no Parque de France, todo mundo falando o seu nome, ou no Saint Ciro, seja lá onde for, vestido com a camisa da Seleção Brasileira, enfim, são muitas emoções, são emoções muito fortes; quando o cara para ele vem sendo atropelado também, já vêm outros jogadores atrás, vão tomando o lugar. É uma pancada muito grande, e quando eles jogavam, eles tinham muito aquele prazer de viver, essa coisa que eles falam da resenha dos jogadores, de ficar batendo papo.
Eu não via esse mesmo sorriso no Léo quando ele era dirigente, eu o via muito mais conflituado, então eu me perguntava se… Aí acho que comecei a entrar num conflito também, de perguntar “o que eu estou fazendo aqui” enquanto ele estava feliz, estava num... Estava satisfeito. Acho que valia a pena essa distância da família, do Brasil e de tudo, mas depois eu comecei a achar que não valia a pena.
P/1 – E como foi essa conversa da separação? Com filhos, você querendo trazê-los pra cá. Como é que foi isso?
R – Na verdade, foi uma separação muito feita em doses homeopáticas. Não foi uma coisa assim: “Estou indo embora e nos separamos.” Quando eu falei de vir embora, ele me deu muita força pra vir, porque ele também se sentia muito incomodado das crianças italianas. E Milão é uma cidade que respira muito a moda, então as crianças começaram a entrar numa fase que queria a calça da Armani, não queria mais a calça da Zara, que queriam cintos não sei da onde, Dolce Gabbana, e Milão é muito assim, Milão existe essa...
(pausa)
P/1 – Bia, você estava contando que foi em doses homeopáticas essa separação e que tinha muito essa coisa também do Léo não gostar das crianças muito italianas. Você estava falando do clima de Milão, da moda...
R – Era uma lacuna que tinha, seja em mim, como nele, de querer que os nossos filhos fossem mais brasileiros. Nossos filhos, tadinhos, não eram frutos do meio.
Por exemplo, quando eles vinham pra cá, pra casa da minha mãe, as crianças ficavam de gozação com o português deles porque eles faziam traduções literais, do tipo… No italiano existe uma expressão [para] quando você está admirado, você fala: “No, non é vero.” E em português, se eles estivessem admirados com alguma coisa, a gente fala justamente ao contrário: “Mentira!” Então, quando em italiano você fala “não é verdade”, em português, não, e eles traduziam ao pé da letra. Quando eles estavam admirados com alguma coisa: “Não, não é verdade!” Aí ficava todo mundo olhando assim: “De onde saiu esse ET, né?” (gargalhadas)
As crianças não sentiam tanto isso, mas acho que a gente sentia muito mais por eles. E eu tinha muito esse desejo, também, deles conviverem mesmo com primos, com primas, porque foi uma coisa que eu... Fez parte da minha vida. E voltar para o Brasil, também incomodava o Léo um pouco isso. Então, quando eu resolvi voltar, ele foi super de acordo, principalmente em relação às crianças, falou: “Bia, vai porque vai ser bom pra eles também.”
Quando eu voltei, tomei essa decisão - por isso que eu falo que foi em doses homeopáticas -, eu achava que ele fosse voltar. Eu achava que no momento que ele fosse viver lá sozinho, e não feliz, como eu interpretava que ele não estava realizado profissionalmente, eu achava que ele fosse voltar. Mas aí ele não voltou, ele começou a ter mais espaço dentro do Milan e foi começando a ficar mais complicado, porque, enfim, a distância é complicada. Fica mais difícil mesmo. E aí foi acontecendo, a gente acabou se separando mesmo.
P/1 – E vocês se separaram... Você voltou em 2007...
R - 2007.
P/1 – E se separaram em?
R – Márcia, eu diria que a gente se separou em 2007. (risos)
P/1 – Bia, quando você voltou foi morar onde? Você tinha claro onde queria ir, o que você queria fazer?
R – Não, absolutamente nada claro. Só tinha claro que eu queria voltar para o Brasil. A gente já tinha um apartamento no Rio, a gente já tinha feito essa opção por morar no Rio. A gente também já tinha uma casa em Niterói, que a gente vendeu e nas férias, quando a gente vinha, a gente ficava nesse apartamento da Lagoa.
Na época, a gente ficou meio assim, voltar para Niterói ou não, se bem que... Não, tinha... As pessoas me perguntavam isso, mas eu nunca tive dúvida que queria ir para o Rio. Depois de ter rodado do jeito que eu rodei, eu não queria voltar para Niterói. Eu me acostumei muito com a minha independência, de ficar… De ter meu canto com os meus filhos. Niterói é uma cidade bem menor, mais provinciana, e eu sou muito urbana também, então em nenhum momento eu cogitei.
Voltei já de Milão com a ideia de fazer vestibular e faculdade de História, e foi o que eu fiz. Voltei em junho, em julho eu fiz vestibular e em agosto eu comecei as aulas.
P/1 – E por que História?
R – Por que eu sempre gostei de História. Eu gosto muito de História, acho interessante, mas é só por isso. (risos) Na verdade eu não tinha, como não tenho ainda, uma ideia clara do por quê [fazer] História. A única coisa que eu tinha clara é que eu não podia ficar em casa, e não queria ficar em casa, senão eu ia acabar surtando, entendeu? Eu falei: “Não, eu tenho que arranjar alguma coisa pra eu fazer.”
Eu sempre me meti com esse negócio de estudar, eu tinha vontade de voltar a estudar. Era uma lacuna que eu desejava. Eu tentei fazer faculdade em Milão, uma época, e não consegui, então era um desejo que eu tinha. E realmente, em dois meses que eu estava [no Brasil], eu já estava matriculada na faculdade.
Nessa época eu ainda não participava ativamente da Gol de Letra, ainda participava do mesmo jeito que eu participava em Milão. Vinha aqui, ali, assinava a ata e coisa e tal. E é muito engraçado, porque acho que as coisas acontecem no momento que têm que acontecer e são os sinais que a vida vai te dando também. Eu acho que se tivesse acontecido o terremoto que aconteceu na Gol de Letra em julho de 2007, quando eu voltei, acho que teria fechado a Gol de Letra no Rio, porque eu não teria estrutura pra assumir, depois, o que eu assumi. Mas aconteceu justamente depois de seis meses que eu estava no Brasil. Acho que a euforia de Brasil já tinha passado, entendeu? Eu já estava mais serena, meus filhos já estavam mais adaptados, eu já estava mais adaptada também, então eu já tinha estrutura psicológica pra assumir essa reconstrução da Gol de Letra.
P/1 – Por que a decisão de fechar Niterói e por que a ida pro Caju? É exatamente nesse período, um pouco que você está trazendo desse furacão que aconteceu.
R – Na verdade, nesse fechamento de Niterói eu não participava ainda dessa forma ativa como eu te falei. Foi uma coisa extremamente traumática, eu acho que a gente traz sinais até hoje, e aconteceu. O Raí tinha passado um ano em Londres, foi o ano de 2006 e enfim, o fechamento de Niterói foi o problema de grana mesmo. A gente ficou sem financiamento, não tinha como manter a estrutura, era uma estrutura grande, pesada, a gente não podia manter.
O Caju já tinha nascido nesse meio tempo. O Felipe, por exemplo, começa a trabalhar em Niterói, e depois a gente resolve entrar no Rio de Janeiro, uma decisão institucional, e o Léo, o Raí… A Tina já tinha se afastado um pouco na época, eu acho, e a gente... A gente tem que ir para o Rio, porque o Rio é a vitrine. [Em] Niterói a gente está muito escondido, se a gente for para o Rio talvez a captação seja mais fácil, a gente está com a cara na vitrine, as pessoas vão estar vendo a gente.
A ideia, essa decisão de ir pro Rio, na verdade, dentro da história da Gol de Letra, eu acho que a forma como ela foi feita foi a mais racional de todas, por quê? Por que aqui na Vila Albertina aconteceu, caiu de pára-quedas, a gente foi procurando um lugar, a gente não se baseou em nenhum dado para entrar na Vila Albertina. A gente viu um prédio abandonado e foi pra lá. E Niterói era um lugar que já era nosso, tanto que não deu certo, era longe das comunidades, então não foi assim uma... Não foi um grande sucesso.
O Caju não: quando a gente resolveu ir pro Rio, vamos pra onde? A gente se baseou nessa pesquisa da Firjan e aí o Felipe foi escalado. A gente pensou o Felipe, o tirou ele de lá do projeto de Niterói, e ele ficou durante um ano fazendo pesquisa em algumas comunidades, de acordo com a classificação do IDH [Índice de Desenvolvimento Humano], por essa pesquisa feita pela Firjan. Então eu acho que foi uma coisa muito mais técnica, muito mais baseada em dados reais. E o Felipe, dessas comunidades que ele visitou, ele viu que o Caju era a que menos tinha projetos sociais. Tinha um projeto uma vez que a gente foi visitar que se chamava Fábrica dos Sonhos, que acho que atualmente não existe mais também; fora esse, mais nada, é um abandono muito grande lá no Caju. E aí falou: “Bem, é aqui que a gente tem que estar.” A escolha do Caju foi em cima disso, da pesquisa da Firjan e dessa pesquisa feita pela gente, pela Gol de Letra. E começou, então, o Caju, a funcionar junto com Niterói.
A ideia, naquele ano - Niterói também já não estava correspondendo da forma como a gente achava -, era de, aos poucos, sair de Niterói e [ir] aumentando o Caju. A ideia era essa. Mas aí a gente teve que atropelar, por falta de grana. E eu lembro que o Raí quando foi pra Niterói, ele foi pra fechar tudo: pra fechar Caju, fechar Niterói, porque realmente não tinha essa disponibilidade de verba. Aqui em São Paulo a gente não tinha nenhum problema, pelas leis de incentivo estaduais e municipais. Isso é uma outra história.
Enfim, eu lembro que naquele momento eu falei... Eu brinco que convenci o Raí, no caminho do Santos Dumont até Itaipu, de não fechar o Caju. O Caju era uma estrutura muito menor do que Niterói, lá a gente tinha três professores enquanto que em Niterói a gente tinha uns vinte, então não era uma estrutura que era tão cara, tão pesada. Eu falei assim: “Raí, me dá um ano.” Porque se fechar não abre mais, eu pensei comigo, se fechar, pra depois reabrir...
P/1 – E você não estava atuando tanto.
R – Eu não estava atuando tanto. Eu já estava querendo atuar, já tinha entrado em contato com o Cesinha. Tinha pedido pra Cesinha fazer o meu cartão, já estava com esse plano de voltar mais - de voltar não, na verdade, praticamente de começar a atuar ativamente na Gol de Letra. Foi quando veio essa bomba, que foi muito ruim. E aí foi isso, eu comecei...
P/1 – Que bomba foi essa? (risos)
R – Essa bomba do fechamento de Niterói.
P/1 – Tá.
R – Porque foi uma bomba. A gente se deu conta muito tarde do que estava acontecendo. Os professores voltaram com o clima de fazer planejamento, chegaram lá e receberam essa notícia, que não era planejamento, era uma demissão coletiva. Então foi uma bomba.
P/2 – Foi 2007?
R – Foi 2007. Foi em fevereiro de 2007, isso. E aí, enfim, eu assumi o Caju, falei: “Me dá um ano.” No ano passado, que foi... Não, foi 2007...
P/1 – Não, foi 2008.
R – Foi 2008, fevereiro de 2008. O ano passado, em 2008, foi o ano de reconstrução física do Caju. A gente tinha uma verba disponibilizada, que só podia ser gasta com obra, e a gente fez uma obra que ficou super bacana, que vocês viram lá, porque até então o Caju estava muito desorganizado também. A aula de esporte era numa quadra da prefeitura, a computação era numa associação de moradores, as crianças ficavam rodando no meio da rua, naquela poeirada, com aquelas carretas pra cima e pra baixo, então a conquista desse espaço foi muito importante pra Gol de Letra também. A gente ficou praticamente o ano de 2008 nessa reconstrução física e da própria equipe também, a equipe ficou num trauma muito grande. E agora, hoje, eu acho que a gente já está “uuufff”, botando a cabecinha pra fora d’água. (risos)
P/1 – Bia, vamos voltar um pouquinho. Quando você traz a questão do Caju, que na verdade não é uma comunidade só, são várias comunidades...
R – Várias comunidades, oito comunidades.
P/1 – São oito comunidades. Como a escolha foi baseada nessa pesquisa de não ter nenhuma... IDH muito baixo, não ter nenhuma...
R – Projeto social...
P/1 – Projeto Social. Como foi a aceitação, e como foi feita essa aproximação com essas comunidades?
R – Até hoje um dos maiores desafios que eu considero num projeto social é a conquista da comunidade. Na verdade, a gente ainda está nesse processo de conquista, porque você chega num lugar onde as pessoas infelizmente estão acostumadas a ser maltratadas. Você chega com a proposta positiva, que está oferecendo coisa bacana, do bem; eles são muito defendentes. “Não, não é bem assim, que negócio é esse, o que você está querendo em troca?” Até você mostrar pro que veio e eles acreditarem e confiarem em você, isso é um enorme desafio, é enorme. Tanto é que no primeiro ano de Caju a gente teve oitenta por cento de evasão das crianças; no segundo ano a gente passou pra vinte por cento de evasão e hoje a gente tem lista de espera, que é o terceiro ano da Gol. Então, inicialmente, é uma coisa de realmente…. A gente não é político, não está aqui… A nossa intenção é só de trazer coisa boa, bacana, cultura. Mas é um desafio. Eu diria que é um desafio tão grande como a captação de recursos. (risos)
P/1 – E como é lidar com um problema tão pesado e tão grave como o tráfico, porque lá você percebe que o tráfico é muito forte.
R – É muito forte, porque lá no Caju a gente tem a situação de que existem todas as facções. Existe comunidade [em] que existe só uma facção, e lá no Caju não. O território do Caju é geograficamente dividido entre estas facções, e isso é uma coisa que inibe, a princípio.
Eu lembro do Felipe contar que quando ele estava nesse momento da pesquisa, ele foi abordado por um menino - menino, né, porque na verdade são todos meninos, com a arma na mão, tipo assim: “E aí, você está fazendo o quê aqui, meu camarada?” Aí o Felipe falou assim: “Quando você vir alguém aqui com essa camisa da Gol de Letra, é da Fundação. A gente está aqui em paz, estamos para fazer o bem, e a gente não quer lidar com essa situação. Enfim, ficam vocês no canto de vocês e a gente no nosso.” É assim, tem que existir um respeito, eu acho, mas não pode existir uma inibição.
Por exemplo, uma experiência que já esteve aqui em São Paulo, que a gente levou pro Rio. Quando a gente abriu as portas em São Paulo, abriram-se as inscrições, a gente recebeu uma carta de um dos traficantes daqui de São Paulo, de um dos líderes daqui que falava justamente: “Eu aconselho a vocês pegarem essas crianças.” Fez uma lista e foi o nosso primeiro grande embate. Aí a gente: “O que a gente faz agora?” Se a gente cede também, é ceder espaço; eles também entram e começam a manipular ali dentro. Então a gente falou assim: “Não, a gente vai seguir os critérios que a gente criou, que era o número de familiares.” Quanto maior o número de crianças, mais possibilidades teria, e a renda familiar. Seguimos os nossos critérios: da lista de dez, entraram, se encaixavam, três, quatro. Assim foi feito e foi o nosso primeiro... E existia o respeito, acho que ali a gente impôs também um certo respeito. Mas é claro que isso é um assunto muito delicado, que isso tem que ser sempre tratado de uma maneira muito… Lá no Caju, por exemplo, a nossa postura. A gente não tem uma... A gente não é ligado diretamente com eles, mas a gente manda os recados e eles mandam os recados.
No fundo, a minha visão pessoal dessa situação é que são pessoas que não tiveram oportunidades, são pessoas que não desejam isso pros filhos deles, e por isso respeitam o nosso trabalho. No Rio, principalmente - aqui em São Paulo eu não sei se esse dado condiz ou não, mas no Rio existe um dado que os meninos entre quinze e 21 anos estão desaparecendo dentro das comunidades. Quando não é a polícia que mata, eles se matam entre eles, e eles sabem, na verdade, que a perspectiva de vida deles é muito curta quando se metem no tráfico. Um traficante não pode mais sair, mas ele não quer mais isso pro filho, então por isso que eles respeitam, eles veem... Uma vez conquistado este respeito pela comunidade, eu acho que eles veem a Gol de Letra como um projeto social, como uma via de escape pros filhos, e por isso eles respeitam.
P/1 – Quem foram os parceiros que vocês estruturaram ou criaram dentro do Caju? Porque me parece que vocês estão dentro do espaço da OMS.
R – SOS.
P/1 – SOS. Eu cismei que era OMS. (risos)
R – SOS. Esses dois primeiros anos de Caju foram esses anos meio bagunçados. Os parceiros iniciais eram as associações de moradores, que cederam alguns espaços pra gente, e nesse meio tempo a gente estava buscando um lugar onde a gente pudesse se fixar.
Quando você está ali dentro, no meio, você começa a conhecer melhor. Foi quando apareceu esse SOS, que é um lugar do Rotary Club, Serviço de Obras Sociais, que já existe há 75 anos. pra gente foi um achado, isso, porque como ele existe há tanto tempo, ele é muito respeitado no bairro. E é um espaço neutro também. Não é nem de uma facção e nem de outra, enfim, um espaço neutro, então pra gente… Estava completamente abandonado, mais por falta de verbas, então foi uma parceria muito saudável, porque a gente chegou e revigorou um espaço que estava muito largado, e pro Rotary também foi muito legal.
P/1 – Bia, da equipe que vocês... Quem é que vocês trouxeram de Niterói pro Caju, da equipe que estava lá, e de uma certa forma tinha um conhecimento que nessa crise, acabou se perdendo? Quem vocês conseguiram...
R – Acho que na verdade o único que veio, que teve essa experiência de Niterói para o Caju, foi o Felipe. A gente até brincava que ele era o homem-caju. (risos) A gente falava assim, a gente o apelidou dessa maneira.
O Weber e a Michele, que ficaram, não chegaram a trabalhar lá em Niterói. Quando a gente contratou, eles trabalharam com a equipe de Niterói, porém nunca trabalharam em Niterói. Eles já foram contratados para o Caju, foi nesse período que funcionaram as duas unidades juntas. Mas o Felipe realmente saiu da equipe de Niterói e foi pro Caju, então eu acho que foi o único que viveu essa experiência.
P/1 – E quando você colocou pra gente, Bia… Quando você busca o Raí no Santos Dumont e durante esse período que você o convence a não fechar, tinha uma dependência financeira muito grande de São Paulo, nessa época?
R – É... Nessa época, a gente estava com o nosso fundo institucional quase zerado, mas [para] o Caju já existia um financiamento fechado, porque era com a Petrobras ainda, então a gente tinha um Caju garantido, entendeu? Foi por isso que eu… Acho que eu convenci o Raí também disso. Era um projeto muito mais leve, muito mais barato do que em Niterói, então foi por aí.
P/2 – Nesse um ano que foi falou pro Raí: “Me dá um ano pra gente tentar fazer alguma coisa.” Que resultados você poderia exemplificar pra gente?
R – Hoje eu diria assim, [que fiquei] muito feliz com os resultados que a gente chegou lá no Caju, nesse pouco tempo. É aquele negócio que eu falei um pouquinho atrás, que era uma outra história, porque aqui no município de São Paulo existem leis de incentivo, que financiam muitos dos projetos da Gol de Letra, é o FUMCAD [Fundo Municipal da Criança e do Adolescente].
Foi o grande argumento que o Raí passou para os professores pra questão do fechamento de Niterói, porque todo mundo [falou] assim: “Como assim, vai fechar Niterói mas São Paulo continua?” Mas é uma questão desses financiamentos através de leis municipais, que não existem no Rio por uma questão de briga entre Ministério Público… O Ministério Público emperrou, engessou a situação. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais do que é esse fundo, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, que no Rio não existe e em São Paulo vai de vento em popa, porque teria… Para você ter uma ideia de valores, hoje, por exemplo, São Paulo recolhe nesse fundo quarenta milhões de reais, o ano passado ele recolheu. O Rio recolheu trezentos mil reais, porque [o fundo] não existe, por uma questão pura de politicagem.
No ano passado a gente fez um ato público, por exemplo, na OAB, justamente falando da questão desse fundo, falando do absurdo que era essa situação. Saiu um artigo do Raí no Globo, enfim, foi uma bandeira que a gente levantou, que eu levantei, particularmente, justamente pelo trauma do Rio, de ter fechado Niterói. Sabe, assim: “Pô, [em] São Paulo o negócio funciona e aqui não.” Só que essas verbas não podem serem repassadas para o Rio porque são verbas municipais, também.
Você me perguntou se a gente dependia das verbas de São Paulo. As verbas são muito específicas mesmo. Agora, o viés que a gente partiu, lá no Caju foi a questão das leis de incentivo. Desde que a gente, desde que eu assumi, no ano de 2008 pra cá, a gente já teve três projetos aprovados. Cada vez que um projeto é aprovado, isso é uma massagem no ego da nossa equipe, e projeto aprovado é projeto incentivado, sabe? Então a gente teve uma aprovação no Ministério dos Esportes, já conseguimos um financiamento. A gente já teve uma aprovação no Ministério da Cultura, do Minc [Ministério da Cultura] e já temos o financiamento também. Tem um outro do ICMS, que está em vias de sair o financiamento.
Tudo isso foram coisas que são muito conquistas dessa nova equipe. Por que eu acho o seguinte, a gente não pode ficar eternamente dependendo dos instituidores. A Gol de Letra, aqui, existe há dez anos, no Caju existe há três. Nem todas as instituições têm o privilégio de ter instituidores conhecidos e famosos, mas acho que a gente tem know-how o suficiente para andar com as nossas próprias pernas. Então vamos andar, vamos pra onde? Lei de incentivo é uma coisa burocrática, chata, longa, mas que dá resultado, então eu acho que é um viés muito, uma saída importante para as fundações, de um modo geral.
P/2 – Quais são esses projetos?
R – Um projeto do Ministério do Esporte é o Jogo Aberto, que é o projeto mais voltado para o esporte mesmo. O outro é o Gol de Letrinhas, é o meu xodó, porque o produto final é um livrinho feito pelas crianças. Cada criança escreve uma historinha e ilustra aquela historinha. A gente imprime e manda pra outras escolas, a ideia é fazer uma tarde de autógrafos, onde eles vão estar autografando, então é um projeto que lida com arte, porque tem a questão das artes plásticas também. É um projeto que é o meu xodó.
Agora a gente está mandando, esse mês, um novo projeto que vai se chamar Gol de Cultura. O Tony Garrido vai ser o padrinho, é um projeto que envolve música, teatro e dramatização, que já mexe por um outro viés. Mas agora também, devido ao trauma, o processo é o quê? (risos) Manda-se, uma vez aprovado na lei de incentivo, consegue-se financiamento e depois [é] que a gente vai lançar o projeto, efetivamente. Então, a ideia do Gol de Cultura é ser lançado pra 2010.
P/1 – E Bia, do que dessa questão metodológica e ou mesmo dos projetos que existem em São Paulo, foram para o Caju? Os projetos, eles são...
R – Os projetos são muito similares. Claro que tem que existir um respeito às características da comunidade, então, por exemplo, o Hip-hop não pegou no Rio, porque no Rio é funk, é outra coisa, entendeu? Tem que existir essas adaptações, é um mínimo de flexibilidade pra se adequar a realidade de cada comunidade, mas basicamente é... A metodologia é exatamente igual.
P/1 – E Bia, me diz uma coisa: qual é hoje o seu papel? Você assumiu a Gol de Letra, assumiu o papel de diretora. Quais são, hoje, as suas funções, o seu papel dentro da Gol de Letra, no Caju?
R – A minha maior função, que eu diria, é de articulação. Eu represento a Gol de Letra no Rio de Janeiro, e é uma representação institucional que nunca existiu - também porque, aqui em São Paulo, o Raí sempre esteve aqui. No Rio a gente tinha o César, mas acho que não era também uma representação institucional. Então a minha maior busca é realmente essa de vigiar a unidade, de um modo geral, se contrata, se demite, enfim, se está funcionando, se não está funcionando.
Dou os meus pitacos na área pedagógica, mas é muito a cargo do Felipe, eu respeito muito e confio muito nele também, e é mais nessa questão mesmo, na parte de articulação e captação. E captação, buscar empresas, aí eu vou à reunião, apresento a Gol de Letra. É um pouco isso.
P/1 – Como é que você avalia a sua trajetória na Gol de Letra, Bia?
R – Eu avalio que foi uma coisa muito ascendente, porque eu entrei de uma forma tímida, digamos assim, e depois foi crescendo, com a minha participação com a vinda aqui pra São Paulo. Também quando eu voltei pra Milão, na verdade, a Associação Gol de Letra me deu muita bagagem, porque eu estava sempre em contato com as pessoas daqui. E agora, eu diria que no Caju eu realmente assumi, de corpo e alma. Eu lembro até que a primeira reunião que eu fiz - a minha equipe era de três pessoas, que eram o Felipe, o Weber e a Michele -, ainda brinquei e falei assim: “Olha, gente, qualquer dúvida, vocês não me perguntem, porque eu também não sei de nada.” (risos) Então foi uma equipe que cresceu junto.
Hoje nós somos quinze pessoas. Foi uma reestruturação, uma reconstrução total. Eu cresci junto também, só que com a diferença que eu participei do sonho, eu participei da parte embrionária da Gol de Letra. Isso eu acho que dá essa diferença, entre mim e o resto da equipe, talvez.
P/1 – Eu vou tocar em alguns assuntos delicados, agora, mas eu acho que é importante, até pra gente entender. Como se dá a saída do Wilson, que foi dentro desse... Dessa crise. Ele era o diretor. Como é que se dá isso e como é que...
R – O Wilson é uma pessoa que eu respeito muito, e gosto muito dele pessoalmente também, agora é sempre traumático, entendeu? Do jeito que foi, ninguém saiu feliz. Eu respeito cada profissional daquele, e acho que todos têm os seus motivos pra realmente terem saído chateados da Gol de Letra.
Acho que a gente talvez tenha tido um deslize de ter deixado passar muito tempo, então, como eu falei, os professores estavam voltando com atmosfera de planejamento e de repente receberam essa bomba. Eu não posso querer, diante desse panorama, que as pessoas aceitem tudo e achem bacana: “Legal, vamos fechar.” Porque isso atinge diretamente na vida pessoal delas também. Eu não posso querer que as pessoas saiam felizes, mas eu acho que toda separação é traumática. Acho que depois que passa o trauma, consegue-se enxergar com mais clareza o quanto foi bacana também o tempo que durou.
Acho que o tempo que o Wilson ficou lá foi um tempo extremamente importante para a história da Gol de Letra. Hoje eu tenho um profissional do quilate que é o Felipe, eu devo isso muito ao Wilson, porque o Felipe chegou recém-formado na Gol de Letra. A bagagem que ele tem hoje, o Wilson é um grande personagem, importante na formação dele. Depois desse um ano e meio de conviver intensamente como Felipe, eu o admiro cada vez mais, o jeito dele lidar para com as pessoas, a sensibilidade que ele tem, e o profissionalismo que ele tem quando tem que escrever um projeto, quando tem que fazer uma coisa metodológica e pedagógica também. E eu acho que o Wilson tem muito mérito nisso, nessa formação dele.
P/1 – Qual que foi a fase mais marcante que você vivenciou dentro da Gol de Letra, já que você está dentro aqui pra dar...
R – Só voltando um pouquinho ao Wilson, que é uma coisa que… Eu lembro que a gente fechou em fevereiro. Quando foi, eu acho que naquele momento, falar com o Wilson, qualquer tipo de coisa parecia que eu estava querendo provocar. Então eu lembro que depois, seis meses depois, em junho, julho, não sei, eu liguei para o Wilson, pessoalmente, para agradecê-lo. Falei: “Wilson, esperei a poeira assentar um pouco, mas eu queria te agradecer, inclusive agradecer pela questão do Felipe.” E ele me recebeu muito bem, eu lembro que ele falou: “Bia, eu não podia esperar outra coisa de você.”
Eu falei: “Olha Wilson, queria dizer que você foi uma pessoa importantíssima na Gol de Letra, acabou do jeito que acabou, mas eu te agradeço tudo o que você fez pela Gol de Letra.” Então, eu não sei, mas é... Eu não tenho mágoa dele, eu acredito que ele tenha da Gol de Letra, e não tiro a razão dele. Não tiro mesmo.
Desculpa, volta a pergunta.
P/1 – Não, não. Não tem problema. Eu achei importante, até porque isso, o Felipe traz muito isso, de um reconhecimento em relação ao Wilson, pela formação dele. E eu achei importante ver qual que era a visão da Gol de Letra, aí estou falando institucionalmente para com isso.
Eu queria que você falasse qual foi a fase mais marcante que você vivenciou dentro da Gol de Letra e por que.
R - Tem muitas fases marcantes. Por exemplo, essa fase que eu passei em São Paulo, que na verdade eu fui... Foi uma overdose de Gol de Letra que eu tive na minha vida, tinha a Zélia, e foi uma fase muito intensa de Gol de Letra. Eu diria que foi uma fase marcante, de muito aprendizado, de entender realmente o bê-a-bá da Gol de Letra, de carregar muito a minha bagagem. Foi uma fase importante, essa, que foram esses seis meses aqui em São Paulo.
Acho que a coisa mais marcante, que eu acho que está mais à flor da pele agora, foi essa reconstrução do Caju, que foi também uma... Acho que pessoalmente, para mim, foi uma conquista muito boa. Porque foi um desafio que eu enfrentei, que eu comprei a briga, e eu acho que eu estou dando conta dele. Então, eu acho que isso realmente é uma… Foi uma fase gostosa, sabe? Como em abril, que a gente inaugurou o centro lá, e foi uma inauguração super bacana, contando com o Gilberto Gil, Malu Mader, o Tony Garrido, o Ziraldo, enfim, são conquistas muito dessa fase. Realmente, essa fase é o que mais me marca.
Foi a fase que eu acho que eu participo, como eu falei, de corpo e alma. Hoje, se você me pergunta alguma coisa sobre a unidade Caju, eu te respondo com conhecimento de causa; se você me pergunta da fase inicial, já não tenho tanto conhecimento de causa. Mas hoje eu participo intensamente de tudo o que acontece.
P/2 – E teve alguma atividade, durante esse tempo que você assumiu de fato o Caju, que você destaca como é importante, que você tenha presenciado?
R – Teve duas atividades. Uma logo no início, quando a gente ainda estava em reforma. A gente tem esse projeto que é o Gol de Cidadania, que envolve a comunidade, a gente tira um sábado inteiro de atividades. Esse Gol de Cidadania, o primeiro, foi muito legal, foi atípico, eu diria. Foi justamente pra massagear a nossa alma e dar ânimo para continuar. Porque não era para ser daquele jeito, a gente não tinha a comunidade muito conquistada, eu acho, mas teve um público enorme, foi uma participação super bacana, a gente conseguiu... A Natura foi, o Senac foi, teve uma oficina de reciclagem de alimentos, que as mães, as mulheres aprendiam a fazer bolo de abóbora com a casca da abóbora. Foi uma oficina de culinária superlegal. Teve bombeiro que deu palestra de acidentes domésticos, enfim, foi um dia muito legal, e foi uma conquista muito bacana, esse dia.
Eu diria que a Festa Junina, que a gente teve agora, foi um outro dia muito legal. Eu falei com a equipe assim: “Hoje eu senti a equipe afinada, porque 2008 foi um ano de muita reconstrução física e da própria equipe também.” Nessa Festa Junina, ali, naquele momento, tudo aconteceu muito redondinho, deu tudo muito certo. Estava cada um com as suas funções, com as coisas específicas e tudo foi muito legal. Então eu acho que é assim, que é um momento que a equipe está se afinando. É bacana de ver, é uma conquista isso também.
P/1 – Me diz uma coisa, Bia. O que você atribui de uma evasão de oitenta por cento, cair hoje para uma fila de espera, no sentido de... Qual foi a pegada, vamos dizer assim, pra que...
R – Eu acho que a inauguração da sede foi uma coisa muito importante, porque concretizou na cabeça das pessoas que a gente estava ali pra ficar, que a nossa intenção não era uma coisa passageira. Eles viram a gente investindo ali, a gente reformou uma quadra, reformou um campo, reformou a sede toda, reformou o escritório, então isso deu uma segurança para a comunidade de falar assim: “Opa, eles estão fazendo uma coisa bacana, vamos lá ver o que é isso.” E realmente eu acho que o boca a boca, as crianças que participavam, começaram a participar do projeto, passavam pra outras e ter o feedback das escolas também. Agora a gente está numa… Em vias de uma parceria com o poder público, e se sair vai ser uma coisa muito legal também, de estar entrando mesmo nas escolas públicas ali da região, então acho que é essa conquista mesmo, é o dia a dia... Mas acho que essa questão da sede foi um upgrade importante.
P/1 – E qual o tamanho da equipe hoje?
R – A gente tem umas quinze, dezesseis pessoas, por aí, não chega a vinte. Talvez tenha até um pouco mais de dezesseis.
P/1 – Como você vê a atuação da Gol de Letra como referência para o Terceiro Setor? Ou a atuação dela no Terceiro Setor, qual o papel dela?
R – Eu acho que a gente tem… Acho que a gente virou uma referência do Terceiro Setor. Era até um dos objetivos iniciais, porque há dez anos, quando a gente fundou a Gol de Letra, não existiam tantas fundações assim. O objetivo do Léo e do Raí, inicialmente, que era usar a força do futebol pra isso, eu acho que eles atingiram, porque atrás da gente vieram vários projetos, se baseando no nosso, do mesmo jeito que a gente se baseou no Morro Azul. Só que talvez o nosso tenha uma repercussão maior, pelos instituidores serem quem são. Isso eu acho uma responsabilidade muito grande, mas que a gente assume muito isso também.
Essa questão, por exemplo, do Fundo do FIA, que é uma bandeira que a gente comprou. A Lei do Aprendiz, que foi uma compra da Gol de Letra também, eu acho que são questões políticas onde a gente se mete e a gente acredita, e a gente tem uma repercussão positiva. Quando se fala em Gol de Letra as pessoas param para ouvir, sabe? Lá no Rio, que existe só há três anos, às vezes quando eu vou num lugar ou outro: “Eu sou diretora da Gol de Letra.” “Ah, que bacana, que legal.” Acho que a gente tem uma imagem bacana, uma imagem positiva, mas a gente tem conhecimento disso também.
P/1 – E como você vê a Gol de Letra daqui a cinco anos, Bia? Estou falando do Rio, tá?
R – Mais o Rio, especificamente? Eu acho que esse ano de 2009 que a gente está... Eu diria que o ano passado foi um ano de reestruturação física, esse ano está sendo um ano de reestruturação de captação e de equipe mesmo, e eu tenho umas perspectivas muito positivas para a Gol de Letra.
Eu acho que a gente está começando a ter umas entradas muito boas no poder público, o que eu acho muito importante, também, porque não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. Esse link entre poder público e as fundações, eu acho que é super importante, eu acho que é unir forças, e a gente está com umas entradas legais. Eu vejo que a gente tem sido cada vez mais convidado para participar de congressos, recebendo cada vez mais visitas, e uma coisa puxa a outra.
Daqui a uns cinco anos eu acredito que a gente se torne uma referência importante dentro do Rio de Janeiro. Hoje em dia, eu não acredito que a gente seja ainda uma referência importante. A gente está lá só há três anos, então tem muita gente que fala assim: “Mas vocês estão no Rio? Achei que fosse em Niterói.” Ainda existe essa confusão. Então eu acredito que esses próximos anos vão servir justamente pra gente solidificar um trabalho, concretizar e as pessoas saberem que a Gol de Letra existe no Caju.
P/1 – Eu queria que você falasse pra gente se tem alguma história, e aí eu estou falando de exemplos, de uma história de alguma criança ou adolescente, que marcou muito da atuação de vocês. E que pegou vocês, uma história de uma criança que realmente foi muito afetada pela ação de vocês.
R – Quem mais me marcou foi o Vanderlei daqui de São Paulo, que participou do workshop. A gente tem até agora… Eu acho assim, com educação a gente não tem resultado imediato. A gente não pode querer que a criança se transforme em um ano, é uma coisa a longo prazo, então eu acho que tem muitos resultados que ainda estão por vir, lá no Caju. A gente tem três anos de trabalho, então é uma coisa muito embrionária ainda.
Tem o Tiago, por exemplo, que é uma gracinha, que é monitor da Gol de Letra hoje. Mas que mais me marcou foi o Vanderlei porque… Em vários momentos eu falei, eu dava palestra sobre a Gol de Letra na Itália e falava muito do Vanderlei. Isso tornou-se íntimo meu, porque... Ele estava no workshop, você lembra dele, né?
P/1 – Lembro.
R – O Vanderlei foi esse caso típico daquela peste de menino, que entrava, que tocava um rebu danado e que se transformou dentro da Gol de Letra. Hoje ele está num nível que chegou assim, de terno... Quando eu encontrei o Vanderlei naquele dia, lá na Vila Albertina… [Quando] eu cheguei lá, algumas pessoas eu conhecia, outras eu não conhecia, então eu ia me apresentando: “Eu sou a Bia do Rio, sou a Bia do Rio.” E eu vi aquele menino de terno, gravata, brinquinho: “Tudo bem? Eu sou a Bia do Rio.” E ele também não me reconheceu. “Ah, eu sou Vanderlei.” “Vanderlei? Você é aquele Vanderlei? Pô, Vanderlei, me dá um abraço, cara, eu falo de você a torto e direito, pra todo mundo, conto o seu caso pra todo mundo. Você chega aqui e fala: “eu sou Vanderlei”, não, pô, vem cá“ (risos)
Foi um caso que a gente relatou com números. A gente tem todos os dados dele, desde que ele entrou, desde que ele saiu, tudo o que ele atingiu. Números, que eu digo assim: eu lembro que existia, no caso dele, a renda familiar; quanto era, quanto passou a ser, no momento que ele passou a ser monitor da fundação, que ele passou a atuar com o Evaldo Vercaso, o quanto isso melhorou a renda familiar da família, então...
P/1 – Você tem esses dados, só pra gente deixar registrado? Não.
R – Não, mas eu tenho escrito esse caso Vanderlei, eu o tenho por escrito. Era um caso que lá, em Milão, na época da associação, sempre que me perguntavam, era o exemplo que eu dava. Era sempre uma pergunta muito clássica, então o Vanderlei era o meu caso. Eu ia já com os dados, e aí sim, eu tinha os dados pra falar e era sempre a mesma coisa, que cativava muito as pessoas, sensibilizava muito.
Tem o Dodô, também, que é outro caso, um menino que trabalha atualmente na fundação e está fazendo USP. Ele fez todo o Programa Virando o Jogo, atualmente ele trabalha na fundação e está fazendo faculdade de Informática na USP. Ele é um doce de menino também, e também cativa muito esse jeitinho dele. Eu também acho que a Gol de Letra contribuiu muito para a trajetória dele.
P/1 – Bia, se você pudesse traduzir a Gol de Letra em algumas palavras, ou numa imagem, que imagem ou palavra seria essa?
R – Então, uma imagem só é... Talvez seja pouco. Eu tenho algumas coisas, algumas frases que marcaram. Acho que a trajetória da Gol de Letra… É uma imagem que eu tenho na cabeça, acho que foi o nosso primeiro vídeo institucional, que lá em Niterói tinha esse ônibus que circulava pra buscar as crianças. O vídeo termina com um menino subindo o ônibus, fazendo assim para trás, aí falando assim: “Sonhar é o primeiro passo para se construir uma realidade.” Essa frase acompanhou muito a gente no início, porque tudo partia de um sonho. Essa questão do sonho sempre acompanhou muito a trajetória da Gol de Letra. Eu já acho que não é mais sonho, é realidade.
Uma outra frase que acompanhou muito o meu percurso, principalmente lá em Milão, que eu falava muito, é uma frase do Jorge Amado, que ele define… É a definição de pobreza, ele fala que: “Pobreza é a falta de oportunidade do homem desenvolver os próprios talentos.” Eu falava muito isso, que a Gol de Letra estava ali justamente para dar a oportunidade para essas crianças, porque às vezes a criança tinha um talento, como o Vanderlei, um talento pra dança e se não existisse a Gol de Letra na vida dele, ele jamais poderia ter descoberto isso. Então faltava aquela oportunidade.
Jorge Amado, não dá nem para contestar muito. (risos) Mas acho que ele foi muito… Acho que esse momento, dessa definição dele sobre pobreza, foi uma coisa muito lúcida, muito clara e muito bacana. Por isso que eu usava tanto essa frase dele, eu traduzi essa frase para o italiano e a usava sempre.
A Gol de Letra ela é justamente isso, ela é esse espaço da oportunidade, da criança ter a oportunidade de ter um livro na mão, da criança ter uma oportunidade de ter um computador na mão, de poder estar em contato com a arte, estar em contato com a música, estar em contato com esporte, com a dança, e aí sim, poder escolher para onde vai. Eu acho...
P/1 – Traduz essa frase pra mim, pra gente deixar gravado em italiano.
R – Em italiano? “La povertà è la mancanza di opportunità per gli esseri umani a sviluppare i loro talenti.” (risos)
P/1 – Bia, eu queria que você falasse pra gente um pouco… Você trouxe muito dessa coisa do marcar, e o que a Gol de Letra te ensinou para você, enquanto pessoa?
R – Ah, isso é uma coisa… Acho que muito, sabe? Acho que a gente, no final das contas, quando faz um trabalho desse, ganha mais do que dá. Você vê a transformação das crianças, da equipe e as conquistas que são feitas, e isso é uma coisa que não tem preço, não tem nada que seja mais gratificante do que isso. Fico muito feliz de ver foi essa coisa que…
No início do depoimento, comecei falando da vocação do brasileiro de ser feliz. Às vezes a gente dá, nem tanto assim, e as crianças já se rendem tanto, já estão assim tão gratas, isso é uma coisa muito boa. É você poder participar de uma mudança na vida daquela pessoa, de criar oportunidades mesmo. Isso é uma coisa que não tem preço. A gente só se dá conta quando não tem, porque quem não tem não pode dar valor.
P/1 – E Bia, seus filhos se envolvem hoje na Gol de Letra?
R – Eles se envolvem. A Gol de Letra, na verdade, faz parte da vida deles, desde que eles nasceram. (risos) É mais ou menos a idade deles, também. Por exemplo, a Joana é uma que foi na festa Junina comigo, ela vai, participa; o Lucas, quando vai, joga também.
Uma coisa que eu gosto, que eles participem, até pra eles poderem fazer essa comparação, de quanta oportunidade eles têm na vida a mais que outras crianças da mesma idade deles. Acho que eles se envolvem, sim, eu busco passar muito isso pra eles também.
P/1 – E como é a convivência hoje do Léo, como está a participação dele hoje com a Gol?
R – A participação dele continua sendo como tem sido nos últimos anos. Agora, por exemplo, lançaram uma camisa dele retrô do Flamengo, da época de 87, e ele destinou a verba para a Gol de Letra. O lançamento foi feito lá na fundação. Sempre que ele pode, ele fala da Gol de Letra em entrevistas. Quando ele pode captar algum tipo de recurso, lá na Itália, ele está captando também. Na verdade, é o papel que ele tem feito nos últimos anos, mesmo.
P/1 – E como está a convivência dele hoje com os teus filhos, Bia, nessa coisa de você ter trazido… Agora eu vou começar a trazer um pouquinho pra vida pessoal. Vocês vieram pra cá faz praticamente dois anos.
R – Dois anos.
P/1 – Como está essa convivência dele?
R – Eu acho que é assim, não dá pra negar que existe um traço de sofrimento, seja da parte dele seja da parte das crianças, mas eu diria que, entre mortos e feridos, estão... Salvaram-se todos. (risos) Eu vejo as crianças mais plenas aqui no Brasil. Eu os vejo mais completos, mais felizes, mas de morarem aqui. Isso justifica, talvez, um pouco e quão forte, talvez, a ausência do pai.
Mas o Léo, sempre que pode, ele vem, ou as crianças vão pra lá. Eles acabaram de vir de lá, ficaram com a gripe suína, foram ficar uma semana com o pai. E eles se falam constantemente ao telefone, mas não é a mesma coisa, claro que não é. Não existe o toque, não existe o olhar, não existe o calor, mas o carinho, o amor existe. Claro que existe sim essa questão da distância, causa uma certa… Um certo sofrimento, mas enfim.
P/1 – E você conseguiu resgatar esse convívio deles com os primos, com todos, ou seja, aquela infância tão maravilhosa que me parece que você teve, você conseguiu hoje fazer que eles tenham?
R – Eu acho que eu estou nesse caminho, sim. Minha casa é uma casa… Eu tô fazendo da minha casa, hoje, o que eu tive na minha infância. Essa semana, por exemplo, foi uma… Não queriam aglomerar nas escolas, mas aglomerou lá em casa, porque foi uma alta circulação de crianças lá em casa. (risos) No final de semana dormem sempre duas, três crianças; meu sobrinho está lá a semana inteira, agora. Então eu acho que está acontecendo sim esse resgate. É isso que me dá um conforto deles estarem longe do pai.
P/1 – Bia, a gente começou falando aqui de um sonho que essas famílias acabaram construindo. Eu queria te fazer um pergunta bem concreta: qual é o seu sonho hoje?
R – Meu sonho hoje? Olha, é... Acho que eu não posso ter a pretensão, como a gente uma vez teve, de querer mudar a realidade do Brasil. Eu lembro quando a gente começou a sonhar com a Gol de Letra, existia essa pretensão: “A gente vai conseguir, vamos lá.” Todo mundo novo também, todo mundo mais jovem (risos), então eu acho que não existe essa pretensão. Mas uma pretensão de querer colaborar para uma mudança, eu tenho essa pretensão. Eu tenho essa pretensão de colaborar para mudanças efetivas. Efetivas que eu falo, por exemplo, essa questão do Fundo Institucional do Rio de Janeiro, é uma coisa que me incomoda profundamente e que eu continuo ali na luta, e é uma luta muito política, isso. Acho que é uma coisa que… Não só a Gol de Letra vai ganhar, mas todas as instituições do Rio de Janeiro vão ganhar, então eu acho que isso é uma pretensão que eu tenho uma pretensão que eu posso ter, eu acho, e eu tenho até obrigação de ter, pela representação, pela representatividade que existe da Gol de Letra. Eu sonho [em] poder colaborar para poder melhorar.
P/1 – E qual está sendo o entrave? Qual é a sua dificuldade, a maior dificuldade em fazer com que o FUMCAD realmente seja efetivo dentro do Rio de Janeiro?
R – O que acontece no Rio de Janeiro é uma interpretação do Ministério Público, que é a questão da doação casada. Aqui em São Paulo chama-se FUMCAD.
A Société Générale, por exemplo: ela doa para a Gol de Letra através do FUMCAD daqui de São Paulo, então ela resolveu doar um por cento do imposto de renda dela. Ela pode escolher qual a fundação [para] que vai doar, e aí ela escolheu a Gol de Letra. A Société Générale, principalmente, além de escolher a Gol de Letra, ela visitou a Gol de Letra, antes de escolher. Previamente, a gente mandou o nosso projeto para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para ser aprovado. Então não é que não existe um controle. Existe um banco de projetos e a empresa escolhe qual a fundação [para] que ela quer doar. Acho que isso cria um link entre o Segundo Setor e o Terceiro Setor, porque a Société, atualmente, é uma parceira nossa em outros projetos.
Existe uma fiscalização, além do CMDCA [Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente], da própria empresa que está financiando. Acho também [que] quanto mais fiscalização… Tem que ter mesmo, quem não deve não teme, acho que é por aí, então funciona, você vê que a coisa funciona aqui.
No Rio, o que acontece? O Ministério Público não permite a doação casada. Permite que a empresa doe para o Fundo, mas não permite que escolha qual fundação que vai ser. Quem decide isso é o próprio governo, lá. E aí a empresa não confia e não doa. É uma questão de interpretação da lei, e o Ministério Público emperra essa situação. É uma coisa que eu tenho articulado muito para tentar mudar.
P/1 – E como é que você tem feito isso, Bia?
R – O primeiro passo que a gente deu foi esse ato público que a gente realizou na OAB em maio do ano passado. A gente contou com a participação do presidente da OAB, do presidente da Firjan, do presidente da Associação Comercial, de um advogado do Terceiro Setor, um representante do Conanda [Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente], a Presidente do CMDCA, e mais o Raí. Tentando mobilizar a sociedade civil, a gente convidou várias fundações. A gente tenta tornar isso público para as pessoas, para que conheçam isso; saibam tudo o que está acontecendo para poder existir uma mobilização.
O que eu tenho feito, mais efetivamente, é partir para o poder público mesmo. As secretarias desconhecem o que está acontecendo, então a gente, eu tenho tentado articular entre a Secretaria de Educação, Assistência Social, para que eles tomem conhecimento da situação e que a coisa mude.
Aqui, na verdade, em São Paulo, mudou quando o Serra era prefeito. Ele que assumiu, comprou a briga e mudou. E é uma coisa gritante, os números da época que mudou. Pulou de uma arrecadação de quatorze milhões para vinte milhões, depois quarenta milhões. Quando a gente fez o ato público, a gente convidou todos os prefeitáveis, na época. E eu acho que tem que ser por aí: tem que unir, tem que botar o poder público para fazer a parte deles. A gente tem essa força, essa entrada a gente consegue ter.
P/1 – Bia, pra encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um trabalho como esse, de registrar a memória da Gol de Letra.
R – Eu, como historiadora, sou até suspeita. (risos) Acho que o importante disso é justamente para servir de exemplo. Não de exemplo, talvez seja muita pretensão, mas para estimular que outros trabalhos surjam depois daí. A gente ter o orgulho de publicar um trabalho desse, eu acho que pode ser o ponto de partida para outras pessoas fazerem.
Como eu falei antes, a gente não pode ter a pretensão de querer mudar um quadro social no Brasil, mas talvez, se a gente servir de estímulo, isso se multiplique; eu acho que a gente já pode vislumbrar maiores mudanças. Inicialmente, a gente tinha uma pretensão de ter milhões de Gol de Letra espalhadas pelo Brasil inteiro, hoje talvez a gente já não tenha mais essa pretensão, mas a pretensão sim de servir como pano de fundo, como base para outros trabalhos, que outros trabalhos possam vir a acontecer. Isso, eu acho que é importante ter. Aí sim, um monte de gente juntja pode tentar, quem sabe a gente consiga mudar muitos Vanderleis da vida. Mudando uma pessoa, duas, eu acho que isso já é uma… Já é um feedback, um retorno muito positivo pra gente.
P/1 – E pra finalizar, o que você achou de participar dessa entrevista?
R – Eu acho muito bacana esses resgates. Acho que são sempre muito importantes; seja na vida pessoal, como na vida profissional, eu acho que resgatar e registrar é sempre muito importante. Foi uma experiência válida, essa iniciativa foi uma iniciativa muito boa. Eu acho importante.
P/1 – Queria te agradecer, Bia, pela participação, em nome do Museu da Pessoa e da Gol de Letra. Obrigada. (risos)
R – Obrigada a vocês.
Recolher