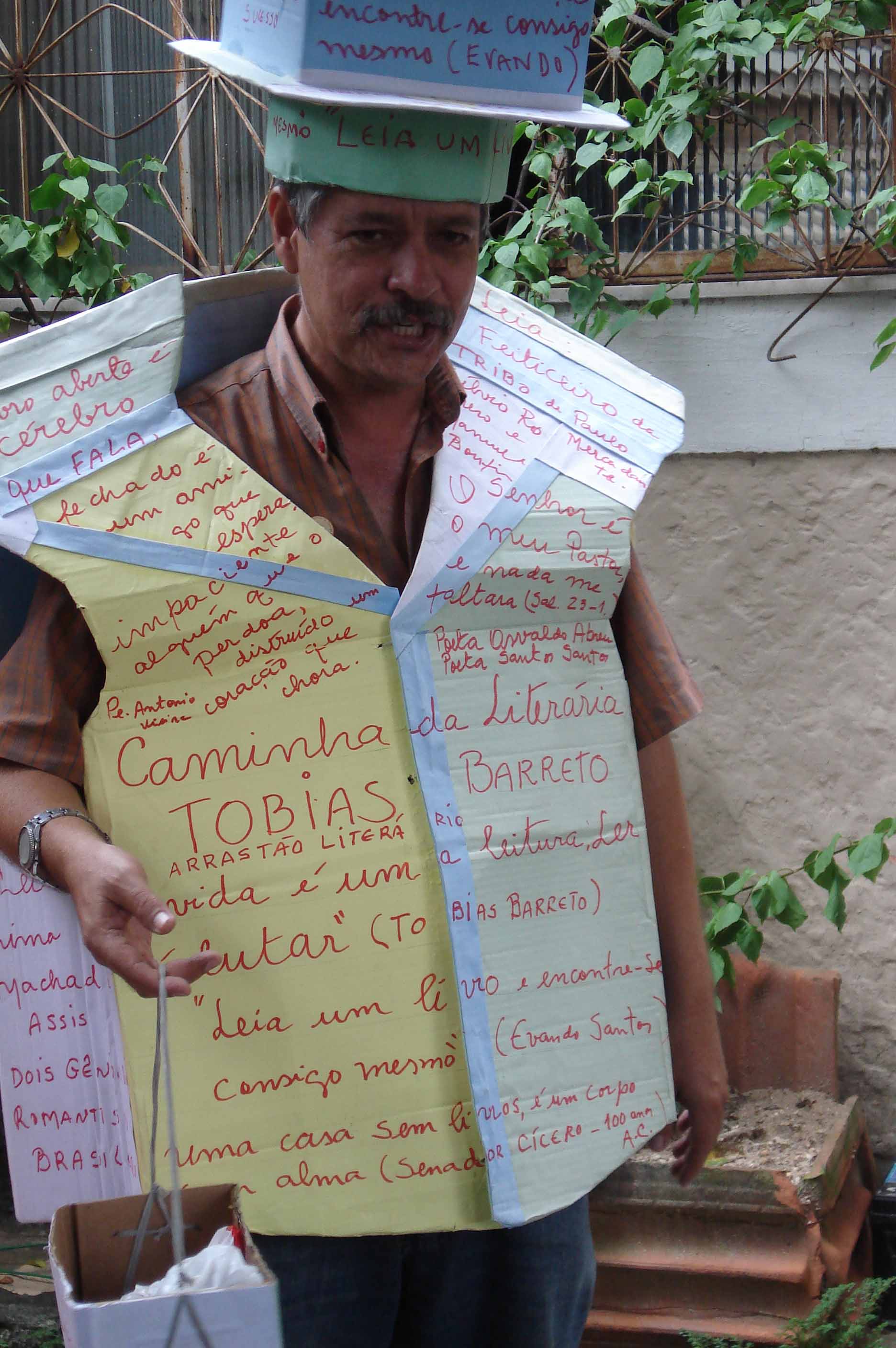P/1 - Boa tarde, Stephanie, tudo bem?
R - Tudo bem.
P/1 - Então, vamos começar pela pergunta básica: seu nome completo, local e data de nascimento.
R - Eu sou Stephanie Caroline da Silveira Borges, nasci no Rio de Janeiro (RJ) no dia 29 de outubro de 1984.
P/1 - Qual o nome dos seus pais?
R - A minha mãe chama Tânia Conceição da Silveira Borges e meu pai se chama Celso Gomes Borges.
P/1 - Você tem irmãos, Stephanie?
R - Tenho. Eu sou a mais velha. Tenho uma irmã três anos mais nova que eu, se chama Jenifer Louise da Silveira Borges.
P/1 - E qual a ocupação dos seus pais, Stephanie?
R - A minha mãe é professora. Durante muito tempo, ela trabalhou aqui... Ela ainda trabalha, né, na rede municipal, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou um tempo lecionando, depois trabalhou um outro período como diretora, numa escola, e hoje em dia ela trabalha na coordenadoria regional, que é central, que organiza a parte burocrática do funcionamento das escolas. O meu pai era oficial da Marinha Mercante, mas faleceu em dezembro de 1987. Eu tinha três anos. Tinha acabado de fazer três anos e ele faleceu num acidente, inclusive, no trabalho, no navio.
P/1 - Eu vou começar a conversar um pouco sobre a sua infância. Você se lembra da casa onde você passou sua infância, Stephanie?
R - Sim, (risos) eu me lembro. Na verdade, é engraçado porque, quando eu lembro da minha infância, eu não me lembro só da casa onde eu cresci. Eu cresci num apartamento aqui em Irajá (bairro do Rio de Janeiro). Não moro muito longe do lugar onde eu cresci, na verdade. Hoje em dia, eu moro no Rio de Janeiro, num bairro vizinho, mas, assim, são quinze minutos a pé do apartamento onde eu cresci. E, por acaso, a minha irmã mora lá, que, enfim, o imóvel ficou pra família. A gente se mudou pra uma outra casa, mas ela, hoje em dia, vive lá. E era um apartamento de dois quartos. Aquela casa, né: minha mãe, eu e minha irmã, durante um tempo; a mãe da...
Continuar leituraP/1 - Boa tarde, Stephanie, tudo bem?
R - Tudo bem.
P/1 - Então, vamos começar pela pergunta básica: seu nome completo, local e data de nascimento.
R - Eu sou Stephanie Caroline da Silveira Borges, nasci no Rio de Janeiro (RJ) no dia 29 de outubro de 1984.
P/1 - Qual o nome dos seus pais?
R - A minha mãe chama Tânia Conceição da Silveira Borges e meu pai se chama Celso Gomes Borges.
P/1 - Você tem irmãos, Stephanie?
R - Tenho. Eu sou a mais velha. Tenho uma irmã três anos mais nova que eu, se chama Jenifer Louise da Silveira Borges.
P/1 - E qual a ocupação dos seus pais, Stephanie?
R - A minha mãe é professora. Durante muito tempo, ela trabalhou aqui... Ela ainda trabalha, né, na rede municipal, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou um tempo lecionando, depois trabalhou um outro período como diretora, numa escola, e hoje em dia ela trabalha na coordenadoria regional, que é central, que organiza a parte burocrática do funcionamento das escolas. O meu pai era oficial da Marinha Mercante, mas faleceu em dezembro de 1987. Eu tinha três anos. Tinha acabado de fazer três anos e ele faleceu num acidente, inclusive, no trabalho, no navio.
P/1 - Eu vou começar a conversar um pouco sobre a sua infância. Você se lembra da casa onde você passou sua infância, Stephanie?
R - Sim, (risos) eu me lembro. Na verdade, é engraçado porque, quando eu lembro da minha infância, eu não me lembro só da casa onde eu cresci. Eu cresci num apartamento aqui em Irajá (bairro do Rio de Janeiro). Não moro muito longe do lugar onde eu cresci, na verdade. Hoje em dia, eu moro no Rio de Janeiro, num bairro vizinho, mas, assim, são quinze minutos a pé do apartamento onde eu cresci. E, por acaso, a minha irmã mora lá, que, enfim, o imóvel ficou pra família. A gente se mudou pra uma outra casa, mas ela, hoje em dia, vive lá. E era um apartamento de dois quartos. Aquela casa, né: minha mãe, eu e minha irmã, durante um tempo; a mãe da minha mãe morou com a gente também, então era aquela casa, assim, que o coração da casa era a cozinha. Lembro muito da minha mãe cozinhando com o rádio ligado, ouvindo música. Aí, assim, geralmente, enquanto minha mãe estava em casa, fazendo algum serviço doméstico, fazendo comida pra levar a gente pra escola, essas coisas, era o rádio que estava ligado. Mas aí, final de semana era o momento que ela parava pra ouvir os LPs dela, né? Então, era aquele momento, assim, tipo: hoje é o dia dos discos. Hoje não é o rádio. O que a gente quer escutar. E aí, assim, eu dividi o quarto com a minha irmã durante muito tempo, a gente morou nesse apartamento até eu fazer, se não me engano, uns quinze anos. Depois dessa época, a gente teve oportunidade de se mudar pra um apartamento um pouquinho maior, que não é muito longe. É onde eu vivo hoje com a minha mãe e minha cachorrinha. Então, assim, é aquela coisa: engraçado, porque também lembro muito da casa da minha vó, que era aqui em Irajá. É, ainda. Minha vó faleceu, mas eu lembro dessa casa dela, que era pra onde a gente ia aos domingos. Domingo, a gente, geralmente, ia pra igreja. Eu fui criada na Igreja Batista, frequentei desde a minha infância, até mais ou menos uns doze, treze anos. Aí era assim: domingo a gente acordava de manhã, ia pra igreja, participava da escola bíblica, do culto, e depois ia pra casa da minha vó, almoçar, e passava o domingo lá. Quando eu fiz acho que dez anos, mais ou menos, onze, foi quando a minha mãe começou a trabalhar, porque durante um tempo ela ficou cuidando da gente, depois que meu pai faleceu. Aí ela passou num concurso do município e começou a dar aula na educação fundamental, primeiro ciclo. Trabalhou muito tempo com alfabetização. E aí a gente ficava na escola de manhã e a minha mãe dava aula à tarde, que aí a gente saía da escola e ia pra casa dessa minha vó, em Irajá. Então, a minha infância tem esse trânsito entre esse apartamento, que é minha casa, mas essa casa da minha vó, que era um lugar, assim, onde eu passava muito tempo. Era uma casa grande, com quintal, com terreno no fundo, com árvore. Então, assim, onde a gente tinha espaço pra correr, tomar banho de mangueira, fazer bagunça. Aí era a casa da minha vó.
P/1 - E do que você gostava mais de brincar, nessa época, Stephanie?
R - Olha, eu gostava de brincar de muita coisa, assim. Eu sempre gostei muito de brincar de boneca, que brincar de boneca é aquele espaço que menina geralmente tem pra brincar de faz de conta. Embora eu nunca achasse que fosse uma coisa muito óbvia. Nunca fui muito, assim, aquela menina que sempre achava: “As bonecas são minhas filhas e eu vou ficar aqui fazendo comidinha pra vocês”. Fazia essas coisas, mas também achava que ia ser professora e que as bonecas iam fazer outras coisas, tipo: arrumar empregos, viajar e fazer coisas diferentes. E gostava muito dessa coisa da casa da minha vó, porque a gente tinha espaço pra correr, né? Eu também, assim, era uma criança que gostava bastante de assistir televisão, mas gostava muito de assistir desenho. Então, era aquela programação que tinha, infantil, antes de ir pra escola. Assistia os desenhos de manhã e tal, depois brincava um pouquinho, ia pra escola, mas aí, final de semana, a minha vó, a casa onde ela morava também tinha, a vizinha dela, netas da mesma idade que eu, então aí já era aquela coisa de brincar com as colegas, fazer amizade com outras crianças e brincar no quintal dos outros. E aí a gente jogava queimada, batia pique. Era aquela coisa de criança, que já não era mais tão [de] ficar quieto, parado em casa, né?
P/1 - E, falando sobre a sua relação com a sua vó: você teve contato com a vó da parte materna e paterna também, ambos os avós ou não?
R - Não. Na verdade, a minha história é curiosa, porque é assim: a minha mãe tinha duas mães. Ela tinha uma mãe biológica e uma mãe de criação. E aí, então, eu tive duas avós por parte de mãe. Já a família do meu pai, depois que meu pai faleceu, a minha mãe tinha, sim, uma preocupação de ser mais próxima, de ter uma convivência, mas os meus avós, mesmo, não eram... Como eu diria? Eles não eram pessoas muito sentimentais, assim, sabe? Eles mesmos falavam muito do meu pai, era uma situação, assim... Eu jamais vou saber dizer, exatamente, até que ponto... A gente os lembrava da perda e por isso era uma coisa, assim, meio estranha, meio desconfortável, mas, assim, chegou a um ponto que a minha vó por parte de pai era muito ativa na igreja. Então, tinha sábados que a gente passava lá pra vê-la e ela tinha ido pra igreja, ensaiar o coral das crianças. Era esse tipo de coisa. Ela tinha muito esse envolvimento com a vida dela. E, enfim, conforme a gente foi vendo que não adiantava muito ficar insistindo, a minha mãe foi se afastando, parou de ficar tentando só ela fazer uma relação funcionar, né? Mas aí, pelo lado da minha mãe, eu tinha duas avós. (risos) Então, assim, essa minha vó que morou na minha casa, na verdade, morava em São João do Meriti (RJ), minha vó Jurema, que é a mãe biológica da minha mãe. E a mãe de criação dela foi, porque, quando a minha mãe era criança, os meus avós se separaram e aí, quando minha vó Jurema resolveu que não ia mais morar na casa onde ela morava com meu avô, que ela ia procurar outro lugar pra morar, enfim, ela pediu pras cunhadas, cada uma ficar um pouquinho, assim, tipo: “Fica com a minha filha aí uma semana, que eu vou resolver a minha vida e já volto”. Só que quando a minha vó voltou, a minha mãe não queria ir embora. Já estava adaptada, já tinha escola, gostava de todo mundo ali, não sei o que. E aí minha vó virou e falou: “Ela quer ficar”. A cunhada virou e falou: “Deixa-a aí”, ela ficou e foi criada pela tia dela por parte de pai, que aí era minha vó Valdelis, que é essa vó que tinha essa casa lá em Irajá [e] a gente era muito próxima.
P/1 - E contavam histórias pra você, quando você era criança?
R - Sim. A minha mãe, eu acho que essa questão dela ser professora, sempre valorizou muito essa questão da gente ter acesso, tanto a histórias, quanto a livros. Na época, isso era, sei lá, final dos anos oitenta, início dos anos noventa, a gente ainda não tinha a quantidade de opção e acesso que a gente tem a livro infantil. Mas eu lembro que a minha mãe era assinante do Círculo do Livro. Então a minha mãe assinava livros pra gente, primeiro pra mim, depois pra minha irmã. Eu me lembro que ela encomendava, assim, umas edições. Eu tinha uns livros que vinham com um mini vinil, que você botava na vitrola e alguém contava a história, aquela coisa de criança que eu ouvi várias vezes. E também tinha uma coleção de contos de fada com fita cassete. Então, assim, eu meio que fui… A minha formação como leitora e tal, vinha muito disso. A minha mãe, às vezes, lia pra gente; às vezes, ela botava fita e deixava a gente lá ouvindo a mesma fita, várias vezes. Ou, às vezes, ela chegava assim: “Vamos ver se você está lendo, me diz o que é essa palavra aqui. E isso aqui?”. Aí vinha esse estímulo de contar história. Isso vinha muito da minha mãe, ela queria que a gente tivesse, assim, uma intimidade com a palavra escrita.
P/1 - E em relação à sua vida escolar, qual a primeira lembrança que você tem sobre ir pra escola?
R - Olha, eu tenho lembranças, assim, de ir pra escola bem pequena pro prezinho. Eu me lembro que uma vez (risos) a minha mãe foi ralhar comigo, porque eu gostava muito de brincar de massinha e a gente ia pra escola e fazia, assim, um avental, pra não sujar o uniforme, pra fazer aquelas atividades de pintura, não sei o quê. Eu gostava de massinha, que eu ia fazendo as bolinhas de massinha, enfiando nos bolsos do avental e depois eu juntava outras em casa, porque eu queria ter massinha pra brincar em casa. Aí um dia ela pegou, na minha roupa. Falou: “Não pode fazer isso! Lugar de brincar de massinha é na escola e tal”. Mas, assim, as minhas lembranças da escola: de modo geral, a minha infância era muito boa, porque eu era boa aluna. Eu tinha facilidade pra aprender as coisas e gostava de ler, então, eu era, assim, aquela aluna que os professores pediam pra ler um texto em voz alta, para os colegas acompanharem, sabe? Eu fui representante de classe, porque, enfim, eles achavam que esse era um jeito de me comportar. Como eu aprendia as coisas rápido, também ficava entediada na escola e aí eu gostava de conversar, ficar conversando com o coleguinha do lado. (risos) Então, aí, por causa disso, eles ficavam: “Não, bota a Stephanie pra ser representante, porque ela tem que se comportar! Eela tem que servir de exemplo pros outros”, assim. (risos) E eu era uma criança que participava das coisas também. Com sete anos, a minha mãe me colocou na natação. Então, além de ir pra escola, nadava duas vezes por semana. Na minha adolescência, eu acabei até participando de algumas competições de natação, por causa disso, que nadei até - sei lá, na época, era oitava série - treze, catorze anos, com regularidade. Enfim, cheguei a ter esses momentos. Treinei pra competir no último ano do ensino médio. E, assim, participava. Eu não era uma criança tímida. Então, eu dançava nas festas juninas, tinha que botar pra ler no jogral, tinha que fazer alguma coisa: estava lá a Stephanie, (risos) participando das atividades. Teve uma época, acho que eu devia estar, sei lá, [na] quinta, sexta série, tentei participar da banda musical da escola, tinha uma banda marcial. Mas aí não deu certo, que era uma coisa assim: a gente ensaiava no sol, no calor do Rio de Janeiro, tinha aula de sete ao meio-dia e depois ia pro ensaio da banda. Uma hora, duas vezes na semana, naquele calor. E aí, quando tinha os eventos, era assim: o ensaio do Sete de Setembro, que era um feriado, a gente tinha que acordar às seis da manhã, pra ir tocar com a banda no desfile cívico. Aí, depois do meu primeiro desfile cívico, eu virei pra minha mãe e falei: “Olha, mãe, não compensa”. Eu sempre quis aprender a tocar um instrumento, acho lindo, mas, assim, eu não tinha muita habilidade pra tocar. Eu não tocava tarol, tocava um bumbo de percussão, que era uma coisa simples. Porque eu achava assim: “Não, vou começar com bumbo e depois eu vou ficando esperta, vou tocando outras coisas”, mas não cheguei a desenvolver. Porque depois de, sei lá, seis meses no ensaio e descobrir que eu perdi meu feriado acordando cedo pra desfilar, embaixo do sol, eu falei: “Ah, não, não quero mais!”. (risos)
P/1 - Teve algum professor, nesse período de ensino fundamental, que te marcou? Alguma matéria que você gostava mais?
R - É engraçado isso, porque, por exemplo, eu sempre gostei muito de Português, sempre tive esse encantamento com a palavra, mas os meus professores de Português não eram professores com quem eu tinha, assim, uma relação muito próxima. Durante a minha infância e a minha adolescência, eu sempre fui muito fascinada por ciências. Então, tinha um professor que eu gostava muito, chamava Flávio Luiz, que era professor de Ciências e ele era aquele sujeito, assim, que fazia as bactérias parecerem coisas realmente fascinantes. E eu realmente acho que são, (risos) até hoje. Mas, apesar de eu ter esse interesse, naquela época, por Biologia, depois eu acabei mesmo enveredando pelo caminho das Ciências Humanas. E tive também um professor de Inglês que eu gostava muito, era o Nilton, que ele chegava sempre com música pra trabalhar em sala de aula. Era uma época que eu estava querendo que a minha mãe me colocasse no cursinho de inglês e aí, ter aula com música era uma coisa... Você é adolescente, escutava música no rádio, estava começando a chegar os CDs, tal. A gente queria ter os nossos CDs, ficava olhando encarte, sabe, tentando entender as letras. Então, assim, é engraçado, porque aí, depois, eu fiquei, [virei] tradutora, então todo esse caminho, esse encantamento inicial… Depois eu fui estudar inglês, enfim, e acabou reverberando na minha vida adulta. Mas esses são professores, assim, dessa fase, do fundamental, que eu me lembro muito, porque eram as aulas que eu ficava animada: “Ai, hoje tem essa aula!”.
P/1 - E avançando pro seu ensino médio, o que foi mudando em relação aos seus gostos, sua relação com a escola?
R - Assim: já mudou bastante coisa quando eu fui pro ensino médio, porque fiz o fundamental numa escola que era, sei lá, dez minutos aqui da minha casa. Eu entrei lá no segundo ano [do fundamental] e fiquei lá até a oitava série. Então, quando eu saí de lá… Quis sair de lá, poderia ter ficado, é uma boa escola, mas eu já estava muito de saco cheio, porque conhecia todo mundo. (risos) Então, assim, sabe aquela coisa, tipo: “Meu Deus, eu não consigo conceber a ideia de ficar mais três anos aqui”. E aí eu lembro que tive essa conversa com a minha mãe e ela falou: “Olha, o que você pode fazer é prova. Aqui no Rio de Janeiro tem o Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca), tem as escolas técnicas da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), tem Colégio Militar”. Eu: “Pelo amor de Deus, Colégio Militar, não”. Ela: “Não, já que você quer fazer prova, faz pro Militar também”. E eu assim: “Meu Deus, nunca! Não tem nada a ver comigo!”. (risos) E aí ela me deu essa opção e falou: “E, se você passar, legal, porque se você passar pra uma boa escola, eu posso, por exemplo, parar de pagar escola pra você e posso pagar um cursinho que você queira fazer. Então, ah, você quer estudar inglês, aí você vai fazer um curso de inglês bom”. Assim, na época, eu já fazia, mas era uma coisa assim: ia terminar o básico de inglês e ela podia pagar o meu avançado, durante o meu ensino médio. Então, minha mãe sempre foi muito honesta com relação a essas coisas, sabe? Ela sempre foi muito clara no sentido, assim, de: “Olha, dentro da nossa situação aqui, de classe média, o que dá pra fazer são esses arranjos. Cabe aí. Vamos conversar, vamos ver o que dá pra fazer”. E aí, na época, ela me inscreveu pra fazer vários concursos e eu passei pra fazer Faetec. E aí eu estudei na Escola Técnica República que, na época, era conhecida como CEI Quintino. Foi uma época em que, aqui no Rio de Janeiro, aconteceram algumas reformas na educação e aí, quando o governo criou o... Primeiro era Centro de Educação Integral, depois virou Escola Técnica Estadual. A ideia era que o aluno ficasse lá o dia inteiro. De manhã, você fazia o seu ensino médio e, de tarde, você fazia o ensino técnico. E fora que lá dentro tinha um monte de atividade. Tinha curso de informática, curso profissionalizante, esporte. Era uma proposta incrível, que, infelizmente, logo depois que eu entrei, veio o governo Anthony Garotinho e mudou a regra. E aí tive que fazer um ensino médio que, na verdade, era fracionado. Então, por exemplo, sei lá, eu tive todo o conteúdo de literatura que alguém tem nos três anos de ensino médio, um intensivão num ano só. Ou seja: não tive. Estudei Sociologia um ano só. Mas, por outro lado, eu optei por fazer técnico em Telecomunicações. Em parte, por ignorância, porque eu achava que Telecomunicações tinha alguma coisa a ver com Comunicação, mas, na verdade, é só a parte técnica, justamente assim, tipo, antenas, modulação e circuitos. E aí, de repente, eu passei três anos fazendo. Tive que estudar muita Física e muita Matemática, que, pra mim, foi bem complicado. Assim, foi bom porque, quando eu cheguei no vestibular, eu já não estava sofrendo tanto. Na minha época, a gente ainda fazia vestibular. Mas, assim, sei lá, eu ficava desesperada porque, tipo: tinha que aprender algumas coisas, números complexos e matrizes, sabe? Umas equações, fórmulas de Física que, pra mim, eu tinha muita dificuldade com essa parte de abstração, assim, e foi o que me fez ralar. No ensino médio, eu tive que ralar, porque foi uma fase que eu fui desafiada: tinham todas essas matérias técnicas que precisavam de um conhecimento, justamente, das matérias que eu não era tão boa. Não tive um desempenho tão fácil quanto, por exemplo, com História, Geografia, Português, que era uma coisa assim: você lê, faz um resumo e vai! Mas, assim, uma outra coisa que mudou: aí eu fui estudar longe de casa, numa escola pública, que tinha gente do Rio de Janeiro inteiro, porque era uma escola de referência. E aí eu tinha que pegar dois ônibus pra chegar na escola. Foi um momento, assim, que eu aprendi a circular pelo Rio de Janeiro. Já não era aquela coisa do tipo: minha mãe me dá carona e me larga. Ela até teve um tempo que me dava uma carona, porque ela descobriu que tinha um caminho que servia pra ela, ali, passando em Cascadura. Às vezes, ela me deixava em Cascadura e eu pegava um ônibus só. Mas, assim, não tinha mais aquela proximidade, aquela coisa que todo mundo se conhece e mora perto. Então, sei lá, eu tinha amigos que uma morava em Água Santa, a outra morava em Jacarepaguá, a outra morava do lado da escola Quintino e ia a pé, sabe? A outra morava no Engenho da Rainha. Então, foi ali que eu comecei a ter uma outra percepção, assim, não só de realidades diferentes da minha, que não era a galera da zona norte, que tinha uma vida todo mundo meio parecido, o pessoal aqui de Vista Alegre e Irajá, mas também de começar a circular nesse sentido, que aí um dia precisa fazer trabalho na casa de uma colega; um dia você vai não sei onde; um dia saía do colégio e ia pro “shopping”; um dia a gente saía do colégio e ia pra festa de São Jorge, na Igreja de Quintino. (risos) Então, assim: era uma outra vivência. Foi um momento que mudou muito a minha vida nesse sentido, porque eu deixei de ter uma vida muito aqui, próxima, perto da minha casa e comecei a entender que, sei lá, a cidade era maior, que tinha, enfim, que circular por aí, aprender a pegar ônibus sozinha, todas essas coisas.
P/1 - E ainda no ensino médio, Stephanie, você já tinha ideia que você queria prestar vestibular pra Jornalismo?
R - No início do meu ensino médio, eu já sabia que ia fazer alguma coisa relacionada a Humanas. Eu tive uns períodos [em] que ficava assim: “Será que eu faço Direito? Será que eu faço Publicidade? Será que eu faço Jornalismo?”. Mas era tudo, assim, meio que por um caminho de Humanas. Como a minha mãe é funcionária pública, tinha uma certa pressão, assim, na minha família, de fazer alguma coisa que eu pudesse fazer também concurso público, porque, enfim, a família tem pessoas que seguiram essa carreira de fazer concurso: minha mãe, na área de educação, enfim, mas meus tios são pessoas que, sei lá, trabalharam - os irmãos da minha mãe - tiveram que abrir o próprio negócio, tiveram que empreender, pra ter oportunidade. Então, o pessoal ficava muito naquela insegurança, do tipo: “Aí você vai fazer Publicidade, Jornalismo e vai trabalhar em quê?”. (risos) Mas a minha mãe sempre foi muito do tipo: “Olha, você quer fazer Jornalismo? Vai fazer, mas você já sabe que vai ter que ralar. Você já sabe que vai estar fazendo a faculdade e tem que arrumar estágio, tem que correr atrás, que não adianta, porque ninguém vai te dar um estágio pelos seus belos olhos. Então, assim, você tem que ficar atenta já que você sabe que abrir concurso público pra Jornalismo, [é] muita raridade. Você não pode se fiar nisso, tem que ficar malandra no mercado”. E aí, assim, fui fazendo meu ensino médio. Procurei estágio em Telecomunicações, na época, mas acabou não rolando. Fiz prova, entrevista e tal, mas realmente não rolou. Acho que, no fim, assim, tinha gente que tinha muito mais convicção que queria seguir aquele caminho [do] que eu e aí, quando eu cheguei no terceiro ano, a minha mãe virou e falou: “Olha, eu acho que você devia fazer as provas do vestibular esse ano”. Aí eu falei: “Pô, pra que eu vou fazer, se não vou passar?”. Na época, as provas eram todas separadas, assim: a Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) fazia um vestibular, a Ufrj (Universidade Federal do Rio de Janeiro) fazia um vestibular, a UFF (Universidade Federal Fluminense) fazia um vestibular. No caso, eu ia fazer pra essas três, porque as três tinham Jornalismo e o pessoal ainda ficava: “Por que você não vai tentar, sei lá, História na Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), outra?” Eu falei assim: “Não, gente, eu vou tentar aqui e está bom. Vamos lá, sabe? São três, eu só preciso passar em uma”. E aí eu fiz e me lembro que tirei B na Uerj: eu fiquei muito surpresa, porque achei que eu não ia ter a menor condição, que ia bombar na prova, que eu ia mal e, no fim, sei lá, eu não tirei A por causa de quatro, cinco perguntas. Eu, assim: “Cara, não, espera aí. Vai dar certo, vai acontecer!”. E aí, então, assim, em vez de ficar desanimada, eu me animei de fazer o vestibular. E, quando eu terminei [a escola], teve formatura, documentação, tudo bonitinho, minha mãe virou e falou assim: “Agora você vai pegar essa declaração de conclusão do ensino médio, vai pegar um ônibus aí e vai dar um giro nos cursinhos aqui. E você vai voltar com o preço de todos os cursinhos pra mim. Eu vou pagar um ano de cursinho pra você. Se você fizer um ano de cursinho e não passar pra nenhuma universidade pública, aí você vai arrumar um emprego e vai começar a pagar aula particular. (risos) Então, foi assim o meu acordo com a minha mãe. E foi assim que eu passei o ano de 2002, foi o ano que eu mais estudei na minha vida, nunca estudei tanto! Fui fazer um cursinho aqui em Madureira, aqui perto de casa e, no final, acabei passando pra UFF e depois passei pra Uerj, na reclassificação. Mas como eu já estava matriculada na UFF, já tinha me adaptado, tinha feito amigos, aí eu falei: “Vou ficar aqui mesmo, senão eu vou acabar estragando tudo. Vou largar uma vaga aqui, sabe? Não, vou liberar uma vaga pra alguém entrar lá”. E foi assim. Eu passei primeiro pro segundo semestre e aí eu estava, assim, cheia de planos, do tipo: “Ah, eu vou ficar seis meses só fazendo curso de inglês e autoescola”. Eu tinha acabado de fazer dezoito anos, estava animada que eu queria aprender a dirigir. Depois eu descobri que eu tenho medo de dirigir. (risos) Mas aí, eu lembro que um dia a minha mãe me ligou e falou: “Cara, saiu reclassificação da universidade no jornal. Então, compra a 'Folha Dirigida' e vê se te chamaram”. E eu assim: “Como vão me chamar, sabe, eu passei em, sei lá, 27º, 28º”. Ela falou: “Stephanie, olha que você não vai perder essa vaga, pelo amor de Deus, sabe? Vai lá e compra o jornal”. Eu fui lá, comprei o jornal e eu tinha sido chamada pro primeiro semestre. Então, os meus planos, assim, mudaram completamente. Era uma coisa assim, do tipo: um dia eu acordei achando que eu ia começar a estudar seis meses depois e comecei a estudar, sei lá, quinze dias depois, mas foi legal, foi assim que eu fui parar no primeiro semestre de 2003, lá na UFF. Foi incrível! Tenho amigos na faculdade, que são meus amigos até hoje.
P/1 - Me conta como foi essa sua entrada. Você conta que foi meio de sopetão, essa entrada na faculdade. Do nada você teve que correr ali, fazer matrícula e como você se sentiu, quando começou a fazer o curso, do tipo: “É isso mesmo, eu já estou fazendo a faculdade”?
R - É muito louco porque, assim, inicialmente, eu não queria ir pra UFF, porque era muito longe. Ainda é, né? Ela não mudou de lugar, continua lá, mas, enfim, era muito... Uma distância: eu tinha que pegar um ônibus até o Centro da cidade, esse que passa na porta da minha casa, aí eu tinha que descer, caminhar até a Praça XV, pegar a barca e depois eu caminhava mais uns quinze minutos, até chegar lá no Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF. O curso era tarde e noite e eu ficava: “Meu Deus, quando eu vou conseguir estagiar?”, porque nas outras universidades... Antes, eu estava de olho na Uerj e na Ufrj, não só por ser na mesma cidade: pra Ufrj, eu ia ter que pegar o metrô e andar; e pra Uerj, eu ia sair do metrô dentro da universidade. Era bem menos desgastante essa questão do percurso, mas também porque eram cursos mais enxutos, assim: tinha dia que eu saía dez horas da noite de Niterói (RJ). Então, era assim: os professores, às vezes, ajudavam a gente, liberavam um pouquinho antes pra gente conseguir pegar a barca das dez, mas eles liberavam, assim, quinze minutos [antes]. Todo mundo catava as suas coisas e a gente falava que era a turma da barca. Se juntava todo mundo e a gente ia andando, de noite, todo mundo juntinho, com medo de assalto. Pegava a barca juntos e depois íamos juntos até o ponto de ônibus, cada um pegava o seu. Enfim, pra gente sair à noite, porque era bem complicado sair de Niterói dez horas da noite e morar no Rio. Muita gente, no meio do caminho, foi organizando repúblicas e tal, mas a minha mãe era da seguinte filosofia: “Você não vai sair de casa sem o seu dinheiro. O dia que você tiver salário, pode ir morar em outro lugar. Enquanto sou eu que pago as suas contas, você vai morar aqui, porque eu estou te vendo”. Nessa época, inicialmente, a minha mãe, às vezes, ia me buscar no Centro da cidade. Ela saía daqui de carro e ia até o Mergulhão, na Praça XV, me pegava lá. E era um esquema, assim, totalmente cronometrado, tipo: a barca desatracava de Niterói e eu ligava pra ela, pra ela sair de casa e não ficar muito tempo parada sozinha, na rua, com o carro no pisca alerta. Vários esquemas. Porque também tinha isso: dia que o ônibus parava de passar. Passava um ônibus e, se eu não pegasse aquele, acabou, tipo: não tinha mais. Aí tinha que pegar, ou tinha que ir até o metrô, pra pegar o metrô pra casa. Enfim, era bem mais complicado. Hoje em dia tem o VLT, tem opões, mas as opções são bem mais caras, né? O transporte público ficou muito mais caro. Mas eu fico pensando: “Pô, hoje em dia, assim, sair da barca, pegar um VLT, sair do ladinho do metrô e pegar o metrô pra casa é muito mais tranquilo do que esse esquema que eu fazia nessa época", mas, em compensação, é muito mais caro proporcionalmente, dentro do custo de vida que a gente tem hoje. Depois que eu entrei... Eu fiquei chateada inicialmente porque meus planos foram frustrados, porque eu achava que eu merecia muito ficar seis meses descansando. Nunca achei que eu ia ficar. Aí, assim, os meus planos eram muito singelos: eu queria aprender a dirigir, terminar meu curso de inglês, porque eu queria terminar o inglês e tentar fazer um teste de proficiência, que acabou que eu nem fiz. Foi bom eu não fazer porque, se eu fizesse com dezoito anos, não ia servir pra nada. Se eu precisar de um "talk", preciso fazer hoje. Não precisava dele, naquela época. Ainda ia demorar muito pra eu precisar dele. Ficava pensando, assim, que eu ia, sei lá: ficar de bobeira, ler, não me preocupar, depois de um ano muito estressante. Mas depois que eu cheguei na UFF, encontrei os meus colegas de turma, conheci a galera, teve a calourada, o pessoal fazia gincana. Aí tinha, sei lá: arrecadar alimento, trote pra levantar dinheiro pra 'choppada', tinha todo tipo de coisa. Enfim, a gente vai, conhece, se enturma, aí eu falei: “Bom, beleza, já estou aqui, começou, não adianta ficar reclamando”. E quando eu fui pra faculdade, tive um efeito na minha vida que, assim, eu me senti meio que... Sabe [o] patinho feio quando descobre que é um cisne e que ele estava no meio dos cisnes? Eu falava assim: “Pô, eu era meio esquisita, mas agora eu estou aqui, com essa galera e a gente é, todo mundo, meio parecido”. Porque eu era, assim, uma adolescente que, enfim, passei muito tempo dentro da igreja, depois saí, aí eu queria, sei lá, ir pro baile, pra matinê e tal, minha mãe não deixava fazer essas coisas, tinha pavor. (risos) Não só por causa do medo da violência, mas ela tinha aquela coisa, tipo: “Vocês não vão começar a namorar na adolescência, não têm idade pra isso”. Então, tinha essa vida muito protegida e então, sei lá, as minhas amigas, com quinze, dezesseis, estavam saindo, namorando, não sei o que, e eu só podia pegar um cinema, sabe? E aí, assim, foi na minha adolescência que eu me tornei leitora, porque me senti entediada. Aí eu lia tudo que caísse na minha mão, assim, sem o menor critério, (risos) e a minha mãe com uma biblioteca de professora dentro de casa. Então, sei lá, um dia eu chegava e pegava pra ler um romance de Jorge Amado, um dia eu começava a ler "Dona Flor e Seus Dois Maridos", com catorze anos na ideia. O que eu estava fazendo, sabe? Tentei ler "Cem Anos de Solidão" na minha adolescência. Então, assim, lia esses romances de banca de jornal - "Sabrina", eu lia descontroladamente -, e de tudo que caía na minha mão, assim. Total. E isso foi uma das coisas que me ajudou a chegar na faculdade, com um pouco mais de falar: “Não, pô, agora eu vou pra faculdade, o que eu tenho que fazer? Ler e escrever. Tipo, eu gosto, vai dar certo”. Mas era muito engraçado: eu lia muito romance policial, Sidney Sheldon. Assim, essa minha fase da adolescência em que eu pegava dois ônibus pra ir pra escola era quase que assim: eu sempre tinha um livrinho na mochila. Tinha época que, sei lá, era romance policial e tinha época que era repórter. Era totalmente descoordenado. A leitura me ajudava muito, não só a preencher o meu tempo, que eu não ficava entediada, nem no deslocamento e, às vezes, nem em casa, mas também porque eu, desde muito cedo, tinha muito essa sensação que eu acabei amadurecendo muito cedo, porque [quando] meu pai morreu, eu era muito nova. Então, por exemplo, essa questão que eu falei com você da minha mãe fazer acordos com a gente, de deixar muito claro: “Olha, esse ano você vai fazer cursinho e, se você não fizer, vai correr atrás de arrumar um emprego”, esse tipo de conversa que ela tinha, pra mim era não só uma questão da confiança dela com a gente, mas eu também entendia assim: que quanto mais eu fosse crescendo e menos trabalho desse pra minha mãe, melhor ia ficar a nossa vida, porque ela já trabalhava cuidando da gente. Minha mãe ficou viúva com 26 anos. Então, era uma coisa, assim, do sentimento de parceria também, sabe? E aí, essa questão de, quando eu cheguei na faculdade, eu fiz dezoito anos e passei pra federal, ela disse que eu podia tomar cerveja e ela disse que, se eu arrumasse lugar pra ficar em Niterói, dormir, eu podia dormir na casa das minhas amigas, depois das festas. Então, assim, foi aquele meu momento de libertação juvenil. Finalmente, eu podia fazer várias coisas que eu sempre [quis] fazer: eu podia frequentar a Biblioteca Geral do Gravatá e pegar um monte de livro emprestado; eu podia tomar cerveja com os meus amigos depois da aula, que acabava quatro horas da tarde, e voltar pra casa depois; eu podia ir pras festinhas, finalmente curtir festinhas. Então, depois que eu me adaptei, pra mim foi muito feliz. Eu tinha amigos que gostavam de ler e a gente se emprestava livro, a gente trocava livros, indicava. Então, assim, a faculdade foi um momento de me sentir acolhida. Embora eu, às vezes, ainda assim, me sentisse um pouco deslocada em relação aos meus colegas, que, sei lá, eu sou uma pessoa que acabo me cobrando muito. Acho que essa perda inicial do meu pai marcou muito a minha vida, em certos aspectos, disso, assim, de amadurecimento e seriedade, que eu só fui relaxar depois dos trinta. (risos) Então, ainda é uma coisa meio recente na minha vida essa ideia do tipo: “Opa, espera aí, deixa eu aproveitar e curtir a minha vida”. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que acreditei muito em ter objetivos, em perseguir meus objetivos. Ainda sou um pouco assim, só estou tentando me cobrar menos, (risos) na verdade, mas foi um momento, assim, que eu parei e notei: “Pô, que legal! Eu não sou tão diferente assim quanto eu acho que eu sou. Não sou uma pessoa tão esquisita. Eu tenho essa galera, esses amigos com quem eu consigo compartilhar uma série de coisas”. E aí, sei lá, a galera do cinema, que a gente ia assistir maratona na Odeon, a gente começou a frequentar festival do Rio, sabe? Tinha amigo que, de vez em quando, assim, no intervalo chato de uma aula pra outra: “Vamos dar um passeio. Vamos lá no museu, no Teatro Contemporâneo de Niterói”. A gente ia lá, dava um passeio no museu, ficava lá vendo a vista, sabe? Então, assim, não era só a oportunidade de circular, mas de encontrar pessoas que jamais iam achar esquisitice: “Vamos dar um passeio no museu [às] quatro horas da tarde”. (risos) Eu me senti muito acolhida por encontrar pessoas que tinham tanta curiosidade, tanta vontade de descobrir as coisas, como eu, porque a gente chegou na faculdade com dezoito, dezenove anos, achando que a gente era muito esperto: você chega lá e os professores vêm dizer pra você um monte de coisa que você não leu, que não sabe e tal, e você fica: “Meu Deus, eu nunca vou dar conta de ler e de saber tudo isso. Como é que eu vou sair daqui?”. (risos)
P/1 - E me conta, profissionalmente, Stephanie, o impacto dos seus estudos de jornalismo. Você conseguiu pensar pra que direção você ia seguir, ao longo do curso? Isso mudou várias vezes? Me conta como foi isso.
R - Assim, eu sempre tive muita clareza de que o que eu queria era escrever. Então, o meu sonho era trabalhar em jornal impresso. E aí eu tinha esse foco: ficava de olho, do tipo quando abria os estágios, como eram as coisas, mas acabou que não rolou, na época. Mas, assim, eu fui, passei quando eu estava no quinto período de jornalismo, já. Geralmente, as oportunidades de estágio pra jornalismo, pelo menos, no quarto período, você já tem que ter um pouco mais de bagagem, que você já faz as cadeiras de redação dentro da faculdade, faz jornal laboratório, essas coisas e eu... Era muito engraçado isso, porque queria muito escrever, mas eu era muito insegura com relação ao meu texto. Eu ficava muito preocupada com as opiniões, canetadas que eu ia recebendo em sala de aula e não sabia muito bem como me colocar. E era também muito engraçado, porque, nessa época, eu já escrevia - tenho um diário há anos, faço diário há anos -, mas foi um período que comecei a tentar escrever poesia, na minha juventude. E aí eu ficava tentando... Eu tinha uma relação totalmente esquizofrênica, assim: poesia era uma coisa e jornalismo era outra; eu me sentia muito na obrigação de manter essas coisas separadas, assim, muito diferentes. Ao mesmo tempo que as pessoas que eram elogiadas eram as que tinham o texto mais solto, humor, mas eu sempre achava que não conseguia fazer a medida do negócio. Mas eram duas coisas: inexperiência e insegurança, mesmo. Eu fui melhorar escrever: escrevendo, trabalhando. E aí, nessa época, eu passei pra um processo seletivo de um estágio de uma agência internacional. Por que, o que aconteceu? Quando eu passei pra UFF e eu terminei o inglês, pedi pra minha mãe: “Então, você agora me matricula no espanhol?”, que eu achava, sempre achei espanhol lindo. E aí fui estudar espanhol. Eu estava estudando espanhol quando abriu essa vaga pra ser estagiária numa agência de notícias internacional, chamada EFE, que é uma agência que você tem jornalistas - eles falam "hablantes" -, nativos de espanhol espalhados pelo mundo todo. Eles produzem essas matérias e mandam pros escritórios. E aí, cada país que tem um escritório regional, como é o caso do Brasil: tem os editores lá que fazem a seleção, quais matérias são mais importantes pro público brasileiro; aí vem uma equipe, traduz e redistribui pros jornais brasileiros, enfim, pros veículos que são assinantes da agência. E aí foi a minha primeira experiência com texto "hard news" (notícias com acontecimentos relevantes) de jornal. Tinha que traduzir, botar o texto no padrão jornalístico brasileiro. Ser rápida. E era de tudo, assim: tinha dia que tinha que fazer Esporte, tinha dia que tinha que fazer Moda, tinha dia que tinha que fazer Economia, tinha dia que tinha que fazer Política. Acho que essa foi a minha experiência mais próxima de uma redação de jornal que eu tive na minha vida, até hoje. E, assim, ainda que fosse puxado e tal, eu gostei muito. Gostei muito! Fiquei um ano lá e aí terminou o contrato, saí, mas, nessa época, também começou a ter mudanças na minha família. Então, assim, minha vó Jurema ficou doente, o marido dela ficou doente, eles vieram morar com a gente aqui em casa e aí eu tinha uma rotina muito louca, porque passava - sei lá, eu tinha 21 anos - o dia ajudando a cuidar dos meus avós e trabalhava de noite. E eu ia pra UFF no dia da minha folga. Fazia plantão de fim de semana. Assim, foi um ano muito louco na minha vida, em vários aspectos. E aí, ao mesmo tempo que eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito essa vida da redação, também olhava como era desgastante, assim, ajudar a minha mãe a cuidar dos meus avós. Eu ficava: “Gente, não dá pra conciliar. Não dá pra fazer tudo isso e ir à faculdade, sabe?", mas não podia parar a faculdade. Então, eu saí desse estágio e fiquei procurando. Acho que fiquei uns três meses procurando e tal, e aí um amigo meu trabalhava na comunicação interna da Petrobras, falou: “Cara, vai abrir vaga aqui. A estagiária vai se formar, manda um currículo, porque...”, e era na Petrobras aqui de São Cristóvão, que era pertinho de casa, inclusive. E aí eu falei: “Sabe de uma coisa? Enquanto eu não sei muito bem o que vou fazer, mas também não posso ficar parada, porque ainda falta um ano pra eu me formar, vou correr atrás, fazer esse estágio”. E aí eu me inscrevi e foi muito engraçado, porque, quando eu me inscrevi pra esse estágio, eu fui chamada pra outra entrevista, pra duas entrevistas em prédios diferentes. Assim, depois que eu botei o meu currículo lá no sistema da Petrobras. Uma era pra área de Meio Ambiente e a outra era pra parte de comunicação interna. Mas aí, quando vieram os dois e me chamaram, eu acabei indo pra essa área onde meu amigo trabalhava. E aí fiz esse segundo estágio, pra essa parte de comunicação corporativa, né, que aí a gente fazia jornal mural, informativos de elevador. E aí era muito uma coisa do tipo: a cultura da empresa, prevenção, saúde, campanhas internas. Então, assim, a gente fazia desde, sei lá, campanha sobre a importância da pessoa fazer uma atividade física, até falar, tentar explicar pra alguns funcionários alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento que aconteciam dentro da Petrobras, que eles queriam comunicar pro público interno. Então, também, era uma coisa de louco, assim. A gente fazia de tudo. E era bem divertido. Quando eu estava no último ano - 2007 foi meu último ano na faculdade -, eu fazia uma cadeira de jornalismo literário. E aí foi a grande mudança na minha carreira, que foi o que influenciou a minha vida depois, porque aí, esse professor de jornalismo literário, convidou várias editoras de casas editoriais cariocas, aqui, pra ir lá falar sobre o que um jornalista pode fazer dentro do mercado editorial e, assim, eu amava livros, mas eu nunca tinha pensado que jornalistas poderiam trabalhar com livros. Não tinha me ocorrido. Eu achava que só a galera de Letras, sabe? O pessoal do Design. E aí, enfim, eu me lembro que a Isa Pessoa, na época, era diretora da Objetiva - atualmente, ela é diretora da Tordesilhas -, foi lá e deu uma palestra e contou a trajetória profissional dela, que ela começou como repórter, depois ela virou editora, enfim, e ela trabalhava especialmente com autores nacionais. Então era uma coisa de criar projetos, conversar sobre livros, do zero, sentar com uma pessoa pra tomar um café e conceber um projeto de livro. Eu ficava assim: “Meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida! Quero trabalhar com livros!”. E aí eu cheguei lá super empolgada, falei com a Isa e tal, ela me deu um cartão e falou: “Ah, manda o seu currículo lá pra editora”. Eu mandei e aí, um dia, me responderam, falaram: “Vem aqui, tomar um café e conversar”. Na época, a Objetiva ficava lá no Cosme Velho. Aí eu fui e eles tinham uma vaga de estagiária, mas eu estava meio que me formando, assim, tinha dois meses, falei: “Gente, tem como ficar?”. Eles falaram: “Tem. Em vez da gente te contratar como estagiária, a gente te contrata como 'freela' fixo, aí você trabalha quatro horas e recebe uma bolsa de estagiária. Fica aí”. Eu estava me formando, eu não tinha arrumado emprego ainda, falei: “Bom, vou, porque pelo menos alguma coisa eu vou aprender nesse negócio”, aí fui e eu aprendi como faz livro, né? Aprendi o que é uma preparação de texto, aprendi que as pessoas passam por duas revisões diferentes, aprendi como o pessoal ‘brifava’ capista. A Isa foi a pessoa que me ensinou: “Quando você vir um livro que você achar bonito, sempre tem que olhar o nome das pessoas que trabalharam nele”. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci e que carrego até hoje, assim. Quando eu olho um livro: “Nossa, que legal, está bem-feito”, eu olho quem traduziu, quem fez o projeto gráfico, quem fez a edição. E aí foi que eu descobri que eu acabava juntando duas paixões, que eu não precisava escolher. Aí, quando eu me formei, fiquei lá na Objetiva uns meses, acho que uns quatro, cinco meses, fiquei procurando emprego, porque eu sabia que ali não era uma vaga, que era algo provisório. Mas, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação, fazendo assessoria de imprensa e comunicação interna. Eu já tinha experiência em comunicação interna, falei: “Bom, vou”, e aí foi meu primeiro emprego CLT. Mas aí eu comecei a trabalhar, deu uns meses, abriu uma pós em mercado editorial na FGV. Aí eu falei: “Opa, vou fazer essa pós”, fui fazer a pós. Foi um ano trabalhando em Ipanema, fazendo pós final de semana em Botafogo. Nessa época, minha vó já não estava mais morando aqui: meu avô tinha falecido, ela foi morar na casa dela. E aí foi a época que eu consegui voltar a me atarefar, já tinha passado esse período mais crítico. Mas aí mais um ano de vida louca. Eu ficava assim, do tipo: “Não, eu não vou arrumar um monte de coisa pra fazer”. Quando eu vi, tinha um emprego e uma (risos) pós-graduação pra fazer sábado sim, sábado não.
P/1 - Então, você passou primeiramente pela tradução, depois você acabou entrando com essa experiência no mercado editorial e aí você decidiu que realmente era isso que você queria fazer: trabalhar com livros. Mas você ainda tem a questão da escritora, né? Onde surgiu a escritora?
R - Olha, a escritora, na verdade, ficou negociando esse tempo todo com uma série de questões porque, assim: na verdade, eu comecei a trabalhar em agência de comunicação em 2008, quando eu entrei na FSB Comunicações, e eu trabalhei lá até final de 2011. Então, eu fiquei três anos trabalhando com assessoria de imprensa. E trabalhei lá dentro, com vários clientes diferentes. Então, eu trabalhei com comunicação na área de tecnologia, na área de saúde, e foi muito legal, assim, um grande aprendizado, uma grande experiência. Mas eu também sabia que, assim, eu não era uma pessoa que estava ali, que queria seguir a carreira corporativa. Eu queria ter um emprego legal, pagar as minhas contas, fazer planos, viajar nas férias, sabe? Mas, assim, eu sabia que o máximo que eu ia chegar ali talvez fosse uma assessora sênior, porque eu não tinha esse desejo de ascender na carreira corporativa, de assessoria de imprensa. E, enquanto eu estava trabalhando lá, de vez em quando, estava de olho se rolava oportunidade e tal, porque essa pós que eu fiz na GV, a gente não só aprendeu algumas coisas de produção editorial que eu usava no meu trabalho de jornalista. Às vezes, precisa fazer um panfleto, um "folder", essas coisas que você aprende como orça, como resolve a escolha do papel, não sei o que. Essas coisas facilitam muito a sua vida, esse tipo de repertório, mas também eu estava querendo, em algum momento, migrar realmente e trabalhar numa editora. No final de 2010, eu me mudei pra São Paulo (SP). Em 2009, eu arrumei um namorado que morava lá e aí foi bem, assim, no meio de várias coisas acontecendo: fazendo pós, arrumei emprego, não sei o que, conheci, fui à São Paulo visitar uns amigos, conheci um paulista e aí a gente saiu. Foi legal, a gente continuou se falando, [e] quando eu vi, a gente estava... “E aí, estamos namorando ou não?”. A gente ficou um tempo namorando à distância e aí, quando a pós acabou, ele virou e falou: “Olha, eu acho que você precisa resolver o que vai fazer da sua vida, porque sua pós acabou, mas a gente está nessa tem um ano, já, vai e volta, não sei o quê”, foi e me deu a chave do apartamento. Aí cheguei, conversei com os meus amigos, né? Falei: “Gente, acho que fui pedida em casamento”. (risos) E aí eles falaram: “O que você vai fazer?”. Eu falei: “Bom, tenho que arrumar um emprego, pra ir. Não dá pra ir na louca. Não dá pra viver de amor”. E aí, o que eu fiz? Eu fui e conversei com o pessoal do trabalho, falei: “Gente, não dá...”. Eu trabalhava na FSB Comunicações, que tinha escritório em São Paulo, ainda tem, inclusive. E aí: “Às vezes, acontece, nem sempre. Vamos aguardar” e tal. Aí, um dia, um amigo meu virou e falou: “Olha, vai abrir uma vaga na nossa diretoria. Vai sair uma assessora lá de São Paulo, vai abrir essa vaga e seria muito bom a gente ter uma pessoa de confiança lá, porque é uma conta relativamente nova. A gente tinha essa profissional lá, que não era alguém que foi a gente que escolheu. Ficamos com esse cliente e trabalhava com essa pessoa, mas ir alguém conhecido, que tem intimidade com a equipe que está aqui no Rio - porque era uma equipe compartilhada Rio-São Paulo -, é melhor do que achar alguém em São Paulo e ter que ambientar essa pessoa com todo esquema que você já conhece. Vá lá e fala com a chefe”. E aí eu fui lá e falei com ela, ela falou: “Tá, beleza”. Aí ela meio que fez uma mini entrevista ali, tipo: minhas convicções, se eu tinha certeza, se estava de boa, se já tinha conversado em casa. Aí eu virei pra ela e falei: “Vamos fazer o seguinte, eu não conversei com ninguém, estou vindo aqui falar com você”. Ela falou: “Então, beleza. Você vai fazer assim: vai passar esse fim de semana, conversar com a sua mãe, com seu namorado, e chega aqui na segunda-feira de novo, pra gente conversar”. Aí eu já cheguei avisando todo mundo, falei: “Arrumei um emprego em São Paulo”. (risos) E aí a minha mãe ficou assim, né: “Cara, como assim? Você vai sair de casa e já vai pra outra cidade?”. E eu: “Cara, mas vai dar certo. Eu vou ganhar mais, o esquema é bacana, o escritório é não sei onde, dá pra ir de metrô, não sei o que, vou morar aqui, assim e assado”. E ela, assim, meio: “Você está muito empolgada” e eu estava, mesmo. Eu tinha 26 anos, estava apaixonada. Estava muito empolgada. E aí eu conversei com meu namorado e ele falou: “Cara, se rolar, vem, né? Eu não falei pra você vir?”, e aí eu fui. Conversei com a minha chefe na segunda-feira, expliquei e falei: “Por mim está tudo certo, eu só tenho uma coisa pra te pedir”. Ela falou: “O quê?”. Eu falei: “Minha vó vai fazer aniversário dia três de novembro e eu queria ir depois do aniversário dela, pode ser?”. (risos) Aí o meu aniversário, eu transformei numa festa de despedida, pra ter o aniversário da minha vó Valdelis com ela, e aí mudei pra São Paulo no dia seguinte. E fiquei lá cinco anos e meio. Aí fiquei, trabalhei ainda mais um ano e pouquinho na FSB, como assessora de imprensa, descobri que uma colega minha, de pós-graduação, e um dos meus antigos professores da pós tinham ido trabalhar na Cosac Naify. Encontrei com uma colega por acaso, estava na livraria, procurando um livro, tal, e dei de cara com ela: “E aí? Não sei o que, não sei o que lá”. Trocamos telefone e tudo: “Vamos sair pra tomar uma cerveja”. Saímos e aí ela falou: “Eu estou trabalhando lá, na Cosac está passando por uma série de mudanças, então pode ser que daqui um tempo pinte uma vaga. Me dá, me passa seu currículo” e tal. E aí foi o que aconteceu. Uns meses depois, uns três, quatro meses depois, me ligou a coordenadora do Marketing, se eu não queria fazer uma entrevista. Eu fui, fiz a entrevista e aí, um mês e pouco depois, ela me ligou e fez uma oferta, que era pra começar em janeiro de 2012. E aí foi assim que eu, finalmente, consegui trabalhar com livros. Comecei com a Cosac Naify, que era, assim, uma editora que mudou o que a gente entedia de estética de livro no Brasil, né? Era uma coisa assim, eu falava: “Gente, como assim? Tipo, eu já comecei na Cosac?”. E aí foi um aprendizado incrível, assim: dois anos e meio na Cosac Naify.
P/1 - Vamos fazer o seguinte, Stephanie: dar uma pausa de dez minutos, quando a gente voltar, eu quero que você comente um pouco sobre essa parte da Cosac Naify e aí a gente continua, pra entrar no restante e você continua.
R - Essa parte aí é cheia de aventuras. (risos)
P/1 - Ótimo, ótimo! A gente quer ouvir essas histórias também. (risos)
R - Eu acho muito engraçado. Fica todo mundo assim: “Ai, meu Deus, como era trabalhar na Cosac Naify?”. Gente, era muito divertido, mas também era muito louco. De um dia a gente chegar e falar: “Entrou um livro novo, precisa de um projeto de ‘marketing’ pra lançar daqui um mês”.
P/1 - (risos) Me conta um pouco dessa sua experiência na Cosac Naify.
R - Então, eu fui pra Cosac em 2012 e eu era redatora do Marketing. Então, assim, eu estava muito animada, porque já conhecia a Cosac como leitora, aquela coisa assim, do tipo: achar os lindos livros e tal, e aí, finalmente, ver como é que acontecia a coisa. E eu lembro a primeira vez que eu pisei na sede da editora ali, em Higienópolis (bairro de São Paulo). Na época, era ali perto da Veridiana, do Mackenzie. Você entrava, assim, aí tinha as obras de arte da coleção do Charles no escritório. Então, era como trabalhar numa galeria. Um dia você chegava no trabalho e dava de cara com as esculturas do Farnese, com os quadros do Siron Franco. Na sala de reunião, tinha gravura do Tuga, sabe? E também foi um período que, pra mim, foi muito especial porque, assim, eu não só tinha desconto pra comprar os livros - porque eu era funcionária e eu formei uma bela biblioteca -, mas eu também li muita coisa que eu não leria por minha conta, sabe? Então, sei lá, eu tinha lido antropologia no início da faculdade e aí lá tinha uma coleção de antropologia. “Vamos reeditar um livro de antropologia do Pierre Clastres”, e aí, de repente, eu estava lendo um pouquinho de “A Sociedade contra o Estado”, pra poder escrever sobre os livros. Porque o meu trabalho era escrever o material que podia servir tanto pro jornalista fazer uma sinopse pra vender um livro pra imprensa, como podia servir pro Comercial treinar o livreiro, como podia servir pro pessoal da loja virtual fazer um cadastro. Então, assim, eu tinha que reunir as informações básicas de cadastro do livro e escrever um produtinho. Essa era a minha missão principal: sistematizar as informações do livro num conteúdo que fosse fácil de ler e que desse argumento de venda, que desse vontade de ler o livro. E aí eu circulava pela editora inteira, porque aí, uma hora eu ia conversar com o pessoal do Design, pra entender o diferencial do projeto; tinha hora que eu ia falar com o pessoal do editorial, pra correr um pouco mais atrás de informações sobre um autor ou sobre porquê aquele projeto ia ser, estava sendo feito daquela forma. E eram todos os livros. Então, assim, tinha época que era mais tranquilo, porque eram menos livros, aí dava pra gente pensar em outras coisas: conversava muito com o pessoal das redes sociais, com o pessoal de assessoria de imprensa, às vezes, pra trocar ideia do que a gente podia fazer, de divulgação. Mas também tinha essa questão, assim: ler, pra saber como escrever sobre o livro e trocar ideia com os editores, pra entender mais ou menos o que eles estavam pensando. “Por que aquela edição era daquele jeito?”, já que era um grande diferencial da editora os projetos super caprichados. Então, assim, foi um período que, sei lá, eu comecei a prestar mais atenção em literatura russa, porque fazia parte do catálogo. Comecei - só li um - livro de teoria do teatro, porque eu trabalhei na Cosac Naify, sabe? Então, foi quando comecei a ler livros sobre “design” também. Foi um período muito legal, porque abriu muito minha cabeça pra várias coisas. Até então eu lia muita literatura, mas era uma coisa assim: estou passeando na livraria, vi esse livro aqui que parece interessante e comprei. Lia poesia. Eu escrevi durante bastante tempo pra mim, assim, fazendo diário, cadernos e tal. Eu tinha um “blog” e durante um tempo até pensei: “Será que eu tento publicar?”. E o “blog” era assim: poesias, pequenas ficções, cartas fictícias. Fazia vários textos, assim, diferentes, pra testar, mesmo. Era uma coisa experimental, que eu escrevia pra me divertir. Mas quando eu comecei a trabalhar, ali em 2009, foi um período que, pra mim, ficou complicado, porque eu fui perdendo a vontade de escrever. Eu já tinha uma rotina muito agitada, né, pós-graduação e tal. Aí, depois, eu fui morar junto com meu namorado, tinha vida de casada. Então trabalhava e tinha que cuidar da casa, e aí eu fui perdendo, meio, essa coisa da escrita pública e passei um bom tempo com uma escrita íntima. E aí escrevia, sei lá, dois poemas por ano, mas também, quando eu comecei a acompanhar o mercado editorial de dentro e participar desses processos, eu ficava observando, por exemplo, que, sei lá, eu não tinha o menor interesse em escrever sobre determinados temas ou determinadas questões que eram reconhecidas como literatura de qualidade. Então, assim, mais uma vez, me senti uma pessoa deslocada, porque eu amava os livros, amava escrever, queria muito escrever, mas eu ficava assim, do tipo: “Gente, o que eu penso, o que me move, o que eu acho interessante é muito distante, sei lá, de um romance que conta sobre a história de uma aluna classe média paulistana”, sabe? Enfim. E aí é engraçado, porque enquanto eu trabalhava com os livros, foi o período que eu menos escrevi por livre iniciativa. Mas foi também um período que eu passei a refletir muito sobre como a gente fala de livros e literatura no Brasil, porque uma coisa que eu comecei a perceber era que, por exemplo, trabalhando na Cosac Naify, muitas pessoas que iam ter livros bonitos, de qualidade e bem traduzidos, muitas vezes, assim, reconheciam o valor daquele livro, mas não tinham condição de pagar o valor que aquele livro custava. E aí eu ficava observando assim, do tipo: “Poxa, até que ponto a gente não tem certo elitismo que distancia, às vezes, as pessoas dos livros”, sabe? E isso eu não estou falando da questão, sei lá, do preço do livro, mas estou falando, às vezes, como a gente fala dos livros. Porque as pessoas, às vezes, por exemplo, vêm na minha casa [que] tem pilha de livros, as pessoas olham e falam assim: “Nossa, você lê tudo isso?” e tal, não sei o quê. E aí, geralmente, vem os comentários do tipo: “Ah, tão bonito você gostar de ler”, como se fosse uma coisa, assim, que não é pra elas. “Legal que você gosta disso aí, eu não”. E eu acho que a gente tem muito pouca conversa na nossa sociedade sobre ler por prazer, por diversão. Você lê um romance porque, sei lá, talvez seja tão interessante quanto você sentar pra assistir uma série. E aí eram coisas que eu comecei a questionar nessa época e ficava pensando assim: “Então, vou escrever pra mim, é uma coisa que eu gosto, porque faz parte da minha vida, mas sem pretensões de publicar e me aventurar no mercado editorial”. Mas aí aconteceram coisas que foram importantes, por exemplo: eu estava na Cosac em 2012, quando saiu “Um Útero é do Tamanho de um Punho”, da Angélica Freitas, que foi um livro de poesias que me devolveu o gosto por ler poesia contemporânea. E aí, quando eu conheci a Angélica, falei pra ela: “Cara, tinha muito tempo que eu não lia um livro de poesia que me desse, assim, esse ânimo, me desse vontade de escrever”. E aí foi um período, assim, que ainda foi um longo amor, depois de eu voltar e falar: “Não, vamos escrever poesia a sério”. Isso só foi acontecer depois. Mas a Cosac foi uma grande escola pra mim, assim, no sentido de eu descobrir que poderia ler qualquer coisa. Eu não precisava, sei lá, estar na faculdade pra ler um livro de psicanálise e, se me der na telha e eu quiser ler um livro de divulgação científica, vou lá, leio e beleza. Isso expandiu muito os meus horizontes, os meus interesses. Foi muito bom ser desafiada dessa maneira, de conhecer tantos autores e pensadores que eu não leria e, sei lá, mudar esse registro do tipo: “Por que eu leio um livro de filosofia, se eu não estou fazendo pós-graduação? Porque sim, me interessa. Vou lá, ler”. Então, foi muito bacana. Tem grandes amigos que eu fiz na época da Cosac, até hoje, que são pessoas que moram no meu coração, enfim, e a gente compartilhou de momentos do tipo: vender livro na Festa do Livro da USP, até organizar bastidores da Flip. A gente fazia de um tudo, assim: era organizar eventos, acompanhar autor, ajudar a vender livro, porque de repente tem um monte de gente querendo comprar os livros na festa e a gente precisava de uma equipe grande pra atender. Era engraçado também ter esse contato com o leitor, você ver o livro ser feito ali, na cozinha, nos bastidores da editora, mas depois ver a pessoa pegar, manusear, olhar. Então, foi um período de um aprendizado muito grande. Às vezes, era um pouco caótico, porque ser o “marketing”, você vê gargalos, assim: um dia você é uma pessoa e tem oito livros. Mas, ainda assim, foi um grande período, que eu tinha que escrever muito, ler muito, assuntos muito diferentes e isso também conversava um pouco com essa cabeça de jornalista, né, que você não faz uma coisa só. Então, foi uma época assim, que depois que eu saí da Cosac, ainda fiquei bastante tempo me dando conta de como foi uma experiência de formação. Foi, sei lá, como fazer faculdade de novo, sabe? Porque era um intensivão, assim: muitos assuntos, muito densos. Foi uma época que, sei lá, eu aprendi a ler um livro infantil, com todo repertório que eu jamais teria. Sempre gostei de literatura infantil, de ver minha mãe trabalhar em sala de aula, mas é outra coisa, [diferente] do que você ouvir um autor de livro infantil falar do processo dele fazendo o livro. Então, foi um período que me ajudou muito a pensar o livro, em vários aspectos: tanto ele sendo feito, como ele sendo vendido, como ele sendo recebido; que, depois, eu acho que isso impactou na maneira quando eu pensei o meu livro. Quando eu finalmente escrevi o livro, eu tinha toda uma bagagem ali, que não fazia ideia de coisas que eu estava pensando sobre livro há muito tempo, que vem dessa experiência.
P/1 - E me conta um momento marcante dessa sua trajetória na Cosac Naify. Um momento que você lembra até hoje e pensa: “Caramba, eu passei por isso. Deu certo!”.
R - Assim, na Cosac, eu não costumava fazer muita linha de frente. Então, as minhas memórias são muito: acompanhar o projeto do livro e, de repente, ver o livro pronto. Por exemplo, pra mim é muito marcante “Um Útero é do Tamanho de um Punho”, que foi um livro que, assim, um dia a gente foi fazer uma reunião e falou assim: “A gente vai lançar esse livro mês que vem”. E, assim: “Gente, que livro é esse? Que título é esse?”. E aí eu me lembro que cheguei na sala da editora de poesia que cuida desse livro, que é a Heloisa [Jahn], que é maravilhosa, que é uma das pessoas também que eu amei muito conhecer. Conheci por causa dos livros e é minha amiga até hoje, na poesia, na tradução. E a Elô virou pra mim, falou assim: “Stephe, você é leitora de poesia, leva isso aquilo e lê, porque eu não vou conseguir te explicar esse livro. Então, você vai lá, lê o livro e depois a gente conversa”. E aí eu levei o livro pra minha sala lá, fiz um chá, sentei pra ler, né? E, assim, eu li o livro a primeira vez, de uma sentada e fiquei assim: “Meu Deus, o que essa mulher fez aqui? (risos) O que está acontecendo? Que poemas são esses?”. E aí eu voltei na sala da Elô, no dia seguinte, falei: “Elô, isso aqui, a gente não tem nada parecido com isso, a gente vai publicar isso aqui. Que incrível, meu Deus, cadê essa mulher? Eu quero dar um abraço na Angélica Freitas”. E aí foi um livro que a gente se empolgou muito lá dentro da editora. A galera que leu e notou, assim: “A gente está com um livro na mão, que vai mudar a poesia brasileira contemporânea”. Quantos momentos a gente tem, sabe, trabalhando, que você pega um livro e fala assim: “Esse livro aqui vai virar referência pra muita gente, sabe? Ou afetiva, ou de estudo, enfim, mas algo está acontecendo aqui, que não acontece todos os dias”. E uma outra lembrança que eu tenho, que aí é totalmente afetiva e que aí conversa totalmente com a minha infância, foi que quando eu estava lá na Cosac, surgiu um projeto de fazer os contos completos dos irmãos Grimm, sem as alterações, os expurgos. Os primeiros textos, mesmo, de 1800. E era traduzido direto do alemão. Aí era um livro que eu esperei, fiquei, assim, um ano esperando. Eu entrava na sala das editoras: “E aí, galera, como está o Grimm?”. Quando elas me mandaram o PDF, pra eu começar a ler, assim: “Gente, não acredito que eu, finalmente, vou ler os contos de fada traduzidos do original”, porque eu já tinha lido várias antologias de contos de fadas e sabia que tinha final alterado, cortado, que, originalmente, conto de fada não era pra criança. Mas, assim, era uma coisa muito afetiva na minha formação. Tanto ler conto de fada, quanto ler “Turma da Mônica”. Então, sabe aquela coisa de depois de adulta, reencontrar uma coisa que era muito especial pra mim, que eu amava muito. Assim, quando ficou pronto, saiu uma edição especial, que era, sei lá, setecentos exemplares, capa dura forrada de tecido, numa luvinha, que é uma caixa de plástico. Eu tenho essa edição. Tenho medo de ver até quanto ela custa, no sebo, hoje, porque é uma coisa assim, que não vai se fazer mais. Hoje em dia, essa edição existe, pela Editora 34 - é um livro muito lindo, também recomendo -, mas essa edição dos Grimm foi um livro que eu fiquei assim quando chegou. A Larissa, que era a menina que trabalhava na loja, falou assim: “Sobe, que chegou o Grimm. O livro que você tanto esperava!”. (risos) Todo mundo sabia. A galera passava na minha sala: “E aí, você já viu?”. Eu falei assim: “Vi. Já comprei o meu. Está tudo certo”, porque foi uma coisa que eu fiquei muito empolgada. Era uma coisa que eu queria muito ler, que eu achava que nunca ia conseguir ler. E é um livro que eu leio, releio até hoje, assim. Tem uns períodos que eu leio mais frequente conto de fada, paro, aí volto. E eu não consegui acabar. Eu li o tomo um inteiro, mas o tomo dois eu fico enrolando, meio que do tipo: "Putz, quando eu acabar aqui, acabou?”. Então, eu estou há anos, sabe, assim? Eu leio um pouquinho, uns dois, três, paro, aí dou um tempo, leio outra coisa. Aí fico feliz, bem. Mas, foram momentos, assim, muito especiais pra mim e que, sei lá, a minha vida de leitora também me trazia a sensação de que eu estava fazendo a coisa certa: eu era a pessoa certa, no lugar certo, vendo alguma coisa muito especial acontecer, sabe?
P/1 - Me conta um pouco sobre a Cartinha de Banalidades (newsletter). Como isso surgiu?
R - Bom, a cartinha foi um outro momento. O que aconteceu? Eu saí da Cosac. [Depois], trabalhei na Globo Livros, e aí eu fui demitida no comecinho de 2016. Aí meu relacionamento estava em crise e tudo, e eu estava me sentindo meio perdida na vida e tal. E aí, nesse período, minha vó Valdelis estava doente, piorando de um câncer e eu vim pra cá pra ficar com ela e com a minha mãe um tempo. Aí falei: “Sabe de uma coisa? Eu vou me separar e vou voltar pro Rio”. E aí teve esse processo, da gente começar, terminar e tal, trazer a mudança. Chegou um momento que eu meio que organizei minha vida aqui de volta, estava ‘freelando’, procurando ‘freelas’ e, de repente, eu estava tentando organizar uma série de coisas na minha cabeça, porque eu tinha trabalhado durante quatro anos e meio, quase cinco, em editoras incríveis, tinha visto vários livros legais acontecerem, via todo um debate sobre “marketing” digital e como fazer as pessoas se interessarem pelos livros. Porque a gente já estava vendo assim: ou a resenha de jornal; ou são as pessoas escrevendo nos seus “blogs”, tentando emular a mesma linguagem de jornal, aquela resenha objetiva ou, às vezes, quase acadêmica; ou os “booktubers”, e eu já sabia que isso não era a minha praia. Meu negócio é texto, eu queria escrever! E aí eu resolvi que eu ia fazer um “newsletter”, porque cartinha é um jeito descontraído de escrever. É uma escrita afetiva. Então, a Cartinha não é necessariamente uma resenha, mas ela é sempre um “newsletter” de indicações. Sempre tem alguma impressão de um livro que eu li, que eu me interessei. Às vezes, como um livro liga a outro, sabe? Você começa a ler, aí um autor menciona outro autor e você acha aquele livro, porque eu queria falar desse processo da vida de leitor em que, depois que os livros passam a fazer parte da sua vida, eles não são alguma coisa especial, distante, cara. Às vezes, ele até é uma coisa cara, que você tem que ficar de olho numa promoção, pra comprar. Mas, assim, eu queria fugir um pouco dessa lógica de todo mundo resenhando os lançamentos ao mesmo tempo. Todo mundo falando de um determinado livro da mesma maneira. Porque, às vezes, eu lia os livros e ficava assim: “Gente, não é possível que só eu li esse livro desse jeito”. Por exemplo, quando eu trabalhava na Globo, a gente começou a trabalhar a tetralogia da Elena Ferrante - é uma série maravilhosa -, que também foram aqueles momentos que eu falei: “Gente, isso aqui não é todo dia que a gente tem um livro maravilhoso desse! Isso aqui é um livro que vai disparar conversas e questões sobre estilos sobre como contar histórias e tal”. E aí eu me lembro que, quando eu terminei de ler a tetralogia, me apaixonei e eu li tudo em inglês, assim, que quando o tradutor entregou a versão dele pra edição, eu já tinha que ter o mínimo de planejamento de assessoria de imprensa pro livro. Então, eu acabei lendo tudo da tradução do italiano pro inglês, que aí o que aconteceu foi: eu li o primeiro; já tinha três, eu encomendei os três; e aí, depois, quando saiu o último, eu estava acabando de ler o terceiro. Foram meses, assim. Passei um ano lendo a tetralogia da Ferrante, completamente apaixonada por aqueles personagens. E aí eu ficava vendo as pessoas discutindo o livro, sobre: “Ah e você se identifica com a protagonista, com a amiga? Se identifica com tal ou tal e não sei o quê”. Eu falava: “Gente, a mulher está ali falando... É um livro que tem toda uma camada sobre o ato de narrar e eu fico vendo as pessoas debatendo a psicanálise do romance. Não vejo as pessoas falando sobre narração, sobre o poder do ato de contar uma história. Por que uma mulher resolve sentar e contar a história da vida dela e da relação dela de amizade com a melhor amiga dela, de infância, sabe? Considerando que elas não eram mais amigas, no fim da vida. Tem todo um jogo aí de como e porquê contar essa história”. E aí o “newsletter” vinha muito com essa inquietação, assim: eu queria falar dos livros de um jeito que não via as pessoas falando de livros. E eu queria poder fazer isso também, porque assim: o jornalismo sempre me pediu objetividade e o “newsletter” é uma coisa que é minha, eu que assino, faço. Então, assim, eu fico brincando nas redes sociais, do tipo: “Eu escrevo ‘newsletter’ pra falar absurdos”, mas, na verdade, é porque, assim, surgiu com essa ideia de não me levar muito a sério, entendeu? Fazer algo que eu gosto, falar o que gosto e não me levar tão a sério. E aí foi uma coisa que me surpreendeu, porque ela foi crescendo. Eu comecei em 2016. E é engraçado, porque a cartinha também me ajudou no processo de fazer o livro: me divertir escrevendo o “newsletter”, me deu coragem de voltar a escrever literatura. E aí, no início de 2016... Não, no início de 2017, fevereiro de 2017, eu fui fazer a oficina de poesia do Carlito Azevedo. Porque foi um período que eu estava aqui, ‘freelando’ e tal, pensei: “Poxa, eu já fiz tanta coisa pela minha carreira, pelo meu trabalho, que eu achava que ia ter algum objetivo, alguma finalidade, sabe, mas eu queria fazer alguma coisa assim pra mim, pra me divertir”. E aí eu falei: “Vou fazer a oficina de poesia, porque agora eu vou resolver, na minha vida, se sou poeta ou não”. Aí fui, comecei a escrever um livro no meio da oficina. Terminei o livro no final de 2017 e, em 2018, eu o inscrevi no prêmio literário da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e ganhei o prêmio. (risos) Então, assim, uma coisa que surgiu despretensiosa, de recuperar uma relação minha de escrever porque eu gosto de escrever, de compartilhar certas coisas da minha vida com as pessoas, acabou me dando coragem pra retomar alguma coisa. E, sei lá, às vezes parecia um sonho de adolescência, assim, sabe, da juventude: “Poxa, queria tanto escrever um livro um dia”. Jovem, não sabia nem sobre o que eu escreveria um livro um dia. (risos) E aí, sei lá, com 32, eu estava escrevendo poema sobre cabelo e ganhei um prêmio literário.
P/1 - Parece ter sido também bastante surpreendente pra você, né? Me conta como você reagiu quando você viu que esse livro, “Talvez Precisemos de um Nome pra Isso”, de repente, você ganha um prêmio literário. Como você se sentiu, com essa virada, digamos assim?
R - Assim, quando eu terminei o meu livro, sabia que ele era um bom livro, que merecia ser pelo menos publicado, mas eu falei: “Bom, só tem um jeito de eu saber se vou ganhar o prêmio ou não, que é me inscrever. E o pior que pode acontecer é nada. Me inscrevi, não ganhei, o que acontece? Nada. Agora, se eu ganhasse, podia publicar o livro e ainda ia ganhar uma graninha”. E aí, o que acontece? Eu conheci uma pessoa que concorreu; conheço a Rita Isadora Pessoa, que ela mora aqui no Rio. Ela é de Araruama (RJ), mas mora aqui no Rio já há algum tempo e a gente se conheceu, assim, nos eventos de poesia aqui, tal, e eu gosto muito do trabalho da Rita. E aí acho que isso também me deu confiança, porque eu falei: “Poxa, a Rita foi lá, inscreveu o livro dela e ganhou. Vai que eu tenho chance!”. E aí, o que aconteceu foi: eu inscrevi o livro e ainda conversei com algumas editoras, mas, na época, as editoras estavam passando bem por aquele momento das crises com as grandes livrarias, então tinha todo um enxugamento dos calendários editoriais e tal. Teve gente que chegou pra mim e falou: “Olha, Stephanie, agora eu só tenho calendário pra publicar em 2020”. E eu, assim: “Meu Deus, quanto tempo esse livro...”, sabe? E aí eu coloquei no prêmio Cepe e parei de procurar editora. Só que, mais ou menos na mesma época do prêmio, os editores leram e vieram falar comigo: “Ei, vamos fazer”. Eu falei: “Não, gente, agora vamos esperar, porque o prêmio Cepe - devia ter saído no final de novembro, mas atrasou - vai sair. Quando sair, eu vou saber como vai ficar a minha vida”. E aí foi assim: um dia eu estava aqui, varrendo a casa, meu telefone tocou (risos) e eu atendi meu celular. Aí me ligou a moça que trabalhava na comunicação da Cepe: “Oi, tudo bom? Você já viu o jornal hoje?”. Eu falei: “Não”. Aí, ela: “Acho que você devia olhar o Diário Oficial do estado de Pernambuco, porque você ganhou o prêmio”. Falei: “Não, espera aí, deixa eu sentar” e ela começou a rir. Eu falei: “Não, espera aí, espera aí! Vamos lá”. Eu fui, parei, encostei aqui minha vassourinha, liguei meu computador, sentei, abri e estava lá meu nome, realmente eu tinha ganho. Aí ela virou e falou: “Olha só, eu vou deixar você comemorar, mas faz o seguinte: escreve a sua mini bio e separa uma foto em alta, que eu preciso mandar pro jornal. E não conta pra ninguém, até a Cepe fazer os posts nas redes sociais”. Eu falei: “Você não está entendendo, eu preciso contar isso pra minha mãe, porque eu estou aqui, nervosa”. (risos) Aí ela: “Tudo bem, você pode contar pra sua mãe, mas a sua mãe não pode botar no Facebook”. Eu falei: “Pode deixar, isso aí eu aviso”. Aí liguei pra minha mãe: “Mãe, você está sentada?”. Ela: “Tem alguém passando mal? Aconteceu alguma coisa?”, “Não, mãe, é que eu ganhei o prêmio Cepe”. Ela: “Ai, meu Deus, você não está falando sério!”. Eu falei: “Mãe, eu ganhei! O livro vai sair!”. E ela: “Meu Deus, Stephanie, você para com isso, que eu vou chorar aqui no trabalho”. (risos) E eu assim: “Meu Deus, eu estou nervosa e estou sozinha, não vou mais conseguir trabalhar hoje e preciso escrever a mini bio [para] mandar pra Cepe”. Aí eu fui, resolvi essas coisas burocráticas e aí avisei minha irmã. A minha irmã falou: “Cara, você está pilhada, não vai conseguir trabalhar. Eu vou pra aí e vou passar o dia com você”. Aí minha irmã veio pra cá e ficou aqui comigo. Minha mãe chegou do trabalho e a gente abriu um espumante. A minha mãe desfila na Portela há muitos anos, eu já desfilei também, frequento a quadra, a gente tem uns amigos lá, a gente foi comemorar na quadra da Portela, no ensaio do carnaval 2019. (risos) E aí, em janeiro, eu resolvi a parte da edição do livro, a gente trabalhou a parte do contrato e foram as idas e vindas pra fazer os ajustes da diagramação, que o livro só tinha, mesmo, assim, mudança de revisão pra fazer. Não tinha uma mudança muito grande na estrutura. E aí meu editor, na época, o Wellington de Melo, depois me escreve e falou: “Olha, a gente vai fechar a capa e os detalhes finais do livro, mas acho que a gente não vai ficar esperando pra ele sair junto com os outros livros”, porque os outros ganhadores tinham sido romance e infantil e, antigamente, a Cepe lançava tudo junto, com o anúncio do outro prêmio. Então, assim, os vencedores de 2018 eram lançados no final de 2019, quando era anunciado quem ia ser publicado em 2020. Ele falou: “A gente vai adiantar seu livro”. Eu falei: “Você acha que dá pra ele ficar pronto pra Flip?”. Aí ele falou: “Acho que dá”. Eu falei: “Porque eu vi que vocês vão estar na Flip, então, se vocês conseguirem mandar o livro pra lá, eu consigo arrumar um lançamento”. Ele falou: “Beleza, eu arrumo um lançamento pra você”. E aí eu lancei meu livro, sei lá, aqui no Rio no dia 28 de junho e uma semana depois, estava lançando-o em Paraty (RJ). Então, assim, foi muito rápido. Depois que saiu o anúncio do prêmio, que eu entreguei a primeira revisão, foi muito rápido. Entre a gente diagramar o livro, escolher a capa, fechar tudo: quando eu vi, o livro estava pronto.
P/1 - Então, voltando, Stephanie, conta pra gente como foi, então, essa sua experiência com a Flip.
R - Então, a Flip é engraçado, porque eu acabei passando por várias experiências: em 2015 eu fui como assessora, acompanhando Richard Flanagan, que fez uma mesa, é um autor que ganhou o Man Booker Prize, na época ele tinha lançado dois romances pela Globo Livros. Então, eu fui só como bastidores, trabalhei a Flip inteira. Não consegui ver mesa e tal, nada. Aí, em 2016, eu tinha acabado de voltar pro Rio, não fui, mas aí eu queria muito ir pra me divertir, né, porque, enfim, vários amigos, aquele clima de Paraty, os escritores falando de literatura: é o tipo de coisa que eu gosto. E aí, em 2016, eu me organizei com uma amiga minha, a Ana, minha amiga desde a época da UFF inclusive, e aí a gente foi pra Paraty, ficamos na casa da comadre dela. Aproveitamos muito, assim, tipo: tomamos cerveja com os amigos, assistimos um monte de mesas, fizemos um monte de coisas, tal, e foi bom pra rever uma galera de São Paulo, o pessoal: “Você está 'freelando'? Posso te chamar pra fazer as coisas e tal?”. Eu falei: “Sim, me chamem. Vamos juntos! Se precisar, falem comigo”, que foi na época que eu estava começando a traduzir. Então, foi muito legal ter ido, não só pra me divertir, mas também pra reencontrar a galera que... Enfim, o pessoal: “Ah, você voltou pro Rio e a gente não sabe mais o que está rolando, o que você está fazendo”. E aí, em 2018, quando eu fui, já estava terminando o livro, então eu fui de novo pra me divertir, mas aí me convidaram pra fazer uma mesa sobre feminismo e ficção científica, na Casa Fantástica, e foi a primeira mesa que eu fiz. Foi um bate papo sobre feminismo "sci-fi'' e aí fui vendendo zines de poesia também. Fiz uma série de vinte zines, assim, de dez reais, falei: “Beleza”. Vendi tudo, gastei o dinheiro em livros e Gabriela, que é aquela cachacinha maravilhosa de Paraty. Cachaça com canela e cravo. Assim, gastei a grana dos zines, o lucro dos zines só em coisas muito edificantes. (risos) E aí, 2019 já foi totalmente diferente, porque eu fui com livro publicado e a gente fez um lançamento lá. Eu faço vários "freelas" pro IMS, pro Instituto Moreira Salles: traduzo pra revista deles os ensaios desde 2018. Aí eles me chamaram pra participar de uma mesa com a Grada Kilomba, então eu entrevistei a Grada Kilomba na Flip de 2019. Foi assim: eu lancei meu livro e duas horas depois eu estava entrevistado a Grada Kilomba. Assim, foi aqueles dias inacreditáveis, que você fala: “Meu Deus, eu não acredito!”, (risos) mas realmente aconteceu, temos fotos, temos a entrevista gravada. (risos) Há evidências de que tudo isso aconteceu! Então, assim, foi muito legal, porque teve o lançamento aqui no Rio e muita gente não pôde ir, mas tinha muita gente do Rio que estava em Paraty e o livro acabou na [Livraria] Travessa. Porque a gente pediu oitenta livros, falamos: “Oitenta livros de poesia, beleza”. Só que aí apareceram os leitores da cartinha, os ouvintes do meu "podcast", que eu comecei em 2019. Na verdade, era um "podcast" que já existia, quem criou foi o Orlando Calheiros, e eu entrei pra equipe. A gente acabou… A outro parceiro dele, que fazia, acabou saindo e ficamos nós dois; e a gente grava o Benzina até hoje. Então, assim, apareceu muita mais gente, quando eu vi: em duas horas, os exemplares da Travessa tinham acabado e aí em Paraty tinha mais livro, então teve mais gente que aproveitou, comprou, comprou pra dar de presente. Então, foi uma Flip muito agitada - a de 2019 -: fiquei muito feliz, assim, trabalhei muito. Teve momentos em que eu falei: “Gente, vou sentar pra tomar uma cerveja na beira da praia”. Desliguei meu telefone, porque a galera mandando mensagens querendo ver mesa tal: "Vamos nos encontrar não sei onde. Para num boteco aqui, assina meu livro e não sei o quê", chegou uma hora, sabe? E essa Flip, eu levei minha mãe, que ela nunca tinha ido. Era sonho dela ir à Flip. E aí, uma das minhas melhores amigas da época da Cosac, a Dani, quando eu ganhei o prêmio... Ela, hoje em dia, mora na Califórnia (EUA), e aí eu combinei, falei: “Vou gastar esse dinheiro indo te visitar”. A gente organizou a viagem e aí foi assim: eu fui pra Flip e, quando eu voltei, fui com a minha amiga pra Califórnia. Uns dez dias depois. E ela tirou férias pra isso. Ela veio pro Brasil, pra estar no lançamento do meu livro. A gente passou uns dias em Paraty juntas e aí, na volta, a gente foi pra Califórnia e fiquei lá três semanas com ela. A gente fez um "road trip" pela Califórnia, foi muito legal. E aí foi um momento muito incrível, assim, porque foi quando caiu a ficha que todo meu trabalho e, sei lá, desde estar na Objetiva, em 2008, como estagiária, até ter terminado o livro, sabe, as coisas pareciam finalmente estar se encaixando ali, estar se organizando na minha vida. Que, às vezes, a gente passa por esses períodos, você sai do emprego e fica meio: “Putz, mas eu ralei tanto”, mas o teu conhecimento é uma coisa que você leva com você. Não é seu cargo, seu salário que define. Então, assim como escrever o "newsletter" foi achar uma linguagem pra falar do meu amor pelos livros, indicar e ler, falar: “Gente, ler não é só você receber uma história, mas é participar, pensar a respeito, desconfiar do narrador, pensar: 'Puts, esse livro aqui levei anos pra ler, achando que era super difícil e ele é bem gostosinho de ler. Eu estava aqui intimidada, porque todo mundo disse que um clássico era uma coisa muito difícil'”, todas essas coisas foram amadurecendo ali, ao longo do tempo. E aí eu tive esse 2019 incrível, assim. Eu voltei... Fui pra Califórnia e eu fiz questão de ir em San Diego, na City Lights, que é a livraria onde começaram os saraus dos "beatniks". Então, eu fui lá bater cabeça, pedir a bênção, comprar uns livros de poesia e falei: “Gente, eu fui na City Lights! Eu não acredito nisso!”. Do Irajá diretamente pra San Francisco. E quando eu voltei da Califórnia, eu fui convidada pra falar do meu livro numa conferência internacional na Universidade de Colônia e aí, sei lá, dois meses depois de tirar férias, eu fui passar cinco dias na Alemanha, pra falar sobre o meu livro, numa conferência internacional. Foi a primeira vez que eu viajei pra Europa na minha vida, né? Um sonho que eu tinha, assim, que acabei realizando por causa do livro. E, assim, eu tenho uma grande amiga que mora no interior da Alemanha, longe de Colônia - a quatro horas de Colônia, tive que pegar um trem na cidade dela -, mas ela falou: “Ah, não, você vai descer em Frankfurt?”. Falei: “Vou”, “Então, vou pegar o carro e as crianças e vou te buscar”. Minha amiga mora lá desde 2016, a Rebeca. E aí ela foi me buscar. Eu passei o final de semana com ela e os meus sobrinhos, que eu não via desde que eles viajaram, desde que eles se mudaram. E passei o fim de semana com eles. Depois fui pra Colônia, fiquei mais dois dias lá, pra conferência. Então, assim, foi incrível. 2019 foi aquele ano, assim, que foram várias surpresas: o livro ser adiantado, eu conseguir lançar na Flip, ser convidada pra falar do livro em uma universidade na Europa. Só de pensar que, assim, tem meu livro numa biblioteca dos alemães lá, sabe? É muito doido isso. Mas acho que o grande barato desse livro, na verdade, é que eu consegui fazer uma coisa: dos livros que eu gosto de ler... A Toni Morrison fala isso, que quando não existe um livro que você quer muito ler, você tem que ir lá e escrever esse livro. E eu gosto de livros que despertam conversas. Então, assim, quando eu vou falar do meu livro... Antes, eu conseguia fazer isso presencialmente, agora não consigo mais, mas, sei lá, apareço, faço uma "live". Semana passada, eu fui convidada pra conversar com uma turma de Letras da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e aí as pessoas começaram a me contar as histórias delas com os seus cabelos. E eu fico pensando: “Gente, eu podia juntar todas essas histórias e escrever um outro livro", sabe? Mas é que, enfim, eu estou tentando mudar o assunto. Agora já escrevi sobre cabelo, já deixei a minha contribuição, outras mulheres vão fazer isso, outros homens vão fazer isso. Enfim, mas é muito legal isso. E as pessoas: “Aí tem esse poema que você está falando sobre fazer transição capilar e eu me lembrei quando cortei meu cabelo pela primeira vez, não sei o que, não deu certo” ou “Daquela vez que eu fui tingir, achei que ia dar bom e não deu. Eu fiquei arrasada, não sei o quê”. Então, é muito legal isso, ver como o livro desperta essas trocas, assim, com as pessoas.
P/1 - E me conta em relação a essa questão do cabelo. Você achou que deveria falar isso por uma necessidade íntima, própria ou você também observou alguma questão externa, que te levou a falar sobre isso e acabou despertando isso nos seus leitores também?
R - Não. Na verdade, eu resolvi escrever sobre cabelo, totalmente por acaso porque, o que aconteceu? Há muitos anos, meu ex tinha falado pra mim: “Ah, você devia escrever um livro infantil sobre cabelo”, que ele é ilustrador, né? Então, eu falei: “Será?”. Eu cheguei a rascunhar, mas não gostei. Eu acho [que] escrever pra criança [é] mais difícil do que escrever poesia, porque a gente não pode subestimar a inteligência e a sensibilidade da criança. Mas, assim, eu fiz relaxamento durante dez anos. Eu comecei a alisar meu cabelo com doze anos, parei, tentei parar a primeira vez com 22, 23 e depois eu só consegui parar mesmo com 25. Foi quando eu comecei a acertar a rotina, tal, e achei um salão que me ajudou a entender como cuidar, sem ter que recorrer à química pra tirar volume, pra desfazer os cachinhos. Aí ficou tudo certo. Mas, assim, quando eu estava fazendo oficina de poesia lá no Carlito, estava muito impactada, na verdade, por uma sensação de insegurança e de colapso, do tipo: Brasil vinha caminhando, assim e aí veio o “impeachment” [da Dilma Rousseff]. E aí a gente começou a ver uma série de mudanças conservadoras, eu falei: “Bicho”, com aquele sentimento assim de fim de mundo, sabe? E eu estava tentando escrever sobre isso, porque, assim, várias mudanças na minha vida tinham acontecido meses antes, coisas que eu tinha achado que iam super dar certo e não deram. Tive que me readaptar e tal, não sei o que, mas o país estava numa situação que estava muito difícil ter sonhos e planos, né, e aí eu estava lá, tentando escrever poesia. Quer dizer, eu estava tentando escrever poesia justamente sobre essa sensação de insegurança e também estava tentando escrever poesia pensando o corpo, mas não necessariamente pensando o corpo a partir dessa coisa: “Sou uma mulher, logo, aparelho reprodutivo”. Não estava querendo pensar o corpo da mulher a partir de maternidade e sexualidade. Eu estava tentando pensar assim: ter um corpo de mulher nesse mundo que a gente tem, que é atravessado de machismos e racismos, enfim, faz com que a gente pense o nosso corpo de uma maneira muito específica. Então, assim: como a gente fala nesse corpo? Porque às vezes a gente não tem nem linguagem pra certas experiências, pra certas coisas que a gente vive. E aí, o que aconteceu foi isso: Carlito estava lá, estimulando a gente a escrever um poema que trouxesse diferentes pontos de vista, diferentes linguagens. Estava muito numa de pensar assim: hoje, você, contemporâneo, abre o seu celular e recebe notícia, meme, piada dos seus amigos no WhatsApp. Então, assim, você está sempre mudando de linguagem e de registro, o tempo todo. Você responde uma mensagem de trabalho. Por que a poesia não trabalha também essa experiência? Essa era a proposta que ele estava levando pra gente, na época. E eu gostei disso. Só que, assim, eu lia os poemas, estava insegura e ele falava: “Olha, você precisa achar um assunto, alguma coisa que te mova, que te incomoda, que aí você vai naquilo”. E aí eu estava assim: “Ai, gente, mas como?”. Não queria me expor, escrever alguma coisa que fosse exatamente sobre mim, eu falei: “Ah, vou escrever sobre cabelo”. E aí eu comecei a anotar esse poema sobre cabelo, que é o primeiro poema do livro. E aí um dia eu sentei, organizei várias coisas, assim: pesquisa, coisas que eu queria colocar e sentei e escrevi o poema todo, assim, de uma sentada, aí dei uns dias pra ele, reli, cortei algumas páginas e aí, quando eu vi, na oficina, depois o Carlito virou pra mim e falou: “Cara, está muito bom, você tem que continuar”. Mas, assim, é muito curioso porque, o que acontece? O meu cabelo é político, mas ele não é político por si só: ele é político pela maneira como o mundo se configura. O que eu queria era escrever sobre o cabelo, então falei assim: “Olha, num certo aspecto meu cabelo é político, mas muitas vezes ele só é cabelo e eu só quero ser uma pessoa que, sei lá, não vou passar o resto da minha vida brigando contra meu cabelo todos os dias, sabe?”. Então, eu escrevi o poema muito pensando sobre essas coisas, assim: como, em certos aspectos, a gente precisa discutir certos temas sobre o racismo, a indústria da beleza, a pressão estética em cima das mulheres especialmente, sabe, porque, sei lá, tem mulher de cabelo liso que não pode deixar branco. Se você não sofre pressão pra alisar, você tem a pressão de não poder envelhecer publicamente. Mas também queria fazer isso de uma maneira do tipo: “Olha, estou colocando aqui todas essas questões [que] não têm respostas, cada um vai arrumar um jeito de lidar, mas o que a gente precisa parar pra pensar é: por que a gente vive numa sociedade que está fazendo a gente brigar com o nosso corpo o tempo todo”, sabe? E era meio isso, assim, a ideia do livro.
P/1 - Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Benzina, como isso surgiu. Você falou que, na época, já estava acontecendo. Como você entrou. E também sobre os episódios em que vocês abordaram religiões de matriz africana, afrofuturismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu envolvimento com esses temas.
R - Beleza. Assim, não estava nos meus planos (risos) ter um “podcast”, mas o que acontece é assim: numa dessas minhas preocupações de ler sobre temas diferentes, eu acabei lendo o “Metafísicas Canibais”, do [Eduardo] Viveiros de Castro, que é um livro de antropologia bem denso, inclusive, mas que tem todo um pensamento sobre tradução. Eu fui ler por causa disso, né? Sou tradutora, não tenho formação em Letras, traduzo porque eu sou poeta, jornalista e sou leitora. E aí comecei a pesquisar, assim, tradução e antropologia. Fui ler esse livro do Viveiros de Castro e aí, por acaso, alguém que eu conhecia, seguia o Orlando no Twitter. O Orlando estava gravando o “podcast”... E, antes disso, quando o livro ficou pronto, um pouco antes do livro ficar pronto, na verdade, um pouco depois que o prêmio saiu, eu sempre fui criada na igreja e então, assim, essa questão de ter uma vivência, uma religião, é uma coisa que me foi cara durante muito tempo. Eu fiquei um bom tempo sem ir pra igreja, aí depois eu fui pro Kardecismo. Eu não estava feliz no Kardecismo e aí, um dia, conversando com uma amiga minha, ela virou e falou assim: “Ai, cara, você devia ver um terreiro”. E, assim, nesse processo do livro, eu fui começar a ler “Os (Zitãs?)”, sabe, porque aí eu fui pensar: “Pô, como é que é a relação... Onde estão as mulheres negras?”, elas estão no candomblé. E aí, quando está lá falando da beleza das orixás, não tem nenhuma referência aos cabelos delas, porque o cabelo não é uma questão. Quem se preocupa com o cabelo é essa estética europeia, ocidental, no padrão de beleza branco, liso, né? Cabelos, sei lá, esvoaçantes. E aí, nessa época, eu fiquei sabendo que a minha prima estava frequentando um terreiro de umbanda e eu comecei a frequentar, tal, e aí o Orlando falava de duas coisas que me interessava, que era antropologia e macumba. (risos) Aí eu comecei a segui-lo no Twitter e a gente começou a conversar, porque às vezes eu ouvia os episódios e conversava com ele, mandava mensagem, falava: “Olha...”. Depois eu descobri que ele era um grande amigo da minha ex-cunhada, que também é uma pessoa maravilhosa. Ela e a minha irmã terminaram, são grandes amigas até hoje e é [uma] pessoa que eu considero minha amiga também, que eu adoro. Então a gente meio que descobriu, na verdade, que nunca tinha se conhecido no Rio de Janeiro, por um acaso, porque, sei lá, eu fui morar em São Paulo em algum determinado momento, tal. Que era bizarro! Tinha vários amigos em comum e a gente nunca tinha se esbarrado. Mas aí ele me chamou, que aí a gente começou, ele estava falando que queria falar um pouco sobre algumas questões de feminismo, mas que ele não tinha lugar de fala pra falar e ele disse: “Eu vou ficar indicando leitura aqui, sei lá, de feministas, sem ter uma mulher no programa. Isso é meio ridículo. Você não quer vir, um dia, gravar?”. E aí eu falei: “Beleza”. Ele falou: “Vamos gravar sobre afrofuturismo”, que eu tinha comentado com ele. Eu falei: “Você fica aí falando sobre filosofia e macumba, precisa ler mais autoras negras. Você gosta de ficção científica, tem que ler Octavia Butler e tal”. E ele falou: “Não, beleza, vamos gravar um episódio”. E aí a gente gravou um episódio sobre afrofuturismo e deu super certo. A gente se divertiu muito, porque a gente tem um ritmo muito parecido, de trocar ideia. E aí ele leu as dicas que eu dei no programa, tal, e falou: “Cara, eu queria muito que você ficasse de vez”. Aí eu virei pra ele e falei: “Cara, então, só que tem o seguinte: você quer que eu fique, mas daqui a dois meses eu vou passar três semanas fora. Então, assim, ou você relança o programa depois que eu voltar de férias, ou... Sabe, a gente precisa chegar numa solução”. Aí ele falou: “Não, então, você se incomoda de deixar gravado?”. Eu falei: “Não”. Aí a gente convidou o Luiz Antônio Simas, que é um autor que a gente admira demais. A gente fala que, formalmente, ele é o padrinho do Benzina, porque foi a primeira entrevista longa que a gente fez. E aí foi muito legal! A gente fez um episódio especial com ele, sobre samba, macumba, sincretismo religioso, que foi demais! E aí a gente deixou alguns programas gravados, eu fui pra Paraty, depois fui pra Califórnia, quando eu voltei, a gente retomou a agenda de gravação e tinha, assim... O nosso planejamento era ir falando, assim, de ficção, de religiões de matriz africana e também de filosofia, a partir de comentários de notícias. Mas aí, o que aconteceu? A gente seguiu esse fluxo, mais ou menos, ali, até o início de 2020 e veio a pandemia. E aí, assim, o Orlando é Ogã num terreiro de umbanda, ele toca atabaque. Eu frequento, enfim, terreiro. A gente tem toda essa nossa conversa sobre... Por exemplo: a gente vem do subúrbio carioca, que, assim, até uns anos atrás, tinha terreiro em tudo quanto era canto; se não era terreiro, tinha ali uma preta velha benzedeira, entendeu? E isso era muito normal, convivia com a igreja, com o catolicismo. Era muito comum, assim, sei lá, ter uma vizinha católica, aí você tem alguma coisa esquisita, ela vira pra você: “Não, você vai lá naquela vovó, que ela vai rezar você, tal, e aí você aproveita, reza uns Pai Nossos, Ave Maria, acende uma vela”. A gente cresceu nesse universo. E aí, hoje em dia, a gente está vendo uma coisa como se, nossa, essas coisas não pudessem conviver. Teve esse crescimento de uma Teologia da Prosperidade, que se propõe também a uma coisa muito purista, assim: “Só tem um jeito de você ser cristão” e esse seu cristianismo bane outras possibilidades, que muitas vezes é muito preconceituoso e muito agressivo. E a gente vê isso na questão do ataque aos terreiros. Então, eu fico brincando com o Orlando que, assim: “Nosso trabalho, mais ou menos, é assim: a gente está fazendo o trabalho do orgulho do intelectual suburbano”, porque a gente não vem da área nobre. Ele vem de Padre Miguel e eu venho do Irajá. A gente saiu do subúrbio, circulou por aí, morou em outras cidades, eu fui pra São Paulo, ele foi pra Brasília, sabe? A gente fez faculdade, trabalhou num monte de lugar, ganhou prêmio, tal, não sei o que, e a gente está de volta, depois de circular pelo mundo e ver várias coisas. A gente volta com esse olhar, do tipo: “Cara”. Mas existe um problema no Brasil, que é justamente: quantas pessoas são como nós, que, às vezes, são a primeira pessoa da sua geração a fazer uma universidade pública, sabe? Que a família, às vezes... A minha mãe fez universidade antes de mim, porque ela fez enquanto eu estava no ensino médio, sabe? Mas, assim, durante muitos anos foi uma questão muito importante pra minha mãe: “Meu sonho era fazer faculdade e eu não fiz, você e a sua irmã vão fazer e isso não é negociável”. E aí, assim, a gente passa por esses processos e tal, de uma construção da nossa vida, que aí, por exemplo, a gente fazia faculdade e arrumava um emprego na zona sul e as pessoas ficavam esperando o dia em que você vai migrar, que vai embora do subúrbio e vai fingir que nunca foi suburbano na sua vida, entendeu? (risos) E a gente queria combater isso, queria dizer justamente que o suburbano nada mais é do que o grande cidadão do mundo, porque ele é o cara que sai e vai andar no centro da cidade, sabe se virar na Gávea, em Copacabana, sabe? É esse sujeito que circula em tudo: na literatura, nas religiões. Então, assim, a nossa amizade meio que foi se acertando nesse processo de fazer o “podcast” e a gente entender as coisas que a gente compartilha, mas as ideias que a gente queria trazer pro público, justamente de, por exemplo, combater certos elitismos. Por exemplo, na nossa adolescência, a gente ouviu muito "funk", sabe? E a gente falava assim: “Pô, tem que se discutir. As pessoas querem criminalizar o ‘funk’, a gente tem que debater a criminalização do ‘funk’, porque ela nada mais é do que um…”, como tentaram criminalizar o samba, há uns anos. Ou ainda: as pessoas acham que o samba só é político durante o carnaval; quando o samba, a vida que se cria em torno de uma escola de samba, não só gera emprego, mas rede de solidariedade, de socialização, uma vida na comunidade, que é super importante pras pessoas que estão ali, no entorno, sabe? Então, a gente queria falar dessas coisas que nos interessam e mostrar, assim, que essas são as coisas, como o Simas fala, que ele é contra o Brasil, mas é a favor da brasilidade. Então, assim, esses elementos da brasilidade que são o que fazem a gente ter orgulho, sabe? Tipo: é essa coisa que, sei lá, estão tentando matar, da alegria do brasileiro, de curtir, fazer um churrasco com os amigos, tomar uma cerveja, ir prum samba no final de semana, sabe? Tem todo esse projeto aí de tristeza e adoecimento coletivo e de discurso de morte, que é, justamente, contra essa nossa capacidade da gente conviver com a diferença. A gente convive com a diferença há muito tempo. E eu acho que, assim, [é] uma das nossas questões, porque, assim: o Benzina é um homem branco e uma mulher negra gravando. A gente está ali também pra mostrar que esse diálogo é possível. Às vezes ele é incômodo, às vezes a gente discorda. Às vezes eu fico brincando com ele, eu falo assim: “Pô, cara, você está aí, sei lá, falando de um monte de filósofo branco europeu, tudo bem que você está criticando, mas você precisa ler umas autoras negras”. Mando uns livros pra ele. (risos) Então, a gente vai nessa troca, mostrando que a gente discorda, mas a gente também se diverte e, assim, enquanto essa troca for bacana pra gente e pra quem está ouvindo, isso faz muito sentido, sabe? A gente quer muito que as pessoas, assim, às vezes, ouçam Benzina e pensem, sei lá: “Putz, nunca me ocorreu ler um livro de ficção científica e achar que isso tem alguma coisa a ver com filosofia”, mas tem e pode ter, sabe? A gente precisa se autorizar [a] fazer as coisas. Então, assim, é muito nesse sentido de tentar combater um certo racismo epistêmico e científico, religioso, mas propondo pras pessoas que é uma questão de olhar: “Pra onde você está olhando? Quais são as suas referências? Onde as suas curiosidades te levam?” Porque a gente não está dando aula pras pessoas, a gente está chamando-as pra olhar as coisas com uma outra atenção. Então, assim, ano passado, quando a gente se viu sem terreiro, sem festa, no meio da pandemia, sem ter a menor perspectiva de quando a gente ia poder voltar, a gente falou: “Cara, já que nós estamos sem macumba, vamos fazer a macumba aqui”. Então, a gente sentou, organizou um cronograma: quais orixás a gente ia falar, quais histórias de cada orixá a gente ia contar nos episódios e começar a olhar como essas histórias nos convidam a pensar a nossa vida. Então, não é que você vai ouvir o Benzina… Você não precisa nem acreditar, sabe? Mas a ideia é transmitir o saber, que, muitas vezes, ainda é tratado como alguma coisa demonizada, perigosa, proibida. Então, assim, a gente não está contando nada ali de fundamento teológico, de vivência de terreiro, mas está explicando pras pessoas como é pensado o início do mundo na visão Iorubá: “Como é que se lida com a velhice? Como é que se lida com a doença?”, porque são questões que afligem a humanidade desde sempre, mas que eu acho que a gente precisa pensar especialmente agora.
P/1 - E conta um pouco sobre essas questões de vocês trazerem isso. Vocês acham que isso, de certa forma, é uma tentativa de abrir os olhos das pessoas, digamos assim, ou os ouvidos, no caso, né, do “podcast”, pra essa ideia do sincretismo religioso, dessa questão da aceitação das diferenças?
R - Eu acho que, assim, a gente está convidando as pessoas a prestarem atenção em coisas que elas não pensavam antes. Então, eu fico pensando, por exemplo: várias pessoas que agora, né... A gente fez um primeiro ciclo, com os principais orixás do pensamento Iorubá, do Candomblé Nagô. E aí é muito curioso, porque várias pessoas falam assim: “Ah, eu nunca fui a um terreiro, mas agora que ouvi o Benzina,fico pensando que, assim, talvez, se alguém me convidasse antes de eu ouvir, [se] eu não fosse, ia ficar com medo”. Então, eu acho que a gente está ali, sempre trabalhando com essa lógica do encontro e o encontro é uma coisa que faz você, às vezes, parar e pensar: "Putz, antes eu tinha uma ideia preconceituosa com relação a isso. Agora mudei de ideia [e] vi que não é bem assim, vi que não é perigoso, que não é tão diferente assim do que eu pensava”. Eu acho que isso faz parte de todo processo, porque, assim: a gente, hoje, está vivendo num mundo que as pessoas estão tentando colocar a diferença entre as pessoas como se fosse alguma coisa definitiva. Então, sei lá, a gente vê todo um acirramento de discurso de ódio, sabe? E, assim, quando a gente para pra fazer a matemática, o lado prejudicado somos nós. (risos) Assim: quando a gente para... Eu, mulher negra, poeta, umbandista. Nesse grande reino das opressões que estão tentando transformar isso aqui, eu estou seriamente prejudicada nesse negócio. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, observa que, por exemplo, até algumas pessoas que têm, se identificam, sei lá, como centro-direita, estão achando que tem que ir pra um certo lado do espectro político, porque não se identifica com a esquerda tradicional. E a gente está tentando dizer assim: “Cara, observe bem, assim, se não estão tentando manipular você pelos seus valores, porque valores de família o candomblé e a umbanda também têm, sabe? O que a gente tem é uma outra relação, por exemplo, com a sexualidade das pessoas, porque a gente não tem o conceito de pecado, mas a importância da família, da convivência, do respeito com os mais velhos, tudo isso faz parte da nossa visão de mundo”. Agora, se a pessoa está simplesmente assim, sei lá: “Sou cristão, não vou nem conhecer”, como é que essa pessoa vai saber disso? Quando a gente está falando, sei lá, que o candomblé e a umbanda pensam uma outra relação com o corpo, que não é essa de que o nosso corpo é sujo e pecaminoso. Quais outras possibilidades a gente tem de viver a nossa vida, sem tentar regular o corpo, o afeto e a sexualidade do outro? Então, assim, a gente vai muito nessa tentativa de chamar as pessoas pra observarem que, sei lá, a gente é criado de um jeito, mas não precisa ser daquele jeito o tempo todo: pode questionar, rever, abrir os nossos horizontes. E, assim, eu e o Orlando, na produção do “podcast”, está aprendendo muita coisa também, porque aí, sei lá, uma hora eu estou lendo o Muniz Sodré, aí mando fotos do meu Kindle pra ele: “Olha isso aqui que eu estou lendo, amigo! Vamos ler também”, tal, e ele me manda dicas de filmes pra eu assistir. Então, a gente vai nessa troca. Às vezes, a gente olha algumas coisas e vai vendo o quanto a gente vai aprendendo também. Por exemplo, essa pandemia foi muito desafiadora, no sentido, tipo, de ter que fazer as coisas dentro de casa, de luto. E aí chegou a hora que a gente chegou e falou: “Bicho, não dá! Tem que diminuir o programa”. A gente estava gravando toda semana, não tem condição de gravar toda semana, gravar de quinze em quinze. “Vamos fazer uma temporada e dar um tempo”, e a gente foi se organizando. Mas eu acho que, assim, como a gente tem muitos interesses, que passam por várias coisas, e está num momento que tem muitos problemas no mundo… A gente sabe que não vai resolver todos, mas se conseguirmos fazer com que os nossos ouvintes parem pra refletir sobre algumas questões do dia a dia deles, das convivências deles, das escolhas que eles fazem e pensar assim: “Pô, quantas coisas que eu posso fazer, pra contribuir pra que o mundo seja menos pior, pra que ele melhore um pouquinho? O que eu posso fazer, no meu dia a dia? Vamos lá, vamos fazer”. Porque a gente tem essa lógica cristã que é assim: ou vem alguém nos salvar ou parece que a gente tem que dar conta de tudo; e a gente não tem, a gente tem que se juntar com as pessoas e construir as coisas coletivamente. E isso é uma coisa que todo mundo tem falado muito desde 2018 e que, nesse momento, é especialmente difícil. A gente está doido pra poder se juntar com as pessoas, mas não está podendo. Mas eu acho que, assim, a gente precisa olhar... A questão do Benzina é muito isso: convidar a pessoa pra olhar pras possibilidades individuais dela e, em vez de ficar se sentindo culpada por uma série de coisas. Ela parar pra olhar pra vida dela e falar assim: “Beleza, o que eu posso fazer? Eu posso apoiar um ‘podcast’, posso me engajar com, sei lá, a questão ambiental”. Ou a pessoa vira e fala: “Não, a minha questão é, sei lá, educação”. Ou a outra: “Eu quero defender o SUS”. Cada um descobre alguma coisinha que ela possa fazer. A outra quer se engajar contra a intolerância religiosa. E a gente vai descobrindo essas coisas e como a gente pode contribuir de uma maneira positiva. Eu acho que o Benzina tem muito essa coisa dos afetos positivos. A gente tenta lembrar as pessoas, justamente, de que a alegria é importante, o axé é importante e eles só funcionam quando a gente põe pra circular, troca, comunica. Então, assim, se a gente entrar nessa lógica de ficar se sentindo culpado e achar que a gente tem que dar conta de tudo, a gente não vai e fica triste, se sentindo impotente. É justamente o que as forças fascistas querem. Então, é um equilíbrio muito delicado, mas a gente está sempre tentando inspirar as pessoas ali, de alguma maneira.
P/1 - Bom, então, Stephanie, a gente vai pro bloco final da sua entrevista. Primeiramente, quais são seus sonhos pro futuro? Seus sonhos pessoais.
R - Olha, meus sonhos pessoais são: voltar a escrever poesia com regularidade, porque foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de fazer nesse isolamento social. Assim, escrevi alguns poemas, mas sinto falta de um projeto, sabe? De ter uma ideia que me dê um ânimo, assim, pesquisa e tal. Então, quero muito encontrar em algum momento, aqui, esse momento de priorizar a poesia de novo, porque é uma coisa que confere sentido à minha vida. E, assim, a poesia já me deu mais coisas do que eu poderia esperar. Acho que o mínimo que posso fazer é continuar escrevendo. Eu tenho pensado muito na possibilidade de agora começar a estudar tradução de verdade, porque eu já tenho uma bagagem aí como tradutora de teoria feminista, tradutora de poetas negras, que é considerável, e aí estou pensando se eu sigo por esse caminho de sistematizar um pouco essa minha experiência, porque eu sei que eu tenho uma experiência que é bem particular dentro desse momento que a gente está vivendo, do mercado editorial valorizando as produções das autoras negras e sendo uma autora negra que traduz autoras negras. Então, esse é um dos meus planos. Assim, mas eu, agora, estou num momento, também, que eu quero dar uma organizada na minha vida, porque, assim, eu tinha esses planos que a pandemia meio... Meu plano era, sei lá, falar do meu livro em escola, viajar, fazer lançamento (risos) e tudo isso foi atrapalhado. Então, eu estou tentando, na verdade, agora, organizar a minha vida pra que ela seja mais tranquila, sabe? Estou namorando, quero curtir meu namorado, quero viajar. Quero organizar outras férias. Eu tenho um sonho de conhecer a Bahia, eu quero ir à Bahia. (risos) De repente, lançar um livro lá. Esse tipo de coisa, assim, eu tenho pensado. Eu sou uma pessoa, que, de certa forma, tenho sonhos que são práticos, que eu posso realizar, porque também fico pensando que existem sonhos que, se a gente fica deixando assim... É uma ordem de grandeza que você não consegue realizar, você fica frustrado. Então, sei lá, era meu sonho escrever um livro. Beleza, esse eu consegui fazer. Era meu sonho, se alguém falasse assim: “Você acha que um dia você vai ganhar um prêmio, vai gastar, fazer uma viagem dos sonhos, com uma das suas melhores amigas?”. Não, mas a partir do momento que esse dinheiro bateu na minha conta, eu falei: “Opa, é agora! Esse é o momento. Vamos lá!”, e tanto foi o momento que, depois, meses depois, veio a pandemia. Então, assim: realmente fiz na hora que tinha que fazer. Mas então, eu penso muito nisso, dessas coisas assim: organizar a minha rotina e poder, sei lá, resolver que todo dia de manhã eu só vou ler e escrever poesia. Assim, as pessoas podem falar: “Nossa, que sonho esquisito!”, mas eu já entendi que sou uma mulher esquisita. (risos) Se eu não fosse esquisita, não estava escrevendo e traduzindo poesia. Mas, assim, poder me permitir isso, sabe, no meio de uma rotina, numa série de compromissos. Daqui um tempo - eu moro com a minha mãe desde 2016 -, ter a minha casa. Assim, às vezes eu fico pensando que talvez não seja o caso de sair do Rio, porque, enfim, eu amo o Rio de Janeiro, mas tenho uma relação muito difícil com a cidade: acho tudo muito caro, que a vida está ficando cada vez mais difícil. Então, às vezes, quando eu penso em ter a minha casa, fico me perguntando se não é o caso de sair daqui e ir pra uma cidade menor, sabe? Se eu volto pra São Paulo, não sei. Estou ainda em aberto. Algumas coisas eu tenho bem definidas, do que eu quero fazer; outras, eu estou tentando chegar no meio do caminho de como eu vou tornar essas coisas realidade. Porque, pra mim, eu acho que, talvez, quando conto a minha história, pode parecer que, assim: “Nossa, de repente, foi tudo muito certinho, não sei o quê”, mas as coisas foram caminhando. Porque tem sempre essa questão, do tipo: “O que eu posso fazer agora, realizar?”. Eu sou uma pessoa que eu tenho isso, assim, uma pessoa muito do fazer. Então, sei lá, um poema terminado é melhor do que um poema abandonado. Tem que terminar o poema primeiro. Tipo, chegou uma questão num momento, pra mim, que eu estava travada, no meio do livro, que era acabar: “Eu preciso acabar esse livro, porque eu preciso saber como ele termina”. Assim, nesse momento, diante de tudo que a gente está vivendo, é claro que eu queria poder estar sonhando com algumas outras coisas, do tipo, sei lá, estudar poesia fora do Brasi, mas não é uma coisa que eu consiga conceber agora. Mas que, se daqui a um tempo for mais fácil conseguir pensar numa coisa dessas, quero, vou, sabe? Então, nesse momento, eu estou pensando em coisas menores, mas que vão ser boas pra mim e que têm a ver com continuar esse caminho da poesia, da literatura, de conversar com as pessoas, de tentar inspirar as pessoas.
P/1 - E quais são as coisas mais importantes pra você, hoje em dia, Stephanie?
R - Olha, eu acho que hoje a coisa mais importante pra mim é sossego. (risos) Assim, eu acho que 2020 foi um ano que me ensinou que não adianta, sei lá: você está na sua casa, mas se não tem paz, você não fica bem nem na sua casa. Eu trabalho em casa há muito tempo. Então, assim, eu tenho o hábito de ficar em casa. Mas o que acontece? Eu tenho momentos que a minha concentração fica saturada, não consigo mais ficar na frente do computador, trabalhando. E aí, o que eu fazia, nesses momentos? Eu saía, ia passear, ia pegar uma praia em plena quarta-feira. Porque a vantagem de morar no Rio de Janeiro é essa: você sai pra pegar uma praia no horário que as pessoas não estão indo pra praia. Então, assim: saía aqui depois do almoço e ia rapidinho na praia, dava um mergulho, ficava lá, pegava um sol, voltava e tal, ia pro centro da cidade, ficava zanzando lá no Ccbb (Centro Cultural Banco do Brasil), sentava num café, no Centro do Rio, ia na livraria encontrar meus amigos livreiros, ficar lá batendo papo. E eu perdi tudo isso. Então, assim, o que a pandemia me ensinou é que o sossego é uma coisa muito importante e que, sei lá, o dia que eu fico “off-line”, paro pra cuidar das minhas plantas ou o momento que deito aqui no sofá, com a minha cachorra, de conchinha, pra ver uma série na Netflix e estou de boa, não estou preocupada com trabalho, com prazo, sabe? Estou ali, curtindo o momento.
P/1 - E por último, Stephanie: como foi você contar a sua história de vida pra gente, hoje?
R - Olha, foi bem legal contar a história pra vocês, porque eu fiquei pensando, falei: “Gente, será que eu tenho isso tudo pra contar de história?”, e descobri que eu tenho muito mais história do que pensava. (risos) Fiquei emocionada, principalmente falando das minhas avós, que eu perdi minhas avós, que são pessoas de quem eu sinto muita saudade. Minha vó Jurema morreu em 2008; minha vó Valdelis morreu em março de 2020, um pouquinho antes dela morrer, quinze dias depois foi decretada a pandemia. Então, assim, elas, junto com a minha mãe, são mulheres importantíssimas na minha vida, como vocês podem notar, porque eu falei muito delas. Acho que falar um pouco da minha vida também é me dar conta dessa importância delas. E, assim: mesmo elas me fazendo falta, como eu as carrego comigo! Quantas vezes falamos aqui e eu citei as minhas avós. Mas eu acho que é isso, gente. A minha história é muito, também, as histórias da leitura, da escrita, da paixão pelos livros. Isso aí são coisas que, é isso: quando a gente para pra falar da gente, começa a ver realmente o que é importante, o que vai carregando, né? As amizades, as viagens, os sonhos que a gente realiza, como é que a gente reconstrói a nossa vida depois que se decepciona com algumas coisas. Eu acho que é isso.
P/1 - Então, está certo. Stephanie, a gente agradece muito o seu depoimento...
R - Quase chorei, agora, no final.
P/1 - (risos) Acontece, viu? Isso é bem mais frequente do que você imagina!
R - Eu sei. Imagino, gente. É porque eu não consigo, sou muito cabeça de jornalista, porque eu tenho que falar direito, aí não choro, mas agora, no final, falei das minhas avós, meu olho encheu de água: “Pronto, eu vou chorar aqui!”.
Recolher