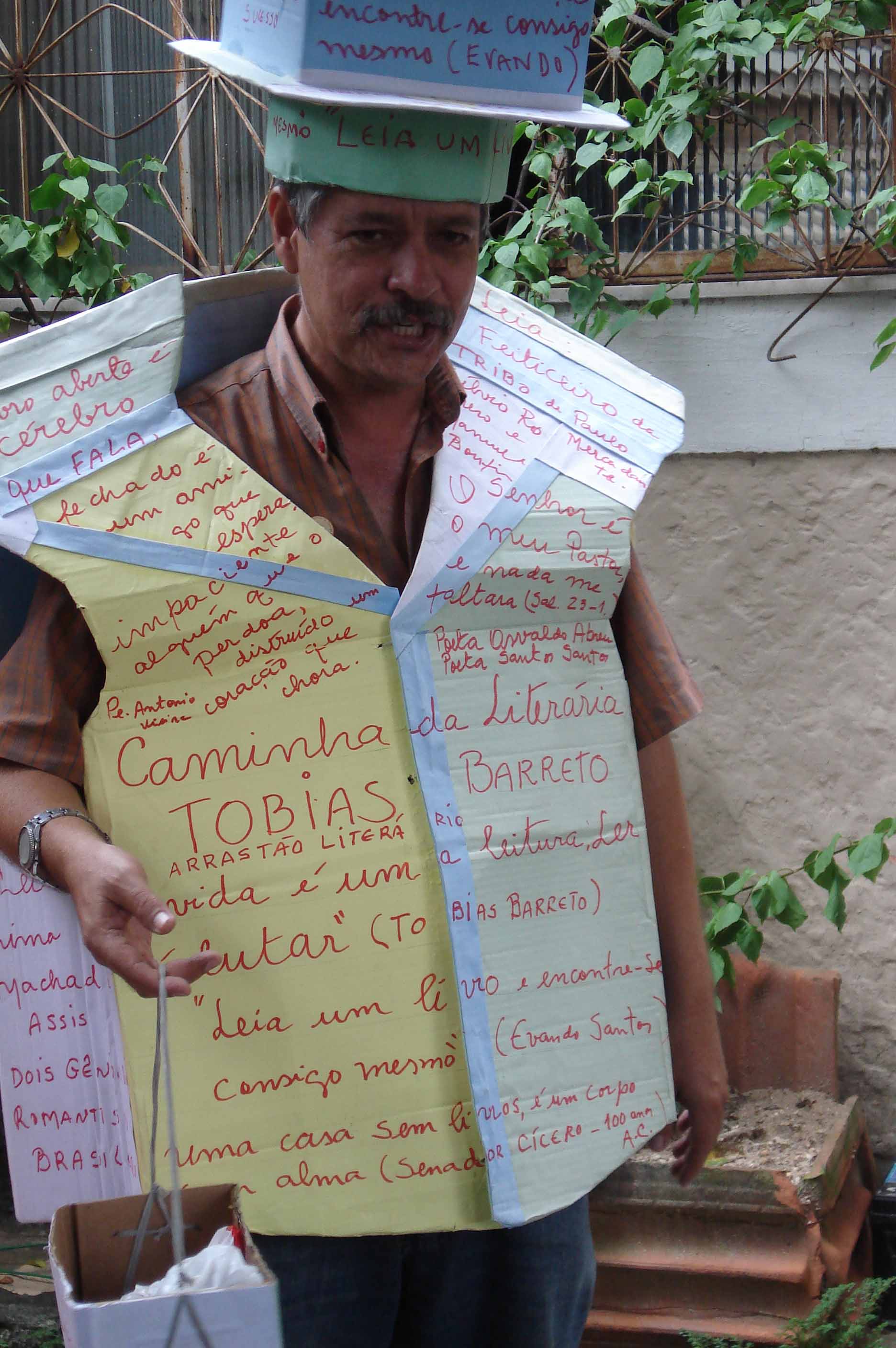P/1 – Boa tarde, Manuel.
R – Boa tarde.
P/1 – Para começar, você poderia falar o seu nome, local e data de nascimento?
R – Meu nome é Manuel Messias da Silva Filho. Manuel com “u”, eu passo a minha vida dizendo isso, porque todo mundo escreve com “o”. Eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, no dia 06 de março de 1968.
P/1 – E qual é o nome dos seus pais?
R – Meu pai se chama Manuel Messias da Silva e minha mãe Andrelina Messias da Silva.
P/1 – Qual é a atividade deles?
R – Os dois são comerciantes.
P/1 – E qual é a origem da sua família?
R – A minha família é nordestina. Eles têm aquele aspecto típico das famílias nordestinas: Eles eram da mesma cidade, uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Sergipe, que já é o menor Estado do Brasil. Eles eram mais ou menos primos, tá? Minha mãe tinha 16 anos quando casou, meu pai tinha 22 anos. Eles se casaram na cidade e vieram tentar a vida em São Paulo.
P/2 – Isso era, mais ou menos, em que época?
R – Ah, pôxa vida... Minha mãe nasceu em 1945, meu pai em 1940. Meu Deus... 1960 e pouquinho, 1962, por aí, eles devem ter chegado em São Paulo, né? Aí eles foram morar num bairro bastante simples, em São Bernardo do Campo. Mentira, eu me lembro de quando era criança, ter mudado muito de bairros dentro da cidade. Talvez eu tenha até morado em São Paulo, né? Eu guardo um pouco na memória pelos cachorros que a gente tinha, porque sempre teve um cachorro, e cachorro vive bastante [risos]. Mas enfim, a gente morava num bairro bem simples em São Bernardo, até que eles compraram um terreno. Nesse terreno eles ergueram uma casa na frente, aquela coisa, constrói um pedaço, depois constrói outro pedaço. Eu tenho até foto dessa casa, que os tijolos são diferentes por causa do tipo de construção. E atrás se construíram algumas pequenas casinhas que eram alugadas. E a...
Continuar leituraP/1 – Boa tarde, Manuel.
R – Boa tarde.
P/1 – Para começar, você poderia falar o seu nome, local e data de nascimento?
R – Meu nome é Manuel Messias da Silva Filho. Manuel com “u”, eu passo a minha vida dizendo isso, porque todo mundo escreve com “o”. Eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, no dia 06 de março de 1968.
P/1 – E qual é o nome dos seus pais?
R – Meu pai se chama Manuel Messias da Silva e minha mãe Andrelina Messias da Silva.
P/1 – Qual é a atividade deles?
R – Os dois são comerciantes.
P/1 – E qual é a origem da sua família?
R – A minha família é nordestina. Eles têm aquele aspecto típico das famílias nordestinas: Eles eram da mesma cidade, uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Sergipe, que já é o menor Estado do Brasil. Eles eram mais ou menos primos, tá? Minha mãe tinha 16 anos quando casou, meu pai tinha 22 anos. Eles se casaram na cidade e vieram tentar a vida em São Paulo.
P/2 – Isso era, mais ou menos, em que época?
R – Ah, pôxa vida... Minha mãe nasceu em 1945, meu pai em 1940. Meu Deus... 1960 e pouquinho, 1962, por aí, eles devem ter chegado em São Paulo, né? Aí eles foram morar num bairro bastante simples, em São Bernardo do Campo. Mentira, eu me lembro de quando era criança, ter mudado muito de bairros dentro da cidade. Talvez eu tenha até morado em São Paulo, né? Eu guardo um pouco na memória pelos cachorros que a gente tinha, porque sempre teve um cachorro, e cachorro vive bastante [risos]. Mas enfim, a gente morava num bairro bem simples em São Bernardo, até que eles compraram um terreno. Nesse terreno eles ergueram uma casa na frente, aquela coisa, constrói um pedaço, depois constrói outro pedaço. Eu tenho até foto dessa casa, que os tijolos são diferentes por causa do tipo de construção. E atrás se construíram algumas pequenas casinhas que eram alugadas. E a família vivia do trabalho do meu pai e a minha mãe que também lavava roupa para fora, tal. Meu pai foi cobrador de ônibus, toda essa história... Acho que bem típico do começo de uma família nordestina em São Paulo. Eu nasci aqui, meus dois irmãos: Meu irmão Carlos, minha irmã Eliana. Meu irmão nasceu em São Bernardo, minha irmã nasceu em Santo André e nós somos daqui de São Paulo, basicamente.
P/2 – E você é o caçula, o mais velho ?
R – Eu sou o caçula.
P/1 – E como é que era o bairro quando você era pequeno?
R – Era assim... Era engraçado, que eu nasci no meio da Ditadura, nasci inclusive no ano mais forte da Ditadura, 1968. Até dizem que é o ano que não terminou, né? E é engraçado hoje, olhando naquele tempo, como a gente vivia... A gente era de uma classe pobre, a gente morava num bairro bem simples mesmo, não era miserável de maneira alguma, era um bairro simples. Não tinha tanta violência. Eu podia sair da rua, na minha casa não tinha portão. Não tinha essa violência que a gente tem hoje, não tinha mesmo. Tinha o campinho de futebol, onde era a grande diversão das crianças, era ir até o campinho brincar. A minha diversão era brincar de triciclo, eu tinha um... Me lembro de ter o primeiro, acho que era Velotrol o nome, que era um de plástico, que acho que até hoje deve ter. Depois, eu tive os triciclos. Eu nunca tive uma bicicleta, um trem elétrico, um Autorama, porque era impossível de ter. O sonho da minha vida era ter um trem elétrico, que eu realizei com 25 anos [risos]. Eu fui na loja: “Quero o maior trem que vocês tiverem aqui!”. E eu tenho até hoje e o diacho é que o danado hoje vale alguma grana porque tem uma coisa de colecionadores, né? Que se você tem o brinquedo na caixa, perfeita, é uma relíquia. E eu tenho ele numa caixa perfeita, porque eu tenho alma de Historiador [risos]. Então, eu tenho minha vida guardada e catalogada, eu tenho tudo. E é isso... Acho que, basicamente, minha infância foi assim, foi bacana. Mas o que aconteceu, para nossa vida começar a melhorar. Minha mãe julgava que a escola daquele Bairro, que era o Bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, era um bairro onde a escola não era a melhor, não era uma escola muito boa. Meus irmãos já estudavam nela e minha mãe não estava satisfeita. E meus pais eram analfabetos. Isso que eu acho fantástico: Meus pais eram analfabetos, eu não tinha nenhum livro na minha casa, nada, nada, nada. Hoje eu sou escritor, sou finalista do Prêmio Jabuti [risos]. E eu não tinha livro em casa, não tinha jornal, nada. Meus pais não sabiam ler... Mas minha mãe tinha essa consciência: “Vamos mudar daqui para melhorar a escola de vocês”. Porque naquela época, acho que hoje é assim também, a criança só pode estudar próximo da escola. E Escola Pública, naquela época, era a melhor coisa que tinha. Eu tinha uma prima que estudava em Escola Particular e a gente sempre olhava ela meio torto e falava [risos]. “Ih, ela tem que estudar em escola paga, imagina! É criança que tem problema, que não acompanha. Porque Escola Pública era muito forte. E a gente mudou, nós fomos morar no centro da cidade, na Rua Marechal Deodoro, 2329. Essa é a principal rua de São Bernardo do Campo. Tem essa rua, tem a Faria Lima, que é uma grande avenida, e tem a Rua Jurubatuba, que é a “Rua dos Móveis”, né? Esse é o centro de São Bernardo. Tem outras avenidas próximas, mas essas três sempre foram meio que determinantes para a construção de tudo que a cidade virou. Aí, nós mudamos com sete anos de idade, isso em 1975, e eu consegui entrar na escola que minha mãe queria que eu entrasse, que é a Escola Estadual de Primeiro Grau, EEPG Maria Iracema Munhoz. Aí, foi começando um monte de coisa curiosa, que eu me lembro, assim, da infância. Que quando eu entrei na escola o presidente era o Ernesto Geisel, 75, imagina. Aí, eu estou lá na sala e a professora: “Como é que escreve Ernesto Geisel?”. Aí escreveram Ernesto Geisel. Tinha um professor de canto, de Educação Artística, que era o Cadorno. E graças a ele eu aprendi a cantar o Hino Nacional direito, porque a gente cantava tudo errado e toda semana a gente tinha que cantar lá por causa da Ditadura, da Bandeira, e não podia falar “que espelha essa grandeza”. Não, não, “que espelha essa grandeza”. E ele era bravo [risos]. Então, tem isso. E era uma época... Hoje eu sei disso, mas naquela época da Ditadura, 1975, como eu disse, eu morava nessa rua. Eu vou misturando alguns fatos, mas eu to no mesmo período, tá?
P/1 – Em 1975 você tinha quantos anos?
R – Sete anos. Mas eu já estou falando algumas coisas eu já to misturando a década de 1970. Porque eu me lembro bem de datas a partir de 1975, que foi o ano que eu entrei na escola. Daí para trás eu tenho muita lembrança, mas é lembrança vaga, de ter as primeiras dúvidas: “O que é granizo?”. Mas eu não sabia, talvez era 1974, 1973, esse tipo de coisa eu não sei. Mas de 1975 para frente, nessa época, tava acontecendo muita da formação do PT em São Bernardo, tudo isso. E eu morava, além de morar na Rua Marechal Deodoro, que era a rua onde aconteciam as passeatas dos metalúrgicos e confrontos. E era também na mesma rua da Igreja Matriz, que é um marco da história, tudo... Onde aconteceu muito coisa lá. Eu morava pertinho do Sindicato dos Metalúrgicos [risos] então estava no meio de tudo. E era bem complicado porque na nossa casa nós tínhamos um comércio, a gente sempre teve comércio. E a gente tinha um comércio que a gente fazia chave, era um chaveiro, né? E então, quando começava aquela passeata a gente era obrigado a fechar tudo, porque a gente sabia que tava chegando, ia ter briga, a bomba de gás era inevitável... Sempre estourava bomba de gás, ficava a coisa branca, correria na rua. E a minha mãe sempre abria a porta de casa para as mulheres entrarem. E sempre tava lá aquela mulherada chorando, tomando água com açúcar. Eu tinha 7, 8, 9, 10 anos no máximo. E eu tinha muito medo, eu ficava com medo daquilo. Eu até estava comentando, eu criava fugas daquilo. Que fuga eu criava? Eu colava figurinha, porque eu adorava colecionar figurinha. Então, eu abria o álbum de figurinha, tava aquele barulho todo e eu começava a colar, porque não tinha auto-colante, você tinha que realmente colar a figurinha. Eu ficava colando figurinha. Eu até usei essa imagem num livro meu, de uma criança que tá fugindo daquilo, né? E também tinha aquela coisa de você estar na escola e, de repente, os professores fecharem a escola e mandar todas as crianças para casa. Aí, o meu irmão aparecia de avental, para mostrar que era estudante, para me pegar, porque eu era o menorzinho, né? Ele ia lá na escola, me pegava, saíamos os dois de avental na rua desviando dos lugares. Então, eu fui uma criança, eu convivi com isso, assim, não me afetou, não me traumatizou, não me aconteceu absolutamente nada. Mas é um registro que eu tenho na minha memória, que é uma coisa que eu acho que foi diferente. E até ainda tenho um projeto de escrever um livro sobre esse período da minha vida, porque muita coisa acontecia ao mesmo tempo. Muito se deve ao meu irmão, o meu gosto pela leitura, porque ele que trazia revistinhas em quadrinhos para casa. Inclusive, talvez foi aí que começou a aparecer meu gosto pela leitura, o gosto por querer aprender coisas. Aí, eu comecei a ler, logo que eu comecei a ler... Acho que todo mundo deve fazer isso: você começa a ler placas na rua, quando você sai de carro e começa a ler placas. Acho que foi a primeira leitura que eu tive. Aí eu comecei a ler gibi, e eu tenho até hoje o primeiro gibi que eu comprei na vida, que era o Satanésio [risos]. É um gibi muito bacaninha, é bonitinho. Ele é um diabinho, claro, ele quer fazer o mal, só que é muito engraçadinho. E tinha um Anjinho, o Anjoca, que sempre atrapalhava sem querer. Ele queria levar ele para o Paraíso. Era um gibi muito bacana que sumiu, é um gibi nacional. Esqueci o nome do artista... E eu tenho esse gibi. E aí, eu comecei a fazer gibi e essa leitura de gibi me levou para onde? Para a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, que é a biblioteca mais antiga da cidade, está fazendo 50 anos. E lá eu me instalei, era a minha segunda casa. Minha mãe tinha que me buscar na biblioteca no fim do dia, porque eu não ia para casa [risos]. Era muito engraçado. Por que, o que acontecia? Lá tinha o Departamento Infantil, e eu entrava lá, eu desenhava, pintava, colava, lia “muuuuito” gibi. Eu adorava ler “As Aventuras de Tintin”, que era a minha leitura favorita na época. E as bibliotecárias, que eram a Ângela, a Diva, Flordeci e Sirleia, as quatro, elas tinham muita paciência comigo, elas gostavam de mim [risos]. Tinha o chá também que eles davam para as crianças. E eu gostava de ficar lá. Aí, elas ficaram insistindo: “Manuel, leia esse livro” “Não, eu não quero ler. Eu só quero ler Tintin” [risos]. Porque o Tintin era uma continuação das revistinhas, né? Ele era em quadrinhos. E tanto insistiram que eu acabei lendo o meu primeiro livro que é “Nas terras do Rei Café”, do Francisco Marins, que é um dos nossos escritores infanto-juvenis mais importantes, um cara que eu respeito muito. Ele criou a Série Taquara-Póca, que se passa na fazenda, eles encontram o Curupira. Graças ao Francisco Marins eu aprendi muito de História, pelos livros dele, porque ele começou. Tipo, a história do Acre, eu achei muito curioso, que teve uma série recente que passou na Globo, não me lembro o nome... E eu já sabia tudo aquilo graças a um livro que eu li quando criança, do Francisco Marins. E ele me influenciou muito. Hoje, os meus livros são históricos, eu sempre escrevo um livro com fundo histórico. Tem uma aventura, claro, mas o pano de fundo, que ta sempre ali, é histórico. Tipo, meu primeiro livro, já tô pulando acho que uns 30 anos aí, mas tudo bem [risos], é o “Ano do Fantasma”. Eu fui até Tiradentes, aí cheguei lá e vi na frente da Igreja um monte de túmulos. Diante da Igreja, assim, muitos túmulos. Aí, olhei para aquilo e falei: “Nossa, será que eu posso pisar aqui?”. Eu queria ir até a entrada da igreja, mas até entrar a igreja, para mim... E todos aqueles túmulos. Falei: “Vou ter que pisar, né?”. E comecei a pisar, e eu percebi que aquilo era comum e dentro da igreja continuavam aqueles túmulos. Porque antigamente as pessoas eram enterradas dentro de igreja. Aquilo me interessou e eu falei: “Oba, isso vai virar o meu primeiro livro individual” porque eu já tinha um outro. Aí, eu comecei a olhar aquilo e imaginei a história de um fantasma que foi enterrado dentro da igreja, e não podia sair de dentro da igreja porque ele tinha sido muito mau com os escravos. E ninguém chorou a morte dele, quando ele foi enterrado. E ele ficou preso na igreja. Então, para ele sair da igreja, alguém tinha que chorar a morte dele. Mas como isso ia acontecer 300 anos depois? Ele já, imagina, né? E isso vai acontecendo, isso foi meu primeiro livro, né? Mas enfim, voltando lá, para o Francisco Marins. Aí eu li Francisco Marins e comecei a ler a Série Taquara-Póca inteirinha, eu li a coleção completa do Francisco Marins, eu... Tudo o que eu pude naquele momento. E eu me deparei com um livro que é também fundamental na minha vida, que é “Alice no País das Maravilhas”. Alice, eu acho que é uma obra-prima mesmo, ele é um livro base de tudo. Porque o que você tem? Você tem a história de um personagem, esse personagem vai para o mundo que ele não conhece. Nesse mundo que ele não conhece, ele quer ir embora, mas ele não sabe como. Ela recebe ajuda de um monte de gente para sair daquele mundo e ela volta modificada. Isso é a base de 70% da literatura, da boa literatura, né? Então, eu li Alice, e esse livro foi realmente muito importante na minha vida. Aí, o que aconteceu? Fora tudo isso que me interessava na biblioteca, também começou a me interessar o Teatro. O pessoal de biblioteca, essas moças que trabalham nas áreas com criança, normalmente têm muita vontade de fazer coisas. E naquele momento eles resolveram fazer uma... Um clubinho de teatro: “Ah, um clubinho de teatro, vou participar”. E acabei sendo um dos fundadores, era o Clubinho Saci-Pererê. Esse foi fundado, sei lá, em 1975, 1977, 1978, por aí. Eu tenho a carteirinha até hoje. E lá a gente começou a fazer teatro. Tinha um rapaz, que era o Jair, ele escrevia peças para a gente. Então, eu fiz o menino Robbie, que era a história de um menino que vivia preso com uma roupa de papel brilhante, e no final a gente rasgava a roupa de papel dele, para ele se tornar uma criança livre, como a gente. Acho que era até meio subversivo na época isso [risos]. Depois teve “A Borboleta que Queria Voar”, que era o Sítio do Picapau Amarelo. Eu fui o Pedrinho, e era a história do Jeca Tatu, que não queria ler, e a borboleta vivia presa, não conseguia voar, porque o Jeca Tatu não queria ler. Então, a função do pessoal do Sítio, era fazer com que o Jeca Tatu lesse, né? Aí, a gente consegue, a borboleta vai embora, tal, tal tal. E, fora isso, a gente fazia também Teatro de Fantoche. A minha primeira pecinha mesmo, como criança, foi “O Doutor Tartaruga”. Eu era o filhinho do Doutor Tartaruga. Usava uma carapaça de papel bem bonitinha. A gente fazia fantoche, né? Esse aqui foi o primeiro fantoche que eu fiz, e eu usei o fantoche numa peça, chamava “O Roubo do Colar de Pérolas”. Eu era o Guarda Pedrito. Tudo aquele tapetinho dele aqui, ó, e a mãozinha, o bigodinho dele, tal. Esse bonequinho tem 30 anos, eu que fiz. A gente fazia com jornal amassado. Era uma das atividades da biblioteca. Então, a gente fazia desde o bonequinho até a apresentação. E como era a apresentação? A gente tinha um biombo. Era um biombo assim, tal, um retângulo no meio. E atrás, em cima, preso, uma bobina. Era o cenário. As bibliotecárias pintavam cada cenário, prendiam na bobina, e elas só rodavam, chuuuu, e mudava o cenário. [risos]. E ele ia rolando embaixo. A gente fazia as pecinhas e a gente ensaiava semanalmente e, acho que no Dia das Crianças, as crianças das escolas públicas, particulares, iam assistir a gente no saguão da biblioteca. E uma coisa que muito me orgulha hoje, que eu to muito feliz, eu to sendo homenageado esse ano na Biblioteca Pública de São Bernardo, onde eu comecei, porque ela tá fazendo 50 anos de vida. E eles fizeram exposição com toda minha vida, ta lá a exposição, né? Vai ficar até o fim desse mês e no mês que vem vai mudar de biblioteca. Tem um bonequinho lá, porque eu tenho dois, né? [risos]. E tá tudo lá, as fotos de quando eu era criança, das peças que eu fiz, as peças profissionais que eu fui fazer depois, os meus livros. Então, tem três displays, cada um ta com um material diferente: Da infância na biblioteca, que eu fui o leitor que mais se destacou em 1980, tem um livro lá. Tem a minha história de ator, e tem a minha história de cantor, que aí é outra coisa. Ah sim, nesse período ainda. É muito engraçado como eu acho como uma biblioteca é importante na formação de uma pessoa, como as pessoas precisam de bibliotecas... Eu comecei a ler na biblioteca, para valer, eu comecei... Porque na minha Escola Pública não tinha uma biblioteca. Eu comecei a fazer teatro na biblioteca e eu comecei a cantar na biblioteca. Como que eu comecei? Lá tinha o “Salão de Coleções Especiais”, da onde eu sou o sócio número um, e eu tenho a carteirinha até hoje, tá lá na exposição, minha carteirinha número um. E eu ouvi os discos que tinha lá. Então, eu comecei a ter contato com cantores que eu jamais teria, se eu não tivesse tido o contato lá. Em casa eu ouvia Vicente Celestino, meu pai gosta, Luiz Gonzaga, claro, como uma boa família nordestina, Luiz Gonzaga, que eu acho fantástico. Minha mãe, Roberto Carlos, só que eu era fã da Wanderléa e do Nilton César [risos]. O Nilton César é um cantor que já morreu e ele tem, nossa... Tem até uma história curiosa que daqui a pouco eu conto para vocês, sobre o Nilton César.
P/2 – Nessa época da biblioteca tinha um grupo de amigos?
R – Não. Tinha a biblioteca e tinha a Fluordeci, que era uma moça de 18 anos naquela época, que ela ficava lá. E eu até expus ela a uma situação muito constrangedora para ela, tadinha. Hoje eu falo para ela, e ela morre de rir. Porque naquela época eu assisti ao filme Tubarão, que estreou e foi uma coisa. “Tubarão”, “King Kong”, “Grease”, foram os filmes da minha infância. Eu vi o Tubarão e eu fiquei cinco noites sem dormir, né? [risos]. Porque eu achava que o tubarão ia me comer a qualquer momento [risos]. Aí eu descobri que na biblioteca dos adultos tinha o livro Tubarão. Eu falei: “Ah, eu queria ler o livro Tubarão” “Não, você não pode ler” “Por que eu não posso ler?” “Porque não pode” “Por quê?” “Porque tem sexo” “Tá, e o que é sexo?”. [risos]. Imagina, né? Eu não sabia. E aí ficou essa historinha. Mas lá naquela biblioteca tinha slides. Vocês imaginam, slides, onde eram projetados os slides, eles contavam as histórias. Era a grande tecnologia da época. Aliás, o sonho que eu tinha de consumo naquela época era a xerox colorida. Eu queria xerocar aqueles caras da enciclopédia, recortar e colar no trabalho bonito para levar na escola. Imagina, né? Hoje em dia... [risos]. Então, tinha discos de vinil, slides e fitas. Tinha muitas daquelas coleções de disquinhos da Disney, não sei se vocês já viram, que tem o livrinho e o disquinho da Disney. Ouvia muito isso. Eu gostava mais do que aqueles “disquinho”, aquela coleção de disquinho colorido que era do Braguinha. Aquilo lá, tinha que ser, sei lá, tombado, porque, maravilhoso aquilo. Mas não tinha livrinho e eu gostava de ver as imagens com o livrinho, né? Aí eu comecei a ter contato com os discos, e eu levava para a casa; Milton Nascimento, Gal Gosta, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim. E eu comecei a cantar em cima desses discos. E o meu gosto começou a se formar ali. Eu comecei a cantar na Biblioteca Pública. Por isso que eu acho que a Biblioteca Pública é fundamental na formação de qualquer pessoa. A gente precisa, mesmo, de bibliotecas. [risos]. A historinha curiosa que eu falo do Nilton César, né? Que eu li um livro recentemente, um livro muito bom, “Eu não sou cachorro, não”, é o nome do livro. Que ele faz um estudo temático daquela época, dos cantores bregas, dito bregas. E o Nilton César foi um grande cantor de massa e o Orlando Silva foi um grande cantor também, à época dele, mas o Orlando Silva é realmente uma das vozes mais lindas que nós já tivemos no Brasil. E ele cantava uma música que era super... Uma música de extrema qualidade, “carinhoso”, Pixinguinha, um grande cantor. E eles estão enterrados um de frente para o outro, lá no Rio de Janeiro. E Orlando Silva tá completamente esquecido, o túmulo dele tá completamente esquecido. E o Nilton César que era um cantor que sofreu muito preconceito da mídia, tal... O povo continua indo ao túmulo dele meio que, tem uma coisa meio de seguir um pouco. Tem uma coisa esquisita com esse cantor, né? E ele... Mas por que eu to falando isso? Como o tempo dá outro julgamento. É claro que os fãs do Orlando Silva já morreram todos, a maioria das mulheres que ficavam enlouquecidas pelo Orlando Silva já morreram, né? Mas o tempo não é a gente que julga, enfim, era essa a historinha. Falei demais, né? [risos].
P/ 1 – Não, que é isso. Vamos só voltar um pouco, período escolar... Como era a escola, assim?
R – A escola, tem dois períodos muito claros. Quando você é criança mesmo, você tinha aquela merenda, era horrível, era um lixo aquela merenda. Era pão francês com uma goiabada amarela, sei lá. Era muito ruim aquilo, mas você comia, porque era o que tinha para você comer lá. E quando você tem aquele impacto inicial, que você mudava de um professor só, que você sabia o nome, para um monte na quinta série. Aquilo causava uma certa diferença. E o avental que a gente usava, todo mundo usava avental na escola. Você podia ir com sua roupa embaixo, mas era sempre o avental com o bolsinho bordado com... Tinha que levar o bolsinho para casa para mãe costurar o bolsinho com o brasão da escola. Eu me lembro que você tomava vacina na escola, como deve ser hoje em dia... Acho que a grande diferença era a qualidade.
P/2 – Mas você gostava de ir à escola, sempre foi um bom aluno?
R – Gostava. Eu era o primeiro aluno da classe. Mas o gozado é isso, eu não sei muito bem da onde vem. Porque meus pais eram analfabetos, como eu já te disse, e eu me lembro claramente do primeiro ano, na primeira série, a professora chamava Isabel, ela me chamou lá para ler. A gente tinha que ler pertinho dela, o texto. Eu fui lá e li. Ela falou: “Quem te ensinou a ler desse jeito?”. Eu falei: “Ninguém” [risos]. Eu não sei de onde vem, eu tinha, tenho, alguma facilidade com isso. E eu gostava de estudar. O que me destacava, eu acho, eram as aulas de redação. Toda sexta-feira tinha aula de redação e eu adorava aquilo. Adorava escrever as histórias. Acho que isso vinha da biblioteca. E eu sempre tirava uma nota muito boa, e eu era obrigado a ir lá na frente ler a redação [risos]. E isso me motivava, acho que eu gostava de fazer isso.
P/2 – E a primeira vez que você foi à biblioteca, você foi sozinho, de curiosidade?
R – Meu irmão deve ter me levado, porque o que aconteceu? Olha só, eu tinha sete, oito anos e eu morava na Marechal Deodoro. A biblioteca ficava na Rua Jurubatuba e eu ia a pé, sozinho, sem nenhum perigo, entendeu?. Eu tinha oito, nove anos. Entrava no ônibus, passava por debaixo da catraca e ia. E todos os ônibus passavam, porque era rapidinho. Então, não tinha, realmente, perigo. Imagine que você deixaria uma criança de nove anos atravessar essa rua aqui [risos]. Você não deixa, porque a gente tá muito neurótico, mas aquela época era um período que realmente tinha menos pessoas, não tinha tanta sujeira... Eu ia para São Paulo. Aí já entro numa outra característica. Essa minha alma de Historiador, eu sou colecionador também. Então, eu ia de São Bernardo para São Paulo que era uma hora de ônibus, para comprar revista em quadrinho porque em São Paulo, nas bancas que havia no centro, você sempre encontrava gibis antigos. Que eu tenho todos os que eu colecionei também. Eu completei a coleção da Mônica, da Editora Abril, da Editora Globo e da Editora Panini, agora. Eu tenho tudo [risos]. O Tio Patinhas também colecionei, completei. A do Cebolinha também completei. Então, os gibis que eu lia quando criança eu ia colecionando e eu guardei tudo. E os que eu não tive hoje eu consegui. Os números que eu não consegui antes porque a Mônica começou a publicar em 1970 e eu comecei a comprar, talvez, em 1976, 1977, por aí. E tudo isso deve vir da biblioteca, quando eu ia no supermercado, eu comprava uns livrinhos que eram “As Aventuras de Gulliver”, “Bidu”, “Carneirinho Sujo”, “A Oncinha Ambiciosa” que eu ganhei da... Ah sim, também eu ganhei da professora um livrinho, “A Oncinha Ambiciosa” e uma medalhinha, que eu tenho até hoje, por ter sido um dos melhores... Não é assim, aquela coisa. Claro que eu sofri com isso, ao longo do tempo. A turma olhava com olhar meio estranho para mim, né? Tipo, ah o “cdf”, ah não sei o quê, não sei o quê, mas eu era respeitado, eu nunca fui atacado por causa disso. Porque na hora do “vamos ver”, todo mundo vinha recorrer a mim, entendeu? Então, eu tinha esse, digamos, até acho muito engraçado. Encontrei com um amigo meu, né? Manuel, nossa, nunca esqueci uma redação sua. Ele falou a redação. Nossa, eu queria ter essa redação, eu não tenho mais. Essa eu perdi.
P/2 – E tem alguma professora, assim, que você se recorde, que foi marcante?
R – Sim, a Isabel, a Dona Súria, nunca mais vi ninguém com esse nome, e a Dona Vicenta. Acho que a Dona Vicenta deu dois anos de aula para mim. Essas foram as principais professoras da minha infância. Depois, daí para frente, tem aquelas professoras que ficaram famosas porque gritaram, né? Tinha a Maria José que era uma professora de Matemática, você ouvia a voz dela do outro lado da escola, que ela gritava com os alunos, gritava desesperada, né? [risos]. Era muito engraçado, assim, as malandragens que tinha, tipo, aquelas coisas de Centro Cívico. Imagina, a minha turma ganhou. Quando a gente entrou com uma chapa, a gente era o último colocado e a gente conseguiu ganhar. Por quê? Porque a gente roubou [risos]. Foi muito feio, mas tinha uma menina, mais velha, mais experiente, falou: “Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma bala para cada aluno. É só dar uma bala para cada aluno, que eles votam na gente”. [risos]. Dito e feito.
P/2 – Compraram os votos... [risos].
R – Compramos os votos, que coisa feia [risos]. E ganhamos e não fizemos absolutamente nada, como todos os outros que nunca fizeram nada. No ano seguinte, a turma que ficou em segundo lugar, que não deu a bala, ganhou. Mas também não fizeram coisa nenhuma, né? Era uma farra, não tinha maldade, era só ganhar a competição. Ganhou e daí? Não sabe o que fazer, né? Imagina...
P/1 – Tem mais alguma dessas brincadeiras de escola que você lembra?
R – Ah, tinha jogos na quadra, aquela coisa de Educação Física, você ficar correndo ao redor da escola, mas todo mundo parava de correr quando... Que a gente corria pela escola e tinha uma sala bem grande, que era o banheiro. Quando a gente chegava atrás do banheiro e saía da vista do professor, todo mundo começava a caminhar [risos]. Aí voltava, corria-corria, e caminhava, ta-ta-ta [risos]. Jogo de queimada que a gente brincava muito, vôlei, tinha os paredões da escola que um certo ano eles pediram para a gente pintar. Então, cada classe foi lá e pintou um desenho... São muitas lembranças, que eu fiquei nessa escola da primeira à oitava série. Quando acabou a oitava série, eu fui eleito orador. Então, meu nome tá lá, os homenageados, Manoel ta-ta-ta, com “o”, botaram meu nome errado [risos]. Aí depois, quando você vai para vida, assim, aí que você começa a perceber como a vida vai mudando, aqueles amigos que acha que sempre vai ter, que nunca vai perder, você perde, quando o interesse da pessoa vira. Você, sei lá, tá numa sala de 30 crianças, 40 crianças que têm o mesmo universo, mas ali tem um que quer ser médico, um quer ser ator, o outro quer ser dentista... Então, o caminho, naturalmente muda. Essas pessoas não ficam mais para sempre. E você vai fazendo novos amigos, foi o que aconteceu. Quando eu fui fazer Laboratorista Industrial [risos]. E foi uma coisa muito doida, eu sou Laboratorista Industrial formado. Não sei fazer nada [risos]. Mas o que aconteceu? Porque você saía da escola pública e eu precisava continuar estudando e tinha a ETE, que tem até hoje, a Escola Técnica Estadual. Na minha época, um pouquinho antes era Escola Técnica Industrial. Porque, em São Bernardo, era uma outra escola extremamente bem cotada. Ficava o Senai embaixo, a ETE em cima e hoje acho que tem uma universidade do lado. E eu fui lá. Falei: “Bom, eu quero estudar”. E tinha que estudar à noite porque ia começar a trabalhar no Banco do Brasil. Porque na oitava série o Banco do Brasil foi na escola e pediu para escola indicar os três melhores alunos da escola. Era sempre assim a seleção. Aí eu fui indicado, fui lá, fiz entrevista e ganhei o emprego. Então, foi meu primeiro emprego e definitivo, assim [risos], foi trabalhar no Banco do Brasil. Então, como eu ia trabalhar no Banco do Brasil quatro horas por dia, só, que era uma coisa fantástica, realmente era muito bom. Porque eu me lembro que eu trabalhava só quatro horas por dia e eu ganhava mais que todos os meus amigos que trabalhavam oito horas por dia em indústria, né? Então, há 20 anos era uma coisa bem bacana. E eu fui trabalhar no Banco do Brasil, então tinha que estudar à noite. E à noite já tinha uma fama que a escola não era tão boa. “Ah, vou fazer uma escola profissionalizante. O que eu vou fazer?”. Aí eu olhei o que tinha na ETE: Desenhista, eu falei, “Putz’, Desenho Técnico não dá. Laboratorista Industrial... Vai, né?”. [risos]. Aí eu fiz, entrei por causa disso. Em Laboratorista Industrial. E foi muito bacana porque todo mundo que foi fazer Laboratorista Industrial é porque não podia fazer outra coisa [risos]. Eu to brincando, tem gente que tava lá porque tinha habilidade, qualidade para fazer aquilo. E lá eu conheci alguns amigos que foram bem definitivos. Acho que a adolescência da gente define também muita coisa. A infância define muita coisa, mas a adolescência é muito forte. Aí, eu conheci realmente um grupo de amigos, a gente fez uma amizade muito forte, e tinha um amigo meu que cantava. Eu cantava, não sabia ainda se cantava ou não cantava, mas tava cantando. E ele cantava também. E o que a gente fazia. A ETE é muito grande, ela tinha uns blocos muito grandes e tem uns porões com eco maravilhoso. Imagina, a gente ficava lá cantando. Cantava e cantava [risos]. E ficava ouvindo o eco e tudo. Então, isso ajudou muito mesmo a formar. Aí, uma amiga nossa... E é legal que esse núcleo me serve até hoje para muita coisa. Um amigo foi para a Dinamarca fazer aqueles intercâmbios no exterior. Eu tenho a primeira carta que ele e mandou, desesperado: “Ai, eu to muito infeliz aqui, eu não falo a língua, vou mudar de família”. Então, tem todos esses dramas de adolescente. A gente falando de sexo, essas coisas todas, né?
P/2 – Qual era a diversão, assim, sábado à noite, dessa turma?
R – Olha, a gente conversava muito, e a gente gostava de ir em karaokê. Porque São Bernardo nunca teve uma vida noturna muito... Para você ter uma idéia, teve uma vez, eu nunca esqueci isso. Nós resolvemos que iríamos tomar refrigerante a noite. Não tinha onde comprar [risos]. Eu penso nisso hoje em dia, eu falo: “Gente, não é possível que em São Bernardo, naquele dia, eu não consegui comprar um refrigerante”. Não conseguimos. Estávamos em Rudge Ramos, que é um bairro grande de São Bernardo. Então, a diversão era, a gente ficava muito dentro do carro. Eram cinco lá dentro: quatro homens e uma mulher. A gente ficava batendo papo, conversando, falando da vida... Ah, mas aí tem umas coisas muito engraçadas, né? O que acontecia: um amigo meu queria ser cantor, um amigo meu queria ser ator. E eu queria essas duas coisas. E eu fiz teatro na biblioteca e teve uma época, na biblioteca, quando você fazia dez anos, meio Menudo, você tinha que ser expulso [risos], você não fica mais no Clubinho de Teatro. Eu fiquei muito frustrado, porque eu queria continuar fazendo teatro. Não sabia para onde ir. Aí, entrei na ETE, tal, já tinha largado o clubinho há muito tempo. Eu já tinha acho que 14 anos, eu ia na biblioteca mais para pegar disco e livro, eu não fazia mais parte de clubinho nenhum. Até o Clubinho foi acabando, hoje não existe mais. Mas, peraí, deixa eu achar a linha direito. Enfim, eu queria fazer teatro. Aí, entrei na escola, conheci o Reinaldo, que tava na minha sala, e o Marcelo, que estava na outra sala. O Marcelo foi meu amigo de canto, o Reinaldo foi meu amigo de teatro. E era muito engraçado porque eu e Reinaldo, a gente queria fazer coisas em teatro de qualquer jeito. E ele tinha entrado no Grupo de Teatro dos Metalúrgicos, do tal Sindicato que me fez ter medo, de ficar colando figurinha. E lá vou eu fazer teatro no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Era o Grupo de Teatro Forja. A idéia era bacana, era um grupo de trabalhadores, donas-de-casa, pessoas carentes, que gostavam de fazer teatro. Tem muita iniciativa dessa por aí. E o Sindicato dava estrutura, dava o espaço para gente ensaiar. Então, eu comecei a fazer teatro com o Reinaldo e a gente fazia muita, tipo, pequenas aventuras em São Paulo. A gente fez figuração em novela, que foi um mico, era horrível, porque você ficava lá o dia inteiro para gravar uma ceninha numa novela patética que você não fazia nada, né? E a grande aventura foi fazer uma propaganda na Vera Cruz. Porque a Vera Cruz, em São Bernardo, foi a Meca do cinema no Brasil, foi uma coisa muito importante, e os estúdios estão lá até hoje. Acho que vai virar museu, alguma coisa assim. E lá tem o grande estúdio e tem um estúdio pequenininho, e eu acho que deve ser alugado para fazer comercial. Aí eu e o Reinaldo descobrimos, não me lembro como, que iam fazer um comercial lá. Ah, “Vamos lá, vamos lá” [risos]. Aí a gente foi, né? E fingimos que éramos estudantes de Publicidade [risos] que estavam querendo fazer uma pesquisa. Aí eles olharam para gente, deixaram a gente entrar, a gente fotografou tudo, tavam construindo um cenário imenso, iam ter 150 pessoas. Não teve dúvida, convidaram a gente para fazer a propaganda. A gente ficou cinco dias gravando a propaganda, era uma propaganda dos Calçados Azaléia. Era muito bonita a propaganda. Eram menininhas que dançavam, então, cada dia era um cenário, era uma música, e a gente era a platéia, e a gente ficava atrás da platéia. Essa foi a primeira experiência, assim, nessa brincadeira. E a gente se divertiu muito. Essa fase foi uma fase bacana de... “O que fazer?”. Eu acabei seguindo, ele parou. Eu fui para escola de teatro. Tudo isso ao mesmo tempo. Fazia Inglês também. Aí eu fui para a Escola de Teatro, eu fiz um ano de Teatro Escola Macunaíma, que ainda existe. Depois eu não tava muito satisfeito, eu fui para o Teatro Escola Célia Helena, onde eu me habilitei ator. Eu não gosto de “formei ator”. Eu me habilitei ator no Teatro Escola Célia Helena. Aí é aquela velha história: Acaba a Escola, você é jogado na rua. E agora? Aí eu fui fazer teatro na Cultura Inglesa. Na Cultura Inglesa que a coisa pegou mesmo, porque eu fiz três peças na Cultura. Mas a primeira eu fui lá fazer o teste para o “The Wiz”. ”The Wiz” era uma adaptação da Broadway só para atores negros, do Mágico de Oz. É uma coisa fantástica, musicalmente é muito bonito, tem samba, tem jazz, tudo o que você puder imaginar. Até samba, muito ruim o samba, mas tem [risos]. E o Homem de Lata cantava um Blues para pedir o coração e um Rock para desenferrujar. E eu fiz o teste para o Leão, porque eu falei: “Como eu sou gordo, eles vão me pegar para o Leão”. E eu não queria o Homem de Lata, eu queria o Leão. E eu tava com o pé engessado ainda. Eu falei: “Bom, vou lá”. Eu cantei a música, aí eu recebi o telefonema: “Você foi selecionado, tá” “Ah é? E o que eu vou fazer?” “Você vai fazer o Homem de Lata”. E eu, eu não quero fazer o Homem de Lata, eu quero fazer o Leão, porque o Leão eu acho mais bacana, ele chora... E o Homem de Lata, eu achava ele muito sério. Nossa, eu fiquei completamente apaixonado pelo Homem de Lata, ele encerrava o primeiro ato cantando um Blues pedindo o coração, que era a coisa mais linda do mundo, né? E foi bacana porque aí eu descobri que eu cantava, eu já estava estudando canto. Eu estudei canto muitos anos, né? Ah, também na Faculdade, depois, eu acho que eu pulei um pedaço, mas enfim... Eu fui para a Faculdade, Publicidade, entrei no coral da Faculdade, que era a Universidade Metodista. Viajei, fui para Porto Alegre, nós fomos um dos dez melhores corais do Brasil naquela época. Saiu uma foto nossa na Revista Visão, que não existe mais [risos]. Aí, eu comecei realmente a cantar, eu vi que eu cantava mesmo. Acabou o “The Wiz”, no ano seguinte teve uma peça que eu fiz também que era “Me and My Girl”, depois eu fiz “Sweet Charity”. Aí, formou-se um grupo, do “The Wiz”, a Diretora Musical, Fernanda Gianesella, que é uma pessoa que me acompanha até hoje, a gente formou um grupo vocal chamado “On the Vox”, que era uma brincadeira com o “On the Rocks”. Era muito ruim esse nome, era péssimo, porque você ligava para divulgar: “Como é que é o nome???”. Ah meu Deus [risos]. E o nome do show? “TV Themes”. [risos]. Então, qual o nome do grupo? “On the Vox”, e o show “TV Themes”. Putz. Anos depois, descobriu que é melhor chamar “A Voz da TV”. Bem melhor. E o que era esse show? Esse show estreou na Cultura Inglesa também, e era bacana porque a gente fazia tipo um programa de TV, do desenho animado até as músicas noturnas, até os seriados noturnos. Então, a gente cantava “Os Flintstones”, “Manda Chuva”, “Batman”. Aí depois tinha “Hawaí 5-0”, “I Love Lucy”. Era uma seqüência, e no meio a gente cantava muita propaganda antiga. Cantava “Creme Rugol”, “Lojas Garbo”, “Pernambucanas”, a gente ia intercalando. Esse show foi muito bacana e existe até hoje. O grupo teve alguns problemas, o grupo rachou e hoje existe com o mesmo repertório. Eles fazem ainda. Eu sou amigo de todos eles, mas enfim... E ficou um ano em cartaz, a gente teve uma mídia bem pesada em cima do show, a gente ficou quatro minutos no “Vídeo Show”, 20 minutos no “Mulheres”, 20 minutos na MTV.
P/2 – E isso era que ano, mais ou menos?
R – 1994, 1995, 1996.
P/2 – Já tá bem para frente.
R – Já, já. Eu acho que dei um pulo. Mas é que é tudo seguido, eu te falei do Forja, que era o grupo de teatro dos metalúrgicos, do Forja eu fui para a Escola de Teatro da Célia Helena, do Célia Helena eu fui para o Cultura Inglesa. Na Cultura Inglesa eu fiz meu primeiro espetáculo profissional que foi o “On the Vox”.
P/2 – Mas o seu primeiro trabalho oficial foi o Banco?
R – Trabalho remunerado, o Banco. Vamos para o Banco do Brasil, vamos lá.
P/2 – Conta um pouco dessa experiência, tão novinho assim.
R – Pois é. Eu achava meio estranho eu trabalhar lá, no começo. Eu tinha que trabalhar, eu não sabia onde eu ia trabalhar. Precisava trabalhar porque eu tinha que ajudar minha família etc, etc e etc. E quando eu entrei no Banco do Brasil eu achei bacana, porque eu não sabia nem onde ficava o Banco do Brasil. Falaram: “É ali”. Eu falei: “Vou lá”. Era um prédio imenso que eu não tinha idéia de onde ficava. Aí eu fui lá no Banco do Brasil e fiz três entrevistas. Na minha época era assim: Tinha três pessoas que iriam me entrevistar. Aí, eu fui lá, conversei com eles, tal. E eu me lembro que eu arrependi de uma resposta que eu dei: “Putz, perdi o emprego”. [risos]. Ele perguntou: “Qual é a sua matéria favorita?”. E eu falei: “História”. Depois que eu fui embora, “Putz’, eu devia ter dito que era Matemática”. Aí eu falei: “Pronto”. Ligaram na minha casa: “Você vai trabalhar com a gente, tal, tal e tal”. E eu fui, tomei posse lá. E tinha muita brincadeira, eu nunca fui vítima das brincadeiras, não sei porque, nunca tentaram me pegar. Mas tinha coisa assim, de mandar lavar o carbono, para poder usar de novo... Máquinas, sei lá... Não me lembro do que tinha, mas tinha um monte de piadinha, que faziam com os Menores Auxiliares de Serviços Gerais, que era o meu cargo. Era boy. Só que eles chamavam de “Menor Auxiliar de Serviços Gerais”. Então, eu era isso aí. E era muito engraçado porque eu, teve uma época que eu tive que usar um uniforme azul horrível. Eu odiava aquele uniforme, todo mundo odiava aquele uniforme. Até que o meu demorou muito para ficar pronto e eu: “Escapei, escapei, escapei”. Até o dia que chegou aquela coisa [risos]. Aí tive que vestir. A gente ganhava dois uniformes, né? Um para poder ir lavando e a gente ia crescendo e ia tendo de fazer outro uniforme. Eu tenho o meu até hoje, ele está todo autografado lá, mas eu tenho o meu uniforme. Depois eu comecei a gostar dele. E o que acontecia? Era muito interessante porque era outro tempo. No Banco não tinha fila única, que é a grande invenção do século, a fila única. Porque eu lembro que minha agência era muito grande, tinha dois andares, e eu ficava aqui na escada olhando aqueles montes de guichês de caixa, uns 20 guichês de caixa. Imagina só, cada um com uma fila [risos]. Às vezes você tinha que ficar numa fila e você ficava louco de raiva, porque você via a outra fila andando e a sua não ia. E você não podia mudar de fila porque você perdia tempo, sabe Deus o que ia acontecer quando você chegasse lá, né? Não tinha porta automática e aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Naquela época o Menor Auxiliar de Serviços Gerais, vou falar direito. Você podia fazer um concurso interno e se você passasse naquele concurso interno você podia fazer carreira no Banco. Hoje isso não existe mais. Então, eu fiz a prova, passei com 16 anos e eu tinha que esperar até os 18 para tomar posse. Então, fiquei dois anos como aprovado, mas tendo como trabalhar como menor ainda, porque não tinha idade. Enfim, eu tomei posse com 18 anos, em 1986, e eu tinha que atender as pessoas na chamada “Plataforma”, onde as pessoas se sentam para ser atendidas, tem um ou outro problema, você vai lidando. Aí me falaram: “Manuel, cuidado com aquele senhor ali, você não manda ele para fila” “Não manda ele para fila?” “Não, não manda”. Eu falei: “Ué, tudo bem, né?”. Aí eu fui lá, tal, conversei com ele e falei: “Agora o senhor pode ir para fila”. [risos] Ele não teve dúvida, levantou a camisa e falou: “Olha a fila aqui”. Ele estava armado [risos]. Era uma arma, entendeu? Quer dizer, acho que ele era algum neurótico de guerra, alguma coisa assim, e ele andava armado. Imagina, hoje em dia é impossível. Eu me lembro também que a gente entrava na Tesouraria do Banco, que é um lugar... Para quem viu, é um lugar bem especial. [risos]. Montanhas de dinheiro, sabe? Montanhas, pilhas de dinheiro! Você só apertava a campainha e você entrava, o cara, “tuc”, abria. Você ia lá, pegava o que tinha que pegar e ia embora. Só olhava o dinheiro, não fazia nada. Mas era muito engraçado esse tipo de... Como era mais fácil o tipo de relação, né?
P/2 – Você lembra o que você fez com seu primeiro salário?
R – Lembro. Comprei um presente para cada pessoa da minha casa [risos]. Porque eu nunca precisei, efetivamente, ajudar. Nunca precisei ajudar em casa. Quando eu comecei a trabalhar, minha família já tinha conseguido uma certa estabilidade. Não era nada assim, mas era uma coisa tranquila. E o sonho da minha vida era ter um Atari, eu era maluco para ter um Atari, que era o videogame da época e eu não podia comprar, era muito caro. Mas eu fui juntando meu dinheirinho do meu salário, tal, tal, tal, tal e tal, porque eu pagava meu inglês. Olha só, com meu salário eu pagava o meu inglês, a minha escola de Teatro e a faculdade. Eu pagava as três coisas. Então, eu não ajudava em casa, mas eu não custava nada, só comida, essas coisas assim [risos], que todo filho custa. Então, com meu salário eu comprei esse brinquedinho e outro sonho de consumo na época que, quem tinha, era praticamente um semideus: o vídeo-cassete. O meu veio do Paraguai [risos], entendeu? Paguei uma fortuna no vídeo-cassete. E alguns anos depois eu comprei uma filmadora deste tamanho, (Recorder?), que, graças a ela, eu filmei muita coisa que eu tenho disponível. Hoje você tem aquelas digitaizinhas desse tamanhico que filma...
P/2 – Mas e aí, depois de trabalhar meio período, chegou uma hora que você precisou...
R – Sempre trabalhei meio período no Banco. Eu optei por trabalhar meio período no Banco porque eu queria fazer muita coisa.
P/2 – Nunca foi um problema isso?
R – No começo foi um problema, no Banco, foi. Tipo, quando eu era menor eu tinha o meu amigo Reinaldo e a gente tinha que fazer as coisas em São Paulo, eu trabalhava em São Bernardo, eu mentia no Banco [risos]. Eu falava... “O que você vai fazer?”. “Eu vou, eu vou... Ah, eu to doente”. Sei lá, eu dava uma mentirinha. Porque a gente tem, porque os funcionários mais antigos, porque hoje eu sou um dos funcionários mais antigos [risos]. Você ganhava 5 abonos por ano. Você somava: 5, 10, 20. Hoje eu posso falar: “Eu posso faltar um ano no Banco se eu quiser” [risos]. É que eles não deixam, mas eu posso faltar um ano porque eu acumulei tudo: abono, licença-prêmio... Você ganha 5 abonos por ano e 18 dias de licença-prêmio. Se você não usa, soma para o ano seguinte. Os funcionários atuais não têm isso, eles perderam. Eles ganham 5 faltas por ano, mas se não usar você gasta. Então, chegou uma época que eu tinha um monte disso. Eu mentia, mas eu tinha direito. Então, eu meio faltava para trabalhar, mas eu ia fazer minhas coisas e, às vezes, eu voltava para o Banco, chegava mais tarde: “Ah, cheguei...”. E voltava lá e seguia a minha rotina, né? Então, eu precisei mentir, sim, durante um tempo. Mas, com o passar do tempo, e até hoje, eu só tenho mesmo que agradecer ao Banco do Brasil e às pessoas que trabalham lá, porque elas me ajudam muuuito, me incentivam muuuito, colaboram em tudo o que eu quero fazer. Isso eu não posso... Olha, eu só tenho mesmo que agradecer. Eles, inclusive, vão assistir aos meus. Uma vez, eu achei tão engraçado, tinha três Gerentes assistindo, assim, os três, na minha frente e eu lá fazendo uma coisa. E o que é bacana também, é que os Bancos da Febraban, o Banco do Brasil é um dos patrocinadores, todo ano eles fazem o Banco de Talentos. É um evento onde os funcionários de todos os bancos podem se inscrever. Então, por ano, eles determinam categorias, tipo: um ano é Música, Escultura e Literatura; no outro ano é Teatro, Poesia e Canto Coral. E eu me inscrevi e eu me classifiquei três vezes como Cantor, uma vez como Literatura e uma vez como Teatro. Eu mandei um Conto Infantil. O Banco dá incentivos e eu tenho tido muita felicidade nisso. Então, eu parei de mentir [risos]. Eu não minto mais, agora quando eu quero fazer uma coisa artística, eles sabem. E por causa disso, eu optei por não fazer carreira no Banco. Eu passei por vários setores do Banco. Ah, lembro de uma coisa muito curiosa, que era trabalhar na Cacex do Banco do Brasil. Era Cacex o nome. Hoje, o nome do setor é Gecex, é onde eu estou até hoje, nunca mais saí da área. Mas era muito engraçado no fim de ano porque os funcionários da Cacex.
P/2 – O que é Cacex?
R – Carteira de Comércio Exterior. Essa é uma coisa mais curiosa.
P/1 – O que você fazia lá?
R – Eu tinha vontade de trabalhar lá, só que era muito difícil, era muito complicado entrar lá. Tanto que eu não conseguia. Quando eu era Menor você trabalha para qualquer um: “Menino, leva isso daqui para mim ali”, “Liga minha máquina”, “Bate esse carimbo”. Então, você trabalha para todo mundo. Quando você faz 18 anos e você toma posse, eles te põem em um setor, e me botaram lá na Plataforma, onde ficava atendendo algumas coisas assim. Cobrança. Eu trabalhei muito na Cobrança, que eu tinha que digitar um... Isso era muito engraçado, também. Os caixas, por exemplo, você chegou no Banco e você tinha que fazer um depósito. Nossa, eu to lembrando de coisas que... Você chegava no Banco, você fazia um depósito em dinheiro. O caixa ia lá, abria o Livrão, anotava à lápis o valor, só no dia seguinte, quando chegasse o novo Livrão, que ia ta lá que aquele depósito foi feito. E quando eu entrei no banco, eu também me lembro que quando acaba a luz [risos], elas tinham que pegar a manivela. Olha, década de 1980, não é 1920, não! [risos]. Catava a manivela, enfiava na máquina, botava o negocinho e “chummm”, para máquina funcionar. Depois de um tempo, chegou uma máquina Sharp, que era uma máquina pequenininha assim, que foi uma revolução. Também teve uma outra coisa interessante, quando trocaram todas as máquinas de escrever do Banco. Nossssaaa! Ganhei uma máquina Facit, sabe? Você ficava olhando para a máquina, assim... [risos]. Nossaaaa! Quem tinha máquina elétrica era um semideus, não podia chegar perto da máquina elétrica, ela até apagava os erros, entendeu? Aí, você datilografava aquilo tudo e mostrava para o chefe. “Tá aqui” “Ah, não gostei dessa palavra”. Você tinha que voltar de datilografar tudo de novo [risos]. Quer dizer... Era uma maluquice, né? Isso era curioso. Mas, então, os funcionários da Cacex, né? Eles despertavam a atenção dos outros funcionários no fim do ano, porque no fim do ano eles ganhavam muuuito presente, era uma coisa absurda. Tipo, de mandar entregar em casa.
P/2 – Mas ganhavam de quem?
R – Das empresas. Porque, o que a Cacex faz? Naquela época, importar e exportar no Brasil era completamente diferente do que a gente tem hoje, tá? Para você fazer uma importação era a coisa mais difícil do mundo, era dificultado ao máximo, era muito difícil você fazer uma importação. E esse setor, a Cacex, ela liberava pedidos de importação e exportação das empresas. Então, era um setor que não havia corrupção, mas havia adulação, tá? Nunca, na minha vida, em 25 anos de Banco, eu nunca trabalhei com funcionário corrupto. Nunca. Você sabe de “probleminhas” que acontecem com... Às vezes a fraqueza de uma pessoa, mas, deliberadamente, eu não me lembro. Aí, o que acontece: Na Cacex, então, as empresas adulavam. Hoje em dia parece que tem uns padrões, tipo... Você não pode receber mais do que cem reais de brinde, não sei o quê, tal tal tal. Mas, naquela época, década de 1980, se recebia muito presente, até vídeo-cassete, que era uma coisa. O Gerente da Cacex recebia vídeo-cassete em casa. Aí eu falei: “Nossa, eu quero ir lá”. E toda hora chegava aqueles pacotes que as empresas mandavam: “Para onde é?” “Para os funcionários da Cacex” “Ai meu Deus!”. Aí, eu queria ir para Cacex, até que eu fui lá, consegui conversar, tal e tal, “puft”, fui parar na Cacex. E era engraçado porque trabalhava um senhor lá, o nome dele era Mauá. Tadinho do Mauá, ele já morreu. Ele atendia: “Banco do Brasil. Mauá, bom dia” “Não, mas eu queria falar com o Banco do Brasil de São Bernardo” “Não, é aqui.” [risos]. Porque ele era o Mauá, e eu trabalhei muito tempo com ele, eu analisava Guia de Importação, que não existe mais, hoje virou outra coisa. Aí, eu comecei a ganhar os presentes no fim do ano [risos]. E vinha muita coisa bacana. Teve um ano que eu ganhei cinco relógios [risos]. Mas é relógio, sabe aqueles relógios que hoje vem da China, que tem o nome da empresa no fundo, que você não vai usar aquilo em lugar nenhum? Guarda-chuva com nome da empresa, deste tamanho assim, que você não vai usar em lugar nenhum. Tinha umas coisas que eram bacanas. Rádio-relógio, eu ganhei. Mas não era uma coisa assim... Nunca vinha com a condição de você soltar o documento. Até porque para você soltar o documento de uma empresa, tinha que passar por duas ou três pessoas. Então, não tinha essa coisa... Eu presenciei um ato de uma empresa tentando subornar o meu chefe. Ele sacou aquilo, que ia acontecer o suborno, ele avisou o andar inteiro: “Olha, tal horário vai acontecer tal coisa. Estejam todos olhando”. Aí a pessoa foi lá, a gente ficou observando, tal. A gente viu todo o processo. E ele falou: “Olha, você saia da daqui”. Não foi assim, mas: “Olha, não é assim, seu documento não será liberado etc, etc e etc”. E o cara foi embora. Depois a gente viu o papelzinho que ele deu para ele, com o valor que ele tava querendo passar para ele. Então, essas coisas aconteciam assim. Mas não tinha isso, não. Aí, eles viviam mandando agenda, brinde, para agradar. Aquilo não resolvia nada porque a gente tinha que seguir rigorosamente a CIC, que era Código de Instruções Circulares, algo assim, hoje é LIC, Livro de Instruções Circulares. E a gente não desviava daquilo, era impossível. Mas era um setor que até hoje recebe coisas assim. Diminuiu muito, mas até hoje. Para você ver, que eu trabalho desde então. Eu saí uma vez só, porque quando eu tava em São Bernardo, eles criaram um órgão chamado CESEC [Centro de Processamento de Serviços e Comunicações] que foi um lugar muito bacana, eu adorei trabalhar lá. Foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar no Banco.
P/1 – O que é CESEC?
R – Ah, Centro [risos]. Não sei o que é...
P/2 – Mas explica o que faz o CESEC ?
R – O CESEC era assim: Tinha um CESEC grande, que era o CESEC Santo Amaro. Era lá, que por exemplo: As agências trabalhavam o dia inteiro e mandava tudo para eles, eles processavam tudo e devolviam o Livrão novo para as agências. Tudo acontecia no CESEC.
P/2 – Uma compensação assim, uma Central de Informática?
R – Não. Da Compensação era uma outra coisa também. Até hoje ela é centralizada no Banco do Brasil. CESEC era o Centro de Processamento de tudo do Banco: Documento que chega, recibos, processamento de livros. Essas coisas não existem mais. Aí, o Banco resolveu que deviam existir vários CESEC, um só não deveria mais existir, por variadas razões. Uma delas, que era a principal: Se acontecesse uma greve, o pessoal só precisava fechar um lugar em São Paulo, era o CESEC Santo Amaro. Fechou aquilo, agência alguma recebia nada, não tinha como trabalhar.
P/2 – Continua lá, não continua?
R – Existe ele também, acho que não tem mais esse nome. Agora estão inventando uma coisa que é CSO [Centro de Suporte e Operações]. O Banco é cíclico, é assim: “Vamos inventar uma coisa nova que vai funcionar”. Aí não funciona, jogou fora. Passa cinco anos, aquela coisa volta com outro nome. É o que ta acontecendo agora, o CSO tá vindo como, é o novo CESEC. Mas enfim... Aí, a gente foi para o... Aí inventaram: “Ah, vamos para o CESEC que vai ser legal”; “Ai meu Deus, é São Paulo. Vai, vou” [risos]. Fui. Aí, eu fui trabalhar das 19:00 à 00:35. Era muito bacana, foi muito legal. Só ficava a gente a noite no andar inteiro, da Cacex antiga. Aí, eu comecei a fazer um serviço chamado Certificado de Origem, que acho que é a única coisa que existe até hoje, daquela época, é o Certificado de Origem, que é meramente um documento que atesta que a mercadoria é brasileira e que por essa mercadoria sair de um país em desenvolvimento, lá fora a empresa não paga alguns impostos. Se uma empresa européia importar uma peça brasileira, ou americana, vai pagar menos pela brasileira no país dele porque ele não paga os impostos. Então, este Certificado de Origem atesta a origem do produto. Isso existe até hoje e eu fazia isso lá. Então, era muito divertido, a gente levava marmita para comer. Uma vez eu queimei uma cadeira, a anta [risos]. Eu tinha uma marmitinha que era de base de metal, e era só ligar na tomada que ela esquentava a marmita [risos]. Aí, a anta ta lá, eu pego a marmita, tiro: “Ai meu Deus, tá quente! O que eu faço?”. “Puft!”, botei em cima da cadeira [risos]. A cadeira de plástico, queimou a cadeira [risos]. Meu Deus do céu. No dia seguinte ninguém sabia quem queimou a cadeira. Você podia ter botado no mármore que não acontecia nada, né? Todo mundo tinha marmitinha lá porque, 22:00 horas – eu trabalhava no Ipiranga – não tinha para onde ir, enfim. Então, trabalhei lá bastante tempo, aí uma época eu mudei para trabalhar das 07:00 ás 13:00, que foi o meu melhor horário. Eu fiquei nesse horário muitos anos. Graças a isso que eu fui trabalhar em TV, porque o Banco tinha, naquela época, TV Banco do Brasil. Acho que era TV Banco do Brasil, e eu queria trabalhar lá. “Ai meu Deus, como é que eu faço para trabalhar na TV Banco do Brasil?”. Eu mandei lá, sei lá, liguei para eles, tal e deu certo. Eles me ligaram: “Manuel, vem fazer um estágio aqui em Brasília”. Eu falei: “Oba, vou à Brasília agora!”. Eu já tava me arrumando, tudo, batalhando as coisas, porque eu tinha acabado de trabalhar na Rede Mulher. Porque, como eu trabalhava das 07:00 ás 13:00, o resto do dia eu ia trabalhar em televisão. Porque, já tinha acontecido aquele monte de show que eu falei do “On the Vox”, tal. Aí, eu fui trabalhar no Clodovil. E foi muito engraçado como é que eu fui parar no Clodovil. [risos].
P/2 – E o primeiro dinheiro que você ganhou fora do Banco? Você lembra?
R – Ah, foi com figuração de comercial, ou figuração de novela. Alguma coisinha assim, que eu tenho até hoje o cheque, tenho uma xerox do cheque [risos]. Eu guardo quase tudo.
P/2 – E a TV BB Brasília...
R – Mas antes da TV BB, como é que essa coisa de TV apareceu? Porque eu tava procurando trabalho em produtora. Eu falei: “Oba, vou trabalhar de redator dentro de produtora, lá vou eu”.
(FINAL DO CD)
R – Acabei encontrando uma pessoa, a Guida, que foi uma pessoa bem bacana e ela me levou na Produtora onde ela trabalhava, me mostrou os roteiros que ela fazia, os programas que escrevia. Porque eu queria virar roteirista de televisão. Aí ela falou: “Olha, tal, tal, tal, tal e tal”. Um dia ela me liga: “Manuel, quero te convidar para um trabalho’. Eu falei: “Qual é o trabalho?” [risos]. “Ser redator do Clodovil. Quer escrever comigo? Porque eu não posso pegar sozinha”. Eu falei: “Ah, tá” “Então tá, ele convidou a gente para jantar na casa dele agora”. Eu falei: “O quê?”. [risos]. Eu tava, sabe, super assim... “Mas eu vou na casa do Clodovil?”.[risos]. Ele tinha acabado de sair da TV Gazeta, né? Aí eu fui apavorado, eu falei: “E agora, o que eu vou fazer?”.
P/2 – Chegar assim sem nenhum estilo...
R – Pois é, o cara vai bater em mim... Recebeu a gente extremamente bem, foi muito engraçado você chegar lá na casa dele, é na Granja Viana, né? Tinha o capacho dele, assim, “Clodovil”, aquela assinatura dele. A gente entrou na casa dele, era uma casa muuuito bonita. Aí ele serviu entrada, prato principal, tudo. Porque o que aconteceu: Ele sempre teve problema com as equipes dele, sempre, e ia ter com a gente também. Mas, a produtora dele, convenceu o Clodovil a tratar legal esse primeiro contato com a nova equipe da Rede Mulher, tal e tal. E aí foi, né? A minha amiga pulou fora e eu fiquei lá. Eu acabei ficando no programa com ele. E foi muito bacana por variadas razões. Teve muitos problemas, muuitos e muuuitos problemas, não é fácil lidar com ele. Não vou falar mal dele, mas teve muita coisa bacana. Por exemplo: as pessoas que eu consegui levar para o programa e consegui conversar, graças a esse programa: Fernanda Montenegro foi no programa exatamente no mesmo dia que o Rubens Côrrea morreu. O Rubens Côrrea foi um dos maiores atores de teatro brasileiro que nós tivemos. Era um monstro, o cara... Eu nunca vi, na minha vida, um ator com aquela competência. Nunca. Rubens Côrrea. E ele morreu exatamente no dia que ela tava... Recebeu a notícia, a gente falou para ela, e ela falou no ar. Pessoas simpáticas que foram passando pelo programa. Sei lá, as mais simpáticas, que eu não esqueço: Sidney Magal, ele é muito simpático. A Maria Alcina era muito bacana. Enfim, muita gente...
P/2 – De que ano até que ano foi essa história do Clodovil?
R – Clodovil acho que durou um ano. Acho que foi em 1996, 1997, por aí. Durou um ano, mais ou menos. E teve uma coisa muito engraçada, que eu nunca esqueci: A Yara Baumgarten. Uma mulher riquíssima, ela é a dona do Shopping Center Norte, me parece. Muito rica. E a gente tinha a Sala Vip, onde a gente colocava os convidados lá dentro. E a sala da produção, era a sala da produção. A gente tinha lá uma cadeirinha para gente sentar, meio assim. O computador não tinha, acho que era máquina de escrever. E eu ficava correndo para lá e para cá porque eu era o Redator, mas no dia de gravação do programa, a gente trabalhava de Redator, de Recepcionista, de tudo, né? Aí, eu pego essa Yara Baumgarten e levo para a salinha dela, lá da Sala Vip, com os lanchezinhos, tal. Eu vou fazer. Quando eu olho e volto, a mulher ta lá na Sala de Produção. “O que a senhora ta fazendo aqui?” “Por favor, eu não posso ficar aqui?”. Eu falei: “Pode, por quê?” “A mulher que ta lá é muito chata” Falei: “Tudo bem”. [risos]. E ela ficou lá. O rosto dela, fios de ouro embaixo do rosto dela porque... (Coisas que se contam lá?). Então assim, aconteceram coisas muito engraçadas durante o programa, de ter de correr atrás. Aí saí de lá, tal, voltei para o Banco, porque eu trabalhava no Clodovil das duas até, sei lá...
P/2 – Mas você nunca se desligou do Banco, né?
R – Não, nunca me desliguei, sempre continuei porque eu não confiava muito nesses trabalhos. Eu sei que são trabalhos. E o Banco me ensinou e me disciplinou a ter uma coisa, que é o salário todo dia 20. Você acostuma com isso, entendeu? É uma coisa que para você largar é difícil, e eu não tive essa coisa de largar. E não me incomodava, sabe? Como eu tava trabalhando das 07:00 ás 13:00, ia para lá e ficava lá, não tava me incomodando. Eu voltei para o Banco e nesse momento apareceu a TV Banco do Brasil. Eu falei: “Oba, eu vou para Brasília, vou trabalhar”. Eles me ligaram, depois que tava tudo certo, já tinha pedido autorização para o meu chefe, me liga: “Manuel, o equipamento quebrou. Não adianta você vir agora, você vem daqui um tempo, tá?”. Eu: “Tá bom”. Na semana seguinte a Record me chamou. Porque meu Diretor do Clodovil também saiu do Clodovil, foi para a Ana Maria Braga, que na época, o programa dela já era o de maior audiência na Rede Record. E eu fui para Ana Maria Braga e comecei a escrever o programa dela. E era muito... Também foi divertido. Aprendi muita coisa, vi muita coisa. Isso é um caso, talvez me desmintam, mas é um caso que eu vi acontecer: Quando eu entrei na Maria Braga ela ia mandar alguém embora, ia mandar uma pessoa lá porque ela é meio pão dura. Mas enfim, ela ia mandar alguém embora. Adivinha quem que ela ia mandar embora? O menino que faz o Louro José [risos]. Ela ia mandar esse menino embora. Ele era produtor do programa dela, do Note e Anote. Aí uma pessoa pediu a conta: “Não, não, eu vou embora que eu arrumei um programa numa rádio”. E o menino ficou e... Ainda bem porque ele é o Tom Veiga, uma pessoa bastante simpática e que, felizmente, deu certo na carreira dele. E era muito engraçado, assim: Quando eu entrei na Ana Maria Braga não tinha computador, 1996. Quando eu cheguei com o meu primeiro roteiro, que eu tinha um XP em casa [risos]. Eu tinha meu primeiro roteiro impresso, ela olhou assim: “Nossa”. Tal, não sei o quê. Aí veio aquela coisa: “Se eu comprar um computador para a produção, vocês vão usar?”. [risos]. Assim: “Bom, vai facilitar a minha vida, inclusive”. Aí foi comprado um computador e ficou lá. E era engraçado porque tinha uma menina lá que era da Umbanda, na Record, e não podia. Então, ela tinha que esconder as coisas dela quando aparecia alguém. Porque a produção do programa da Ana Maria Braga era pago pela Ana Maria, não era pago pela Record. Então, era uma coisa meio, assim, né? E no dia da gravação, eu lembro era muito engraçado, porque eu tinha que lidar com aqueles grupos de pagode. E eu não tinha idéia de quem era quem. Quando eles se juntavam [risos]: “Meu Deus do céu, e agora?”. Porque você tinha que chamar para a gravação. Não tinha dúvida, tinha uma produtora que era fã de todos eles: “Pelo amor de Deus, me reúne o Katinguelê agora”. [risos]. Ela ia lá, juntava, catava um daqui, um daqui, um daqui [risos], estava todo mundo na platéia. E eu também mexi meus pauzinhos, eu também acabei levando um pouco de Cultura para o programa. Eu levei a Maria Della Costa. Quando eu consegui enfiar alguma coisinha, eu levei a Maria Della Costa. Porque outra coisa bem bacana que eu me lembrei agora. Porque o Maria Della Costa sempre tem reinagurações, mas teve uma graaaande reinauguração depois de uma graaaande reforma, que todo mundo que vocês puderam imaginar foi nesse dia do Teatro. E eu cantei no palco um pouquinho depois do Paulo Autran ter se apresentado [risos]. Eu entrei no palco, um coral que era um grupo de quatro ou cinco pessoas, a gente cantou para uma plateia super estrelada, que eu via e: “Nossa! Nossa! Nossa!” Não sabia nem quem tava lá. Por causa disso eu fiquei com a Maria Della Costa na cabeça e eu levei ela no programa, depois que eu fui no Ana Maria Braga. Aí eu trabalhei um tempo na Ana Maria, tal...
P/2 – Sempre escrevendo roteiro?
R – Sempre roteirizando o programa. O Clodovil era engraçado. Teve uma época que ele lia o que eu escrevia e falava, com as palavras dele. Mas chegou uma época, lembro que ele tava tão de saco cheio, que ele não queria mais ter que pensar, botava o telepronter na frente dele e ele lia exatamente o que eu escrevia. Era engraçado. A sorte dele é que eu escrevia Teatro, então eu tinha mais ou menos uma gingada com o diálogo, né? Então, eu escrevia de uma maneira para falar. Quando ele percebeu que meu texto era assim, ele começou a fazer. Também escrevi para Teatro, já é outra história [risos]. O “On the Vox”, o que aconteceu? Voltando um pouquinho. A gente fez aquele show de seriados de televisão. Aí o grupo rachou, grupo de teatro briga, briga muito. Aí, a gente rachou, o “On the Vox” continuou, foram fazer o outro grupo, tal. Eu escrevi uma peça: “A Seguir Cenas do Próximo Capítulo”. Era muito engraçado, era uma peça, a gente ficou um tempo em cartaz com ela. A gente cantava aberturas de novelas famosas, até a época. E no meio dessas aberturas de novela a gente fazia cenas, que eram cenas muito tiração de sarro total das novelas em si. E a gente estreou essa peça no Teatro Sérgio Cardoso, na Sala Paschoal Carlos Magno, que é a sala pequenininha do Teatro Sérgio Cardoso. E era muito engraçado, tinha uma cena que eu adorava, que era a cena da dublagem. A gente colocava dois atores aqui fazendo novela mexicana e depois atores aqui, fazendo a dublagem. [risos]. Então, eles começavam a brigar e eles continuavam o diálogo deles, de novela, né? Aí, quando eles paravam de brigar, o menino atrás ficava: “Volta a fita!”. “Blu, lu, lu, lu!” E eles tinham que fazer tudo ao contrário para poder voltar ao ponto onde eles iam começar, e começavam a brigar de novo, era muito engraçado. [risos]. Tinha assim: “Quem matou Valquíria Iolanda?”. Tinha, ao longo da peça inteira: “Como é bom ver de novo”, aí vinha a menina: “Ai, eu amo tanto ele, mas será que ele me ama, como eu amo ele? Mas será que aquela sirigaita ama ele, como eu amo ele?”. A gente brincava muito com os erros de português que tem. Então, foi uma peça bem bacana. Depois dessa peça o grupo acabou mesmo [risos]. Não dá mais. E aí que eu comecei a fazer teste para teatro, para peça profissional mesmo, onde a produção não era nossa. Porque até então a gente fazia as produções. O grupo “On the Vox”, a gente bancava, corria atrás dos pequenos apoios culturais, dos patrocínios, tal. Aí, a gente tava no ano de 2000 e eu vi que apareceu teste para peça “Brasil outros 500” que era uma peça escrita pelo Millôr Fernandes, programação visual do Ziraldo, arranjos do Wagner Tiso, músicas do Toquinho e ia estrear no Teatro Municipal de São Paulo em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Aí eu cheguei e falei: “Oba, eu vou fazer o teste”. Só que eu errei o dia. Eu cheguei lá na porta, tudo fechado. Eu fiquei super deprimido: “Que droga, como é que eu perdi o teste”. Não sei porque abriu na semana seguinte de novo. Fui lá, fiz, passei e peguei o papel de dois personagens que eu achei um barato ter pego: Eu peguei o Rei de Portugal, Dom Manuel, que era o meu xará, o Rei Dom Manuel, o Venturoso, e o Pero Vaz de Caminha.
P/2 – Dois papéis importantes...
R – Pois é. E o que eu achei bacana foi que o Rei Dom Manuel, ele tinha a mesma idade que eu tinha quando ele mandou as caravelas descobrirem o Brasil. E eu fazia essa cena. Ninguém sabia. Eu sabia, porque a gente estudou. Olha que barato, tenho a mesma idade dele, quando ele mandou as caravelas para viagem que deu no descobrimento do Brasil. Aí, depois que eu fiz esse Musical, foi o maior barato fazer o Teatro Municipal, nunca imaginei que eu fosse fazer alguma coisa lá, tal. Pintou o teste dos “Lusíadas” da Ruth Escobar. Que tava tendo um monte de problemas, aquela peça acho que teve uns dez diretores, mas enfim. Abriu o teste, fui lá, fiz, passei e também foi muito bacana. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida, em teatro, foi “Os Lusíadas”. A gente estudou para burro. “Os Lusíadas” é uma coisa extremamente interessante, a gente que não aprende direito na escola, infelizmente. Mas é uma aventura fantástica, você imaginar que o Vasco da Gama queria descobrir o Caminho das Índias, mas enfim, eles não sabiam o que tinha, nem como ultrapassar. Então é essa aventura, é muito bacana. Fiz o teste, passei e peguei um dos capitães. O papel era pequenininho, mas era um papel bonito, era o Nicolau Coelho. Porque tinha três capitães: O Vasco da Gama, Paulo da Gama e o Nicolau Coelho. Então, eles vão lá, vão para a Índia. Quando eles voltam, o Paulo da Gama morreu e o Vasco ficou para enterrar, e mandou o Nicolau: “Olha, você fala que a gente achou”. O Nicolau podia ter chegado e falar: “Achei”. Não, ele chegou e falou: “Foi o Vasco da Gama que achou e ele tá vindo aí”. Então, eu fiz esse personagem. E era engraçado que na peça anterior, do “Brasil outros 500”, eu tinha que desejar boa viagem para cada um dos personagens. Eu chegava: “Nicolau Coelho, boa viagem para você” [risos]. Um ano depois eu ia fazer o Nicolau Coelho, né? Aí, depois eu fiz mais um teste para uma outra peça, foi “O Mágico de Oz”, foi aquela primeira versão que teve, uma versão grande, ta voltando agora. E lá vou eu fazer teste para o Leão. Eu falei: “Deixa eu ir lá”. Porque eu estava mais gordo ainda do que da...”. Catei o Homem de Lata [risos]. Só que eu era o stand-in, eu era o segundo. Eu nunca fiz o papel, eu era o segundo. Porque nessas peças grandes é bem “McDonalds”, entendeu? Eles fazem os testes, olham muito o ator, a qualidade do ator, o canto do cara e se você serve na roupa. Então, eu não servia na roupa do Homem de Lata. Do Leão eu servia [risos], mas do Homem de Lata eu não servia. Aí, eu fiquei como o stand-in dele. Então, se ele passasse mal, se ele tivesse alguma coisa, eu o faria. Mas eu não queria que ele passasse mal, nem nada. Mas eu acabei fazendo um gnomo. Eu sabia o papel inteiro do Homem de Lata, mas era o gnomo. Eu brincava: “Gente, eu sou o maior gnomo que tem na Terra de Oz” [risos]. Porque eu era grande e usava uma roupa bem grande, com a barriga desse tamanho. Mas foi muito divertido porque a gente até fazia. Isso é maldade, né? Mas, não tem jeito. Os três stand-in: do Homem de Lata, do Leão e do Espantalho, cantava melhor que os titulares [risos]. Tem até uma gravação que a gente fez, eu cobri o cara porque ele não foi no dia, mas enfim... E a gente olhava e falava: ”Não, a gente canta melhor, não tem jeito, né?”. Mas enfim, isso é bobagem, isso é maldade [risos]. Que mais? Ah, então, eu fiz “O Mágico de Oz”. Ah, nesse meio tempo todo também eu to fazendo música com a Banda Café. O que é a Banda Café? Ela foi um derivativo do “On the Vox”, com a Fernanda Gianesella, essa minha amiga. Porque quando o grupo rachou, ela foi prum lado e eu fui para o outro, a gente rachou também. Mas aí a amizade foi mais forte, tal tal, voltamos juntos, tal e a gente fez a Banda Café que cantava música brasileira inédita, uma coisa que a gente sempre quis fazer. E a gente foi, fomos batalhar pra burro, e a coisa mais bacana que aconteceu com a Café foi um festival que a gente ganhou no Sesi da Paulista. Foi muito engraçado, a gente foi com uma música que a gente cantava em dueto. E aquela platéia lotada, cheia de torcida organizada, e a gente não tinha uma pessoa na platéia. Nenhuma. Eu falei: “Ah, Fernanda, vamos cantar, vai. Vamos lá e seja o que Deus quiser”. De repente, no meio da música, todo mundo cantando a música com a gente. Porque a música era muito boa, de um amigo nosso, era “Trem de Aço”. Vou até gravar agora. Mas, a platéia inteira cantou com a gente e a gente ganhou. Eu não acreditava, né? E fomos muito aplaudidos. Graças a isso, a gente andou nos Sesi’s da vida, por aí, fazendo show. E a Banda Café foi indo, foi indo, a gente fez coisas muito bacanas, cantamos músicas muito bonitas, descobrimos compositores muito bacanas e a gente... Acabou o trabalho também. Esses grupos sempre acabam e eu falei: “Quer saber? É o meu solo agora. Vou fazer meu solo”. E comecei a batalhar meu CD. Eu falei, “Vou fazer o meu CD de música autoral, inédita”.
P/2 – Que é de músicas compostas por você?
R – Que é uma batalha 30 vezes pior do que você gravar música já conhecida. Eu falei, não, mas eu vou fazer o que eu quero. E eu comecei a batalhar meu CD, ficou um CD muito bacana. Felizmente eu tenho músicos altamente competentes. No disco toca o Toninho Ferragutti, que é um sanfoneiro que já foi indicado ao Grammy. O percussionista...
P/2 – Como chama o disco?
R – “Tempo”. O percussionista é o Da Lua, que é um cara fabuloso, ele fez a percussão dos dois primeiros discos da Maria Rita. O Beto Marsola que produziu o meu CD, a Cristina Lemos que é a minha parceira. E aí, eu fiz esse CD, batalhei, e o que eu resolvi fazer? Eu queria lançar... Todo esse CD, ele é inspirado em Teatro. Porque a minha trajetória até então, eu não escrevia livro ainda, era muito calcada em Teatro. Então, muitas das músicas foram inspiradas pelas peças que eu fiz. Tem uma música que eu fiz para os Lusíadas, uma música que eu fiz para o [----- ?], uma música que eu fiz para peças com temática nordestina. E aí, eu fiz toda a produção do CD em Teatro, fotografei todo ele dentro do Teatro Augusta, que eles me cederam o espaço. Eu fui lá, fotografei o encarte do CD, capa, tudo. E eu resolvi lançar no Teatro. Por quê? Antigamente, por exemplo, a Elis Regina, com o “Falso Brilhante”, ficou 14 meses em cartaz em São Paulo com o show “Falso Brilhante”. Me parece que era de terça a domingo. Isso não existe mais, um cantor ficar em cartaz... Fica no Palace, esses lugares aí. Nem Palace mais, sei lá o que é, Credicard Hall, né? E eu não gosto daquele tipo de ambiente. Você fica numa mesinha, passa o garçom, o cara fuma... Enfim... E era num teatro, ela ficou no Teatro Bandeirantes, que não existe mais. Então, em homenagem a isso, eu resolvi que eu ia estrear meu CD como uma temporada em teatro. E eu estreei. Eu fiquei um mês em cartaz no Teatro Augusta, sábado e domingo, e foi muito bacana. Era cênico, eu não cantava somente as músicas. A idéia era um caixeiro viajante que eu fazia, e todo o cenário eram malas, eram umas malas cênicas, e aconteciam um monte de coisa. Aí, o CD foi para Portugal, também tá tocando em Portugal, em algumas rádios assim. Porque como a minha música não é uma música comercial, então ela toca em rádios educativas, Rádio Cultura. Tem até uma coisa engraçada aqui. Eu tenho uma divulgadora e ela ligou para Porto Alegre para divulgar um artista dela, tal, na Rádio Cultura de não sei aonde, de Porto Alegre. Aí botaram ela na espera. Aí ela falou: “Ué, conheço essa música... É o Manuel!!!”. [risos]. Ela ligou: “Manuel! Manuel!”. Ela me contou essa história e achei o maior barato, ela ligou para divulgar um outro artista aí tava eu tocando na linha de espera da emissora.
P/2 – Manuel, você é roteirista, ator, escritor, cantor, compositor, pode ter aí mais coisa, e bancário. Como é que é que esses dois mundos se encontram? No que uma coisa ajuda a outra, ou atrapalha?
R – Legal. É assim: tem muito preconceito, no meio artístico, com bancário. Tem muito preconceito, tá? O que é uma burrice, eu acho uma estupidez isso aí. Porque eu no começo fui um pouco contaminado com isso, eu escondia um pouco o meu... Aí quando eles queriam dizer alguma coisa: “Ah, você é bancário!”. Era a pior coisa...
P/2 – Já desqualifica...
R – É. É a pior coisa que tem para um artista, era dizer: “Você é bancário”. O Falabella brinca muito com isso nos programas que ele fala aí, da televisão, dizendo que a pior referência do mundo é bancário. O que é muito injusto. É uma profissão que é importante. E o que acontece? Acontece que alguns artistas que atacam o artista que é bancário, tem o Banco deles, tá? Eu, infelizmente, eu conheço pouquíssimas pessoas que vivem da sua profissão de artista, ou de cantor, ou de escritor, ou de compositor, ator, cantor, enfim. Porque eles têm que dar aula, eles detestam dar aula. Então, dar aula é o Banco deles. Se você quiser pegar por um aspecto pejorativo, entendeu? Isso é um preconceito super idiota. Eu trabalho no Banco do Brasil há 26 anos, eu gosto de lá, as pessoas me respeitam, me valorizam. Graças a muitos apoios, eu fiz muita coisa. Eu gostaria, sim, de viver só cantando, só escrevendo. Sim, eu gostaria. Só que a gente vive num país onde a Cultura não tem os benefícios que ela merece para que você viva da sua profissão. Um amigo meu tem uma piadinha que eu acho fantástica. Ele faz Teatro Infantil, ele não vive, ele é ator, ele tem que fazer festa infantil, que seria o Banco do Brasil dele. E uma mulher ligou para ele: “Oi! Eu queria saber quanto custa sua pecinha para o aniversário da minha...”. Pecinha. Isso já acaba com o trabalho pessoal. [risos]. “A sua pecinha para o aniversário da minha filha”. “Ah, custa tanto” “Nossa, mas tá mais caro que o Show de Poodle”. [risos]. Você entende? É bem complicado a relação que as pessoas têm com a Cultura. Mas, enfim...
P/2 – Em termos de inspiração, no que o mundo influencia nesse lado de artista?
R – Tudo. É impressionante. Que o Banco, eu até brinco muito com meus amigos. Por exemplo: Se você entra na área da Literatura, que já é uma outra história, tá tudo meio em paralelo, mas vão acontecendo... Quando alguém vem me falar: “Manuel, a tua personagem tá fazendo isso” “Olha, esse personagem tá fazendo assim porque eu conheço uma pessoa que faz isso”. [risos]. Então, eu uso muito, que o Banco é um microcosmo de situações. Como eu tenho bastante tempo de Banco, o que aconteceu? Quando eu entrei no Banco, eu entrei quando tinha uns funcionários com uns 30 anos de vida, uns 35 anos. Passou mais uns dez anos, quinze anos, eles começaram a se aposentar. Parece que o mundo quis repor essas pessoas, assim, com as suas características, as suas... Então, você começa a perceber que as pessoas são idênticas. O universo humano é muito parecido: a competição, o comportamento, é muito parecido, entende? Então, essas pessoas me servem, esse conhecimento, essa vivência me serve até para copiar. Eu já cheguei a dar nome de pessoas do Banco nos meus livros. Até falo: “Olha, você inspirou esse meu personagem”. Já fiz uma música pensando no comportamento de um amigo meu. Uma música que eu fiz para o papai. Ele é um pai tão carinhoso, que aquilo me sugeriu uma canção infantil que eu vou gravar agora, no meu segundo CD, “Do Papai”. Então, me influencia muito. Para criar personagem é fantástico. Eu gosto muito. Por que, como é que você faz? Pegando um pouquinho do livro, vai. O livro é uma outra história completamente diferente, maluca, é um trabalho...
P/2 – O primeiro livro como se chama?
R – “Um E-mail em Vermelho”, que eu escrevi em parceria com a Eliana Martins. Todo livro meu é o primeiro livro, tá? O “Um E-mail em Vermelho” é o meu primeiro livro mesmo, escrito em parceria. “O Ouro do Fantasma” é o meu primeiro livro individual. O outro, que é o “Cresci, Agora o Que Vou Ser?”, é o meu primeiro livro encomendado. Então, tem sempre uma coisa assim, que vem. Então, o processo de escrever um livro, como é que é? A Eliana Martins, que é uma escritora com um monte de prêmios, que ela escrevia para o “Bambalalão”, ela tem uma PCA [Programa de Conservação Auditiva], ela é uma escritora muito bacana, que escreve extremamente bem, muito competente. Que eu conheci na vida e ela falou: “Manuel, quer escrever um livro comigo?”. Eu falei: “Claro que eu quero”. [risos]. Então a gente escreveu esse “Um e Meio em Vermelho” por e-mail. A gente se encontrou um dia, na casa dela, combinamos mais ou menos a história, o que eu tinha, o que ela tinha, fizemos uma historinha e começamos a trocar, por e-mail, os capítulos. Então, o livro nasceu assim. A gente mandou para a Editora, tal, a Editora lê, sugere isso ou aquilo, e o livro saiu e aí ela me soltou no mundo: “Agora você se vira”. Porque ela quis fazer isso comigo porque fizeram isso com ela. Então, ela fez isso comigo e eu to fazendo agora também. Mas, então, é muito difícil. É muito difícil escrever um livro. É um trabalho, assim, de sentar todo dia e você tem que escrever. Para você ter um livro é um grande prazer, é uma coisa que eu adoro, incorporei na minha vida de tal maneira que eu escrevo toda hora, todo dia, eu to escrevendo alguma coisa. Então, cada livro é uma aventura, tipo... Sei lá, pulando bastante, “No Coração da Amazônia”, que é um livro que eu to muito feliz com ele, que eu sou finalista do Prêmio Jabuti 2008. É o meu sexto livro, e eu to muito feliz que eu consegui. Tem uma amiga nossa que ela tem mais de 90 livros publicados e esse ano foi a primeira vez que ela conseguiu ser finalista. E eu consegui com o sexto. Então, eu to assim, muito contente. Mas esse livro, o que aconteceu? Eu fui para o Amazonas. É engraçado como na vida você vai incorporando coisas que se tornam um hábito. Eu levei a minha nova camerazinha, pequenininha [risos], agora cabe no bolso. E eu filmo as pessoas. Então, quando eu chego em qualquer lugar eu começo a conversar com as pessoas. Boto a câmera: “Posso filmar você?” “Pode”. Com isso eu trago o sotaque das pessoas, coisas que a pessoa falou que eu vou esquecer que a pessoa me falou. Eu vou dizer para vocês o melhor caso que aconteceu na minha vida, isso, olha, não há o que dizer... Eu to falando muito, gente? Se vocês quiserem me interromper, pelo amor de Deus. [risos].
P/1 – Não...
R – Então, eu fiz o do Pampa agora. Tem o do Amazonas, tem o Pampa, vai entrar na mesma coleção, já saiu agora, chama “Deserto Verde”. E lá estou eu no Rio Grande do Sul. Eu catei meu carro, desci São Paulo-Torres. Quando eu peguei a Serra de Santos eu falei: “Manuel, você é louco! Você ir para o Rio Grande do Sul, você vai cansar muito. Era melhor ter pego um avião até Porto Alegre, ia gastar até menos” [risos]. Mas vai, porque eu adoro dirigir. Isso porque eu tinha medo de dirigir. Até os 18 anos eu não dirigia, né? Eu fiquei três anos com a carta e não pegava no carro. Até que um dia eu falei: “Quer saber, eu vou perder o medo”. E fui até Minas Gerais [risos]. Aí pronto.
P/2 – Mas quando você foi para Amazônia e para o Pampa, você sabia que ia escrever um livro?
R – É. Eu sabia que ia escrever um livro. Para o Amazonas foi encomendado o livro, tá? E o do Pampa, também. Aí, eu fui para o Pampa, desci, peguei meu carro, fui até Torres, dormi em Torres. Eu atravessei o Estado de ponta a ponta, fui até Uruguaiana, entrei na Argentina para dar uma olhadinha, não gostei, voltei correndo para o Brasil [risos]. Fiquei com medo, domingo, tava deserto: “Vão me sequestrar aqui” [risos]. Aí, eu voltei, desci para Quaraí, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Entrei no Uruguai, o maior baratinho o Uruguai, tranquilo. Tinha uma rua que só vendia bugiganga, tipo esses Paraguai da vida. Voltei, fui para Sant’Ana do Livramento, que é outro barato também. Você atravessa uma avenida, você tá no Uruguai, você volta para cá, você tá no Brasil. Então, é bem interessante. Aí eu fui para Bagé, de Bagé desci para Chuí, Chuí voltei para cá.
P/2 – Em cada lugar desses, você colhe depoimentos?
R – Sempre que eu encontro alguém, eu paro para conversar. Porque assim, eu fui para o Pampa com alguma informação. Quando eu fui escrever esse livro do Pampa eu tive uma dificuldade tremenda porque não existe nada falando sobre a natureza do Pampa. Não tem. Eu falei: “Ai meu Deus!”. Por isso que eu tive que ir para o Pampa. Eu vou lá ver o Pampa. Eu já tinha ido para as Missões, que saiu um livro agora: “Desafio nas Missões”, que é um livro que se passa naquela região. Mas o Pampa... E eu decidi que minha história iria se passar em Alegrete. Eu falei: “Oba, é Alegrete”. Foi a cidade que me pareceu mais interessante porque ela tem o Deserto do Alegrete, que é a desertificação do Pampa. Eu fui com esse termo na minha cabeça: Desertificação. Que tá completamente errado. Aí eu chego lá no Pampa, tal, eu vou na cidade de Caçapava do Sul, a primeira cidade que eu encontro, que se intitula: “A Cidade Portal do Pampa”. Eu falei: “Oba, é lá”. Eu chego lá e a primeira coisa que eu vejo é um monte de CTG, Centro de Tradição Gaúcha. Era Farroupilha, eles são tudo muito doidos, montando as festas deles, tal. Eu fui na Semana Farroupilha, porque eu queria ir na Semana Farroupilha. Eu estou lá, tal, e encontro uma senhora: “Olha, fala com esse senhorzinho aqui, que ele vai te ajudar”. Lá vou eu falar com o senhorzinho. Eu chego na casa dele, um senhor de oitenta e tantos anos, ágil, super rápido. “Ah, entra aí”. Entrei na casa dele, um monte de livros, um monte de coisas. Ele sentou lá, liguei minha câmera. Aí ele começou a me contar: “Ah então, aqui nessa cidade é a segunda ou terceira capital farroupilha”. Sim-sim-sim. Mas que tipo de animal tem aqui perto? Meu objetivo era a natureza. “Ah, aqui tem passarinho assim. Mas aqui aconteceu, a guerra que aconteceu...”. Eu não quero mais saber da Revolução Farroupilha, eu quero saber do passarinho, da planta que tem nessa cidade. Muito difícil porque as pessoas não têm essa referência. Ele me ajudou muuito. No dia seguinte, ele me convidou para voltar na casa dele, eu queria ir embora. Aí, ele falou: “Passa aqui amanhã que eu vou te levar para visitar o Forte”. Naquela cidade tem um forte, maior barato. A gente sempre vê Forte no litoral. Lá tem um. É o único, acho que tem mais um, mas não tá tão bem conservado quanto aquele, que era para proteger das invasões dos uruguaios e dos argentinos. É um Forte bem bonito. E falo: “Onde será que é esse Forte?”. Quando eu olho para o lado, a paredona do Forte, assim, que eu não tinha notado porque parecia alguma coisa, mas enfim, estava lá. Aí, eu chego na casa dele no dia seguinte, ele tá “piunchado”. Piunchado é a pessoa estar com o traje típico. Tava com bombacha, com lenço, com chapéu. Tudo de gaúcho. Aí entrou no meu carro, e pronto, foi me mostrando o vila... Porque a cidade é bem pequenininha. Ele me mostrou Caçapava do Sul inteirinho. E qual foi a vantagem de conversar com ele? Ele já me deu o nome de várias pessoas em outras cidades. Aí, eu já sabia o que fazer, entendeu? Ele perguntou: “Para onde você vai?” “Vou para Bagé”, e me deu o nome. Fu falei, excelente. Aí, eu fui para Alegrete, que era o meu alvo. Foi uma grande decepção. Quando eu cheguei em Alegrete, eu falei: “Onde tem uma biblioteca aqui, livraria?” “Não tem livraria aqui”. Não tem uma livraria? Porque quando eu chego num lugar eu gosto de comprar tudo o que eu encontro de livro, de CD, de informação da região, porque você não vai achar em outro lugar. Eu já me arrependi muito:”depois eu compro”. Eu não volto mais lá e eu fico sem aquela informação. Eu fico [bravo]. Eu não vou mais achar aquele disco, eu não vou achar. E não tinha nada, achei um livrinho sobre a história da cidade de Alegrete. “Ah, eu não quero isso”. É muito difícil eu achar o que eu quero. Aí, eu acabei indo para uma outra cidade, que era próximo. Porque eu queria fotografar a desertificação do Pampa. Eu comecei a entrar na história e eu vi um areião mesmo, no meio do Pampa, aquelas coisas de areia, porque é uma arenização, não é desertificação. Porque em deserto não chove tanto. Uma área que está em processo de arenização, o clima é muito úmido, ali no Pampa. Eu acabei subindo mais um pouquinho e encontrei um biólogo numa cidade, conversou comigo, me explicou, me tirou esse erro que eu estava de arenização. Voltei, e continuei indo. Aí que aconteceu a jóia da coroa. Toda hora eu via passar alguém piunchado. Eu falei: “Quer saber? Eu vou parar meu carro e vou esperar um desses caras chegar para conversar com eles, né?”. Não tive dúvidas, eu vi um menino vindo bem de longe e eu parei. Estacionei o carro. Aí, o menino tá vindo, no cavalo dele, com o lencinho dele. Quando ele se aproxima que eu percebo que é um jovem. De longe você pensa que é um homem. Tinha 18 anos o menino. Aí, o que aconteceu? Ele me deu o meu livro inteiro de ponta a ponta. Um menino de 18 anos. Eu só não usei o nome dele no livro porque ele se chamava Charles [risos]. Mas o nome do cavalo dele eu usei. O que aconteceu? Ele estava vindo porque ele não pode desfilar no Passeio Farroupilha porque os amigos dele... Ele pediu para ir no banheiro, tinham cortado o rabo do cavalo dele. Ele achava humilhante desfilar com o rabo do cavalo cortado [risos]. Eu só percebi porque ele falou, porque o rabo do cavalo é assim, né? Tem os fiozinhos... Cortaram, então ficou reto. Então, ficou feio, né? Ele começou a me contar a vida dele, ele morava a 16 quilômetros da cidade. Na casa dele não tinha iluminação porque o vizinho não deixava a luz passar pelo terreno dele, para não chegar na casa dele, porque acho que queria que desvalorizasse para comprar. Eles caçavam jacaré no Pampa. Nunca na minha vida imaginei que tinha jacaré no Pampa. Tem o jacaré no Pampa, na Área dos Banhados. Ele me falou o tipo de passarinho que ele caçava na região, o tipo de peixe que ele pescava no lago dos banhados que tinham ali. Quer dizer, isso para ele é natural, mas eu comecei a perguntar. Quando eu vi que ele sabia tudo: o tipo de animal que tinha por aí, o tipo de vegetação. O que eles plantavam... “A gente planta arroz aqui.” “E como vocês tiram as plantas?” “Ah não, a gente joga um veneno que só mata a plantinha, não mata o arroz”. Que é o transgênico, entendeu? Aí eu juntei todo esse monte de informação. Claro, eu ia confirmar tudo, mas eu achei... Ao longo da viagem resolvi fazer a mesma coisa. Nunca mais. Nunca. Eu parava o carro, ou o cavalo se assustava, a pessoa não podia falar comigo, ou não tinha informação, ou não falava, sabe? Eu não sei, se eu não tivesse parado o carro naquele momento, eu não tinha achado esse menino. Aí, no meio do meu caminho eu acabei encontrando com mais umas pessoas que esse senhor tinha me recomendado e eu acabei dando de cara com um agrônomo aposentado que me tirou todas as dúvidas fundamentais desse... “Existe isso no Pampa? Tem assim aqui? É assim que funciona? O eucalipto tá acabando com o Pampa?” “Tá”. Então eu fui descobrindo tudo isso. Quando eu cheguei em Porto Alegre eu fui continuar, eu conheci um escritor em Porto Alegre. Essa é aquelas velhas coincidências. Enfim, conheci lá, tal e fui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comprei livros muuuito chatos, mas livros sobre a grama do Rio Grande do Sul. Coisas assim, muito difícil de achar, muito difícil também. Mas eu juntei tudo, voltei para São Paulo, comecei a escrever a história.
P/2 – Da onde veio essa encomenda?
R – Da Editora Escala Educacional, que é a editora que publica essa série. Na verdade, você trabalha de várias maneiras com editora, né? Eu tenho duas editoras, pessoas físicas, que trabalham com projetos para a Editora Escala. Então, eu trabalho com elas. Elas inventaram essa coleção “Encantos do Brasil” e eu escrevi do Amazonas, uma outra pessoa escreveu do Cerrado. Teve uma do... Amazonas, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Agora na nova leva saiu Pampa e Pantanal. Então tá formando todos os Biomas. Acho que não falta nenhum agora, acho que tem todos. Talvez o Pampa do litoral, o Bioma do Litoral que ainda não existe, mas há um projeto para que ele exista. Enfim... Então, eu escrevi esse livro e eu descobri algumas... Essa coisa de conversar com as pessoas é que é muito bacana, né? Eu tava meio perdido em Manaus também, quando eu fui escrever o do Amazonas. E eu falei: “E agora, o que eu vou fazer?”. Eu fui em frente ao Teatro e estavam filmando a série “Amazônia” quando eu estava lá. Aí, quando eu comecei a tirar foto do Teatro, eu olhei para uma esquina e eu vi um display da minha Editora, Escala Educacional. “É lá”. Fui lá. Nossa, aí pronto. Eles me botaram dentro do carro deles e me levaram para ver a cidade inteira. Então, me facilitou muito de conversar com as pessoas, de encontrar gente, né? E é engraçado como isso é verdade. Uma coisa leva a outra. Sempre tem sido assim. Eu fiz coisas na biblioteca quando era criança. Hoje em dia está tendo uma exposição sobre a minha vida na biblioteca. Graças a isso me convidaram para dar uma Oficina de Literatura Infanto-Juvenil na cidade. Eu estou dando uma oficina, toda quarta-feira. Devido a isso, eu fui convidado para ser Conselheiro Municipal de Cultura. Hoje eu sou o Conselheiro Municipal de Cultura de São Bernardo. Aí, disso eu comecei a conversar com a Márcia do CCBB [Centro Cultural do Banco do Brasil], por variadas razões de trabalho. Porque hoje no banco eu trabalho na área Internacional, eu continuo fazendo Certificado de Origem e cuido da área de treinamento externo de educação, de importação, de exportação. E eu faço as aulas no CCBB. E aí eu comecei a conversar com a Márcia, que é uma pessoa muito bacana do CCBB, é um anjo lá, aliás. E eu comecei a conversar com ela essas coisas e ela: “Manuel, manda para o site do Banco, tal e tal”. Comecei a mandar, estou aqui. Então, sei lá, e graças a vocês eu já fiz o meu programa também do Histórias de Comércio. Então, engraçado, eu sempre sou surpreendido. O que é que vem? Teve agora uma coisa muito engraçada também, que uma Editora me ligou: “Manuel, a gente quer você para fazer um texto assim, porque a gente tem certeza que você é descendente de português”. Eu falei: não sou. [risos].
P/2 – Manuel, e mesmo nessa coisa com o CCBB, com os movimentos do Banco, que é enorme, o que você vê de mudança, da época que você começou a trabalhar para agora?
R – O que eu vejo de mudança? Bastante mudança, bastante coisa mesmo. Teve um período de transição que foi muito pesado, eu achei sim. Porque eu me lembro que teve uma época que o Banco baixou uma norma lá, que se fez uma separação: A partir de hoje funcionários novos não vão ter isso, isso e isso. Que era comum que nós tivéssemos, os antigos. Eu li em algum lugar aí que 70% dos funcionários do Banco atuais já são dessa leva. Eles não têm esse monte de: licença-prêmio, abono, que perdura. Eles não têm. E isso criou um clima pesado no Banco, sim. E eu acho que pode ter problemas no futuro por causa disso, enfim. Mas criou esse problema. E a gente ganhava mais, sim. Hoje em dia, por outro lado, eu vejo algumas coisas que eu não tive acesso e que hoje eu gostaria que tivesse tido. Tipo: Acesso à educação. O Banco tem facilitado você pode hoje pedir uma graduação ou uma pós-graduação, ou um Mestrado. O Banco banca, te paga. Você paga um pouquinho, mas, é possível. Você tem acesso a fazer uma carreira no Banco, se você quiser. Tem coisas, sim, que você tem que se submeter: a viajar, a mudar de Estado, a fazer algumas coisas. Mas eu não sinto... Tem gente que reclama, sim, de tudo. Mas eu acho que melhorou em alguns aspectos. O salário é uma coisa piorou muito. Até eu fico pensando, tem tanta possibilidade, tanto benefício que o Banco oferece porque ele diminuiu muito o salário. Porque antigamente eu pagava tudo: Inglês, faculdade e Célia Helena. Cada um desses era muito caro. Hoje, Célia Helena, sei lá, acho que é R$ 500 por mês, faculdade “500 paus” por mês. Não daria para pagar tudo e levar a minha vida. E naquela época dava. Então, talvez com o salário que eu ganhava eu tinha liberdade de escolher o que eu queria. Então, alguma coisa melhorou, melhorou tecnologicamente. Mas, por outro lado, a quantidade de metas que o Banco exige da gente é muito pesado. Não é mole, tem gente que fica doente por causa disso. Mas tem aquela coisa da estabilidade do emprego que é importante, você sabe que você não vai ser demitido. Você vai ser demitido se você fizer um roubo, alguma coisa muito grave. E esse aspecto, mesmo com todos os problemas, ainda é muito importante. Você não tem uma rotatividade muito grande de funcionários, pelo menos que eu saiba. Eu estou acostumado a conviver com as mesmas pessoas há anos. Agora isso mudou bastante. Isso mudou muito. Quando eu tomei posse no Banco, a gente acompanhava o casamento dos funcionários, o filho que nascia, porque tava ali. Não mudavam aquelas pessoas. Hoje muda muito, muito e muito. Porque se a pessoa está insatisfeita ali, ela quer conseguir alguma coisa ali, ela vai embora. E isso já foi para o espaço. Mas eu acho que foi para o espaço por causa do salário, porque naquela época as pessoas ficavam ali onde estavam porque já ganhavam bem, não queriam ir para outro lugar. Agora hoje, para você ganhar bem, você tem que ir...
P/2 – Mas também tem o lado positivo disso, que é você dar para as pessoas oportunidades delas trabalharem em uma coisa que talvez elas tenham maior afinidade... Ou não?
R – Tem isso e não tem isso. É muito difícil, no Banco, e eu sinto essa dificuldade, você trabalhar numa área que você tenha afinidade. É muito difícil, porque no Banco existem muitos profissionais de tipo de formação que você puder imaginar. Por exemplo, advogados. O Banco está lotado de advogado. Todo mundo quer ir para o Jurídico, só que não consegue, é muuuito difícil. Então, você gera um tipo de frustração nas pessoas, sim. E tem gente que vai ficar batalhando a vida inteira para conseguir. É impossível? Não é impossível, mas dá bastante trabalho. Até eu, quando eu queria trabalhar na área de Comércio Exterior, foi difícil, naquela época. Mas tem gente também que não se interessa em saber, né? Tem gente que me liga lá, depois de você atender: “Tem jeito, como é que você faz para trabalhar aí?” Eu falo: “Ué, liga para o Gerente e se coloca à disposição”. Entendeu? Porque, se você se coloca à disposição, alguma coisa vai acontecer. Se tiver alguma vaga, você certamente poderá ser lembrado pra aquela vaga, se você se coloca à disposição. Porque como é que se suprem essas vagas? Às vezes é um pessoal que já tá lá. Há uma rotatividade lá dentro, já se nomeia alguém da área mesmo. Mas eu tenho visto muita gente de outras áreas entrar. Quer dizer, no Banco tem de tudo, gente. Eu acho assim, se você quiser. Isso é de verdade, se você quiser fazer carreira no Banco, você faz. Só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas: Da sua cidade, do seu namoro, de alguma coisa, abrir mão temporariamente. Mas isso sempre foi assim.
P/2 – Você falou dos Biomas, é curioso porque nesse projeto a gente trabalha com Biomas, também. E você tá aqui dando essa entrevista e você é uma pessoa representante do Bioma Mata Atlântica, além de tudo que tá por detrás. O que tem dessa ligação, existe? São Paulo é uma cidade que tira um pouco essa ligação com a Natureza, como é que é isso?
R – Tira. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Eu trabalho no prédio da São Bento e eu almoço todo dia no 23º andar. A vista que eu tenho é invejável, todo dia. Eu não sabia que é possível você ver a Praça da Sé e o Masp ao mesmo tempo, e os aviões de Congonhas pousando e subindo. [risos]. Eu vejo isso todo dia, toda hora. E é engraçado que às vezes tá chovendo num lugar da cidade, no outro não tá chovendo. Aí, sempre que eu to lá, eu fico olhando para baixo e vejo o Edifício Martinelli do meu lado, que é belíssimo. Não tem uma árvore na Rua São Bento. Não tem. É um deserto, uma coisa. A garoa foi para o espaço. Você não tem isso. Então, a gente destruiu o clima, sim. A nuvem de poluição que você vê na cidade é terrível. Você vê aquela coisa em cima marrom que não mexe. E você fala: “É, a gente é vítima de uma poluição muito forte”. Você tolerar que o Rio Tietê, esteja do jeito que ele está em São Paulo. Mas é muito de Educação, né gente? A gente, sei lá, você vê umas coisas que você não se conforma. Por exemplo, eu estava parado no farol um dia [risos], eu não acreditei. O cara não teve dúvida, ele abaixou o vidro e jogou o jornal, “puft!” [risos]. Um jornal inteiro! Mas o que é isso? Dá vontade de parar: “Por favor, por que você jogou o jornal inteiro?”. Não tem cabimento. Outra coisa que eu acho que precisa ser pensada, o Banco sempre tem iniciativas de sustentabilidade, né? Estão trocando todos os copinhos de plástico do Banco, estão tentando abolir para usar copo de vidro, plástico, alguma coisa. Eu ganhei um copinho. Eu sou uma pessoa extremamente reciclável, eu reciclo tudo. Na minha casa, a gente tem os box coloridos e no meu bairro tem coleta seletiva, tudo é reciclado, e eu me sinto no direito de falar. Esse copinho plástico que o Banco tá dando para a gente, eu tomo café. Eu gosto muito de tomar café ao longo do dia. Cada vez que eu tomo um café, agora, eu sou obrigado a lavar o copo, porque eu tomo café, fica aquela coisa preta, aqui, não dá, eu preciso lavar o copo. Eu não lavava o copo: eu tomava um copinho de café e jogava no lixo. Se houvesse um processo sério de reciclagem de plástico, que não tem, lá não tem, o impacto ambiental acho que seria bem menor. Porque eu tenho visto gente lavando seu copinho, com a torneira aberta. “E aí, o que você fez ontem? Ah que legal hahahahaha”. E fica com o copo, assim. É uma questão de Educação, entendeu? Então, eu comecei a gastar um recurso que eu não gastava: água. Já sei que detergente tá gastando mais, que a água tá gastando mais. Quer dizer, tem que ver qual é o custo-benefício real. Fez esse impacto. Um dia eu até entrei na lista de discussão lá e eu escrevi exatamente isso: “Ok, nós estamos fazendo uma experiência, só tem que avaliar”. E tem pessoas: “Que legal, que lindo, trocamos o copinho” Tá, e daí? Tá adiantando? Eu acho que não. Pelo menos para água dá. É possível você ter um copo e beber água o dia inteiro, agora para o café não dá. Agora, será que eu respondi a sua pergunta, do Bioma?
P/2 – Sim... O Banco do Brasil, ele faz agora 200 anos. O que você acha dessa iniciativa, de resgatar a memória das pessoas que ajudam a construir ou que têm o Banco na sua vida de alguma maneira?
R – Eu acho que é sempre importante. Afinal, somos nós os funcionários que fizemos o Banco do Brasil, né? A história dos funcionários, a gente construiu mesmo aquilo lá. Inclusive, eu escrevi um conto que no ano passado teve um concurso no prédio de contos, de várias coisas e eu falei: “Sobre o que eu vou escrever?”. Aí, eu comecei a lembrar das pessoas que passaram pela minha vida e que não estão mais no Banco. E eu comecei a imaginar as pessoas que passaram naquele prédio antes de mim. O prédio tem 90 anos. “Nossa, já deve ter acontecido tanta coisa nesse andar, pessoas que brigaram, que se amaram, que construíram alguma coisa aqui e hoje essas vozes simplesmente emudeceram. Então, não estão mais aqui, são outras vozes, outras pessoas, assim como a minha voz vai ser um eco”. E escrevi meu conto em cima desse tipo de memória. E aí que eu fui sacando como é importante que isso não se perca, que você construa. Um povo que não tem memória... Inclusive quando você vê... Eu fico meio bravo, às vezes, quando atacam de maneira preconceituosa alguma música mais regional, folclórica, tal, porque o orgulho do seu país, quando se tem uma delegação estrangeira que chega para visitar o Palácio do Planalto, ou qualquer lugar que seja, o que eles vão mostrar em primeiro lugar? O samba. Eles botam lá o pessoal tocando Bossa Nova ou Samba. Quer dizer, você pode não gostar, mas aquilo é a nossa identidade também. E é o que é mostrado. Então, por que a gente tem isso para mostrar? Porque algumas pessoas se preocuparam em preservar. Mário de Andrade que fez um trabalho maravilhoso na década de 1930, 1940, de sair filmando andanças do interior do Brasil. Graças a esse trabalho que o Mario de Andrade fez, a gente tem um registro disso. Quer dizer, a memória das pessoas, e o que fica é muito importante, não tenho dúvida disso.
P/2 – E o que você acha que é o futuro do Banco do Brasil? Não nos próximos 200 anos, mas nesse momento que você acompanhou, dos últimos anos daqui para frente, o que você espera, assim, pessoalmente, de chute?
R – Nossa, difícil, né? Não gostaria de chutar nem amanhã [risos]. Nossa...
P/2 – Como Instituição, assim, como importância para o país, uma coisa além dos funcionários, além...
R – Isso não vai para o ar jamais: Se ele não for usado politicamente [risos]. Se não usarem ele politicamente, como sempre usam politicamente [risos]. Não interessa quem tá lá, se é PT [Partido dos Trabalhadores], PSDB [Partido da Social Democracia Brasileira], não interessa. Ele é utilizado politicamente, e isso sempre vai ser. Então é muito complicado. A minha esperança é que acabasse a corrupção no país. Tipo, eu vou te dar um exemplo, que eu fico bravo. Perguntaram para mim esses dias: “O que está te incomodando?”. Eu falei: “Passeata de Classe Média”. [risos]. Eu não aguento mais passeata de Classe Média. Teve essa passeata aí, do Câncer de Mama, no Ibirapuera, recentemente. Uma amiga minha: “Manuel, vamos passear” “Eu não vou participar disso” “Vamos, é importante” “Claro que é importante, as mulheres têm que ter acesso ao Câncer de Mama, a meta é muito importante”. No dia seguinte, eu liguei a televisão e estava lá, aqueles globais que estão sem fazer na novela faz um tempo e precisam aparecer, com o negócio do Câncer de Mama aqui: “Ah, porque é lindo isso, porque tem que fazer”. Ta. À noite eu ligo a televisão e fico sabendo: uma mulher marcou um exame em 2007 para fazer o exame de mama, não conseguiu fazer ainda porque a máquina tinha quebrado no dia que ela foi fazer. Um ano. Um outro precisava fazer uma ressonância magnética e não conseguia fazer porque no serviço público não tava conseguindo. Uma mulher tava no oitavo mês de gravidez sem ter feito um único pré-natal. Esse tipo de efeito causa para classe média que pode pagar um plano de saúde, etc. Para a população. Imagina uma mulher que está em casa, sentada, vendo TV, ouvindo: “Ah como é importante esse movimento do câncer de mama, como isso é fundamental” “Ah, vou marcar um exame porque tem alguma coisa no meu seio”. E ela sente que tem um carocinho no seio. Até ela conseguir, ela pode ter morrido já. Isso é hipocrisia. Então, tinha que parar com isso. Eu falei, tinha que organizar esse povo que faz passeata, para ser até Brasília: “Parem de roubar”. Todo mundo que rouba, não estou falando de um ou outro partido, porque acho que todos são muito iguais. Mas parem de roubar e vamos investir em Educação Pública, em coisa assim. Então, o Banco, ele tá nesse meio. Ele é um grande banco, acho que é o maior banco do Brasil e é um Banco que tem um potencial de fomentar muita coisa. Ele tem feito, acho que os funcionários são sim, chave disso. Se você não tiver funcionários honestos, competentes e que queiram trabalhar, você não vai ter nada, não vai conseguir absolutamente nada. Então, o Banco precisa investir no funcionário, na Educação do funcionário, na Cultura do funcionário, no salário do funcionário. Pensando nisso, você vai ter pessoas preparadas para trabalhar com tranquilidade, para oferecer... Quanto mais eu me sinto equipado para oferecer o meu trabalho, melhor eu posso fazer isso. Agora, se eu não tiver essas condições, fica bem complicado. Então, o Banco vai ser um retrato do que ele fizer hoje com os funcionários. Acho que é isso.
P/2 – E para sua vida pessoal, o seu outro lado, multifacetado, o que você espera, assim, para o futuro?
R – Nossa, que ele fique mais multifacetado ainda. E eu estou me interessando por desenho agora. [risos]. Meu Deus do céu. Eu vou fazer meu segundo CD, já estou começando. Livro... Ah, só terminando aquela historinha de Portugal, que eu achei muito engraçado, que ela me falou: “Você é descendente de Portugal?” “Não, não sou”. Ela falou: “Ah, Manuel, a gente não vai poder trabalhar com você, porque essa coleção tem que ser descendente” “Tudo bem, né?”. Passa um mês, ela me escreve: “Manuel, você pode escrever. O ilustrador pode ser o português”. Eu falei: “Tudo bem”. Aí depois eu falei para ela: “Olha, eu não tenho descendência, mas eu vou ter muita dificuldade em explicar que eu não tenho. Meu nome é Manuel [risos], eu já fiz duas peças que se passam em Portugal, meu CD ta tocando em Portugal”...
P/2 – Já fez Dom João...
R – Eu canto Fado [risos]. Então, vai ser super complicado, vou dizer que sou e pronto, entendeu? [risos]. Eu acho bacana que escrever já se tornou mais um coisa. O barato de escrever é isso, sabe? Você escreve para o público, você quer ser lido, como escritor eu quero fazer um trabalho de qualidade e quero ser lido. E você nunca sabe qual livro vai te dar uma surpresa. Não sabia que o “Amazonas”. Eu tava apostando no “Boitatá”, para ser bem sincero, porque o “Boitatá” é um livro tão bonito, assim, de ilustração, que eu achei... Puxa!, eu estava torcendo por ele: “Ele vai ter que ganhar a indicação pela ilustração dele, que tá muito bonito”. E ele não pegou. Quando eu vi o Amazonas, eu falei: “Nossa, que bom que é o Amazonas”. Mas, enfim, eu tava apostando muito no “Boitatá”. Então, é um barato, você nunca sabe se esse livro vai ser um sucesso, se ele não vai ser um sucesso, o que vai acontecer. Tipo, o meu livro que teve a maior tiragem é o “Eu sei o que estou fazendo”, 17 mil volumes. E o Pará, o Pará comprou um monte do livro. Então, você não sabe, você não tem esse controle, do que acontece, né? Este é o barato. Música é muito difícil, porque a música é um problema porque é independente, você enfrenta... Não tem como pagar jabá, e eu não pago jabá porque é um absurdo. Na Europa parece que não tem jabá, é proibido por lei. A minha música não é comercial, é complicado. Ator, ator é o que tá mais no cantinho, porque ator é assim... Esse tipo de espetáculo, eu tenho amigos que fazem: “O Fantasma da Ópera” “Miss Saigon”, não sei o quê. É o Banco do Brasil deles, entendeu? Eles trabalham lá de quinta a domingo. É uma coisa assim: Do cara ficar anotando se você está com a roupa toda certinha, se você não tiver vai levar uma bronca lá atrás porque faltou uma coisinha... A peruca não tá certa. Quer dizer, eu não curto. Se pintar uma chance de eu fazer, eu faço? Talvez eu faça, entendeu? Mas não faço mais com nenhuma expectativa de: “Ai, nossa que bacana!”. Puff! Prefiro, mil vezes, fazer uma coisa menor, onde eu apareça, do que uma coisa no meio de 300 pessoas que você não é nada, entendeu? Então, realmente...
P/2 – Manuel, eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que a sua trajetória com a leitura foi influenciada por essa meninez na Biblioteca e por dois livros que você leu e que influenciaram muito, né? A Taquara-Póca...
R – “As Terras do Rei Café”, “O Segredo do Taquara-Póca”...
P/2 – É... E a Alice no País das Maravilhas. Você pensa nisso, no seu público? Em que momento dessas trajetórias você pode influenciar, que uma pessoa se torne um leitor?
R – Sim, e é um barato isso daí porque eu me procuro pela internet, tá? Eu ponho meu nome do Google para ver como é que ta. E eu sempre acho coisas fantásticas. Eu achei duas coisas que me emocionaram bastante. Uma delas, uma escola que tinha que fazer filminho sobre os livros que eles leram. E escolheram o meu livro, “O Ouro do Fantasma”. E fizeram cartaz, assim, sabe: “Mistério em Tiradentes”, mudaram o nome. Mas eles põem lá, tal. Aí fizeram um cartazinho de cinema com o nome deles, tal, tal e tal. Produção, tipo um cartaz de cinema e fizeram um filme. Eu até mandei um e-mail para a escola perguntando do filminho e não recebi resposta. E um outro menino, no blog dele estava lá, escreveu: “Gente, eu tenho um livro que é muito bom! Vou até copiar um pedaço aqui para vocês”. E copiou um pedaço do meu livro e colocou no site. Eu achei aquilo o máximo. Aí eu liguei para minha Editora. “Imagina, mas nós vamos processar ele amanhã por causa disso!” [risos]. Eu falei: “Você tá louca!” [risos]. Brincadeira, né? Mas isso é muito bacana, você encontrar o seu livro num blog de um adolescente, que potencialmente não vai falar sobre livro. Mas não, tá lá: Meus dez livros favoritos: “Um E-mail em Vermelho”. Do lado do Pedro Bandeira, que é um grande escritor de literatura... [----- ?] Shakespeare tá lá: Shakespeare e Manuel Filho [risos]. Então, é divertido, tem essas coisinhas. Ah, só voltando para o Banco, uma coisa que eu acho bacana que eu não falei. Há dez anos, o Banco fez um concurso nacional em comemoração dos 190 anos do Banco do Brasil e eu fui um dos premiados. Foi um concurso de música no país e foi um barato que eles separaram por Estado. O Estado que teve maior concorrente foi São Paulo.
P/1 – Você pode contar a história depois, é que está acabando a fita?
R – Ah, claro! [risos]. Gente, como é que ta? Já estou falando demais, né?
P/2 – Mas a gente já está na reta final.
P/1 – Tá fechando.
P/2 – Mas você é muito bom de contar história.
R – Mas eu to pulando um monte gente. [risos]. É que é muito engraçado porque você vai para um lugar: “Ah, mas mais para frente aconteceu isso por causa daquilo”.
P/2 – Mas a sua é uma entrevista muito sui gêneris nesse sentido, comparada a dos outros funcionários do Banco. Porque, os carreiristas, principalmente, tem uma coisa muito certinha. Daí eu saí de tal cargo, daí eu fui para lá, fui para cá. Então, é legal porque dá uma respirada.
P/1 – Então vamos fugir um pouco...
R – É, eu sei como é que é. Olha lá o que vocês vão colocar. [risos].
P/2 – Não, pode ficar tranqüilo...
P/1 – Isso de Pampa também é uma coisa que...
P/2 – E a coisa do Bioma...
R – Ah, não, isso é muito bacana. É tanta coisa, gente. Olha, eu fui no Amazonas, lá, aí tinha um... Eu fui ver o peixe-boi. Gente, o peixe-boi é a coisa mais linda do mundo. Vocês já viram o peixe-boi?
(Há um corte na entrevista nesse ponto)
R - Há dez anos [risos]. É o seguinte, quando o Banco fez 190 anos, ele fez um concurso que eu achei bacana e eu até perguntei lá numa reunião, que eu tive a chance de participar, o que iam fazer para motivar os funcionários esse ano, a participar. Quando há dez anos atrás fizeram o Concurso Nacional de Música, onde o Banco pagou o CD e contratou cantores famosos para gravar o CD. “Nossa, nos 200 anos vai ter... O que será que eles vão fazer?”. “Nada”. Entendeu. Claro, isso que está acontecendo aqui é muito bacana, é diferente, mas não é uma coisa para todos os funcionários, né? O fórum é, mas mesmo no fórum, a participação é muito pequenininha do que poderia ser. Mas quando teve o Concurso de Música motivou os funcionários do país inteiro a fazer uma música. Que eram duas categorias: Intérprete e Compositor. Eu mandei para os dois e eu acabei, na peneirada de São Paulo, eu passei como Compositor. Aí depois acho que teve Sudeste e, depois do Sudeste, foi Nacional. E eu acabei ficando entre os dez melhores compositores do Brasil, do Banco do Brasil, e eles fizeram o CD com os dez compositores e com os dez cantores. Os cantores cantaram uma música que eles quiseram cantar, e os compositores tiveram a sua canção gravada por outros cantores. Eu tive a sorte de ser gravado pela Alaíde Costa. A Alaíde Costa foi uma cantora da bossa-nova, uma cantora que o Tom Jobim adorava, ela era uma cantora muito elogiada pela afinação. Até hoje ela está cantando, ela faz shows no Sesc, tudo. E ela gravou a minha música, o que me encheu de orgulho e de prazer. E eu pensei que ia ter outra coisa e não teve [risos]. Ah que pena, teria sido bacana.
P/2 – O que você achou de dar essa entrevista?
R – Ah, gostei muito. Obrigado a todos vocês, foi um prazer. Eu acho que é muito importante. Conheci o Museu da Pessoa já há alguns anos. E, desde a primeira vez que eu vi eu achei curioso o aspecto de existência do Museu da Pessoa, eu acho que quanto mais a gente puder fazer pela Memória, pelas instituições... Porque a gente tá perdendo muito, infelizmente... Tudo vem da Educação. Você começa a ver, sei lá, quando as coisas vão e você fica: “Meu Deus, mas a coisa é tão grave...”. Eu tenho um amigo que dá aula de violão. Ele chegou lá para dar a aula de violão dele, tal. “E aí? Vamos começar.” “Não, gosto de rock” “Ok, mas antes de você pegar o rock, vamos pegar uma música mais, para você pegar, vamos pegar Milton Nascimento”. “Quem???”. Milton Nascimento não morreu, tá vivo, trabalhando [risos]. Já não sabem quem é ele. O Paulo Autran morreu recentemente. O Raul Cortez morreu um pouquinho antes. Vai em qualquer lugar, por aí, e pergunta: “Quem foi o Raul Cortez?” “Quem foi Paulo Autran” “Quem foi Armando Bógus”, entendeu? [risos]. Rubens Côrrea. A nossa memória é muito frágil. Tem uma propaganda muito bonita que a Fernanda Montenegro fez, que ela ficava... “Lembra daquela praça, que tem aquele nome, daquele ator, que fez aquela peça, que tinha aquele nome” que não sei o quê. É fantástico. E no final ela virava: “O Brasil é um país que não tem Memória”. Alguma coisa assim. E é uma pena. E em algum lugar a gente precisa manter o que a gente tem de memória para gente construir o país, para gente ter a nossa identidade, né? Acho que é isso. Muito obrigado.
P/2 – A gente que agradece.
R – Eu to muito feliz.
P/1 – Obrigado.
R – Valeu. Tá vendo, foi só um pouquinho de fita [risos].
P/1 – Só um pouquinho, quase nada.
Recolher