Conte Sua História - Vivências LGBTQIAPN+
Entrevista de Elix Rodrigues
Entrevistada por Genivaldo Cavalcanti Filho
São Paulo, 04 de setembro de 2023
Realização: Museu da Pessoa
Entrevista nº PCSH_HV1413
Revisada por Genivaldo Cavalcanti Filho
(00:23) P/1 - Boa tarde, Elix. Tudo bem?
R - Tudo.
(00:26) P/1 - Então, vamos começar pelo básico: gostaria que você me dissesse seu nome, a sua data de nascimento e em que cidade você nasceu.
R - Meu nome é Elix Rodrigues. Nasci no dia primeiro de setembro de 2001. Qual era a outra pergunta?
(0:42) P/1 - A cidade em que você nasceu?
R - A cidade? Eu nasci em Santo André, São Paulo.
(0:45) R - Certo. Fale um pouco sobre a sua infância, as primeiras lembranças que você tem da infância.
R - Eita, a primeira lembrança?
(00:55) P/1 - As primeiras…
R - Eu lembro que eu caía muito quando criança, caía demais, não sei por quê. Talvez fosse um pouco estabanada. Minha mãe me levava direto para o médico, porque achava que eu tinha algum problema de saúde, tinha osteoporose. Eu falei: “Gente, com seis anos de idade, como assim?”
Eu também me lembro que com quatro anos de idade comecei a cantar na igreja. Essa foi uma das lembranças, quando eu comecei a entender o que era arte. Acho que foi na igreja.
Acho que toda criança periférica, quando começa a entender que é artista, começa na igreja, né? A minha mãe me arrastava para a igreja, me colocava no púlpito, e eu lembro que quando começava a cantar - era uma coisa que o pessoal me falava muito, minha tia também falava muito, porque ela ficava em cima do púlpito - que quando eu começava a cantar eu marcava o tempo na perna, então eu ficava todo o tempo assim, sabe? Eu cantava era tipo: um, dois, três, quatro… Entendendo que a música, ela tinha um tempo, né? Ela tinha um ritmo. Acho que foi isso que me facilitou também para começar a tocar instrumentos.
Acho que essas foram as minhas primeiras lembranças da...
Continuar leituraConte Sua História - Vivências LGBTQIAPN+
Entrevista de Elix Rodrigues
Entrevistada por Genivaldo Cavalcanti Filho
São Paulo, 04 de setembro de 2023
Realização: Museu da Pessoa
Entrevista nº PCSH_HV1413
Revisada por Genivaldo Cavalcanti Filho
(00:23) P/1 - Boa tarde, Elix. Tudo bem?
R - Tudo.
(00:26) P/1 - Então, vamos começar pelo básico: gostaria que você me dissesse seu nome, a sua data de nascimento e em que cidade você nasceu.
R - Meu nome é Elix Rodrigues. Nasci no dia primeiro de setembro de 2001. Qual era a outra pergunta?
(0:42) P/1 - A cidade em que você nasceu?
R - A cidade? Eu nasci em Santo André, São Paulo.
(0:45) R - Certo. Fale um pouco sobre a sua infância, as primeiras lembranças que você tem da infância.
R - Eita, a primeira lembrança?
(00:55) P/1 - As primeiras…
R - Eu lembro que eu caía muito quando criança, caía demais, não sei por quê. Talvez fosse um pouco estabanada. Minha mãe me levava direto para o médico, porque achava que eu tinha algum problema de saúde, tinha osteoporose. Eu falei: “Gente, com seis anos de idade, como assim?”
Eu também me lembro que com quatro anos de idade comecei a cantar na igreja. Essa foi uma das lembranças, quando eu comecei a entender o que era arte. Acho que foi na igreja.
Acho que toda criança periférica, quando começa a entender que é artista, começa na igreja, né? A minha mãe me arrastava para a igreja, me colocava no púlpito, e eu lembro que quando começava a cantar - era uma coisa que o pessoal me falava muito, minha tia também falava muito, porque ela ficava em cima do púlpito - que quando eu começava a cantar eu marcava o tempo na perna, então eu ficava todo o tempo assim, sabe? Eu cantava era tipo: um, dois, três, quatro… Entendendo que a música, ela tinha um tempo, né? Ela tinha um ritmo. Acho que foi isso que me facilitou também para começar a tocar instrumentos.
Acho que essas foram as minhas primeiras lembranças da infância.
(02:17) P/1 - Você gostaria de falar um pouco sobre os seus pais?
R - Minha mãe, era óbvio que era mais presente, né? Minha mãe acabou virando uma mãe solo, isso bem depois, mas ela era casada com meu pai. Eita, [faz] muito tempo, porque ela se casou quando ela estava grávida do primeiro filho dela, que é o meu irmão, né? Eu sou a do meio, sou a filha do meio. Ele engravidou ela e eles tiveram que casar, porque era assim naquela época: se você engravidou, casa.
Eles casaram e foram viver a vida deles juntos. Talvez não fosse a melhor escolha, porque acho que eles namoraram por pouco tempo e já engravidaram, então não tiveram esse tempo para se conhecer, para entender quem era quem. Talvez eles não se conhecessem direito para se casar, mas isso não é uma regra, né? Até porque tem pessoas que casam cedo e vivem superbem por três, quatro, dez, vinte anos. Não é uma regra, mas acho que pro meu pai e para a minha mãe talvez fosse obrigatório eles se conhecerem antes, sabe?
Quando ela se casou, ela teve o primeiro filho, foi cesárea. Ela sofreu bastante racismo científico, porque o pessoal da ciência é um pouco racista, ainda mais naquela época, era mais racista ainda, então ela não recebeu anestesia por conta da cor dela. Fizeram um parto sem anestesia na minha mãe, empurraram a barriga dela com força para que o neném saísse. Meu irmão acabou defecando dentro da barriga da minha mãe, então tiveram que tirar ele às pressas, e fizeram isso com a menor humanidade possível, com desprezo, com desdém.
Minha mãe falou isso para mim porque eu perguntei para ela: “Mãe, você recebeu anestesia quando você foi ter o parto, ou algo do tipo?” Ela: “Não, não recebi. Por que, se recebe?” Ela ainda perguntou: “Se recebe anestesia para fazer um parto?” Foi aí que eu entendi que ela também sofreu racismo científico dentro do hospital para ter um parto, para ter um neném, um pato digno.
Isso perdurou até o terceiro parto dela, que foi recente. Meu irmão tem treze anos, então há treze anos ela teve um parto desumanizado também, porque todos os três foram cesárea e todos os três foram violentos, todos os três foram pesados para ela, sabe?
Além de sofrer racismo estrutural, o racismo que é a grande questão de tudo, ela também sofria racismo em casa, porque o meu pai namorou a minha mãe, se casou com a minha mãe, só que a gente entendia que ele estava naquela relação porque ele via a minha mãe no corpo de fetiche mesmo, no corpo de dar prazer para ele, em um corpo de serviência. Além do machismo - meu pai era bastante machista - ele via minha mãe como algo objetificado. Para ele, ela tinha que servir ele, ela tinha que fazer as coisas para ele.
Teve uma hora que meu pai ficou desempregado, então ele começou a ficar mais dentro de casa do que a minha mãe. Minha mãe trabalhava, chegava em casa e não estava nada pronto porque meu pai não ajudava em casa, então foi difícil para ela ter uma jornada dupla. Ficar em casa cuidando dos filhos, ter que cuidar dos filhos em casa, sair para trabalhar cedo, depois voltar do trabalho e ainda ter que fazer tudo em casa: lavar roupa, cuidar da alimentação, ter que fazer tudo. E a gente não morava numa casa aconchegante, confortável; a gente morava em uma invasão - eu vou colocar ocupação, porque a gente sabe que a gente só está retomando o que é nosso.
A gente morava em uma ocupação, então era tudo novo. A gente às vezes tinha que pegar água de algum lugar, porque faltava em casa, porque não tinha saneamento básico. Como estava construindo, a gente tinha que colocar sacolas nos nossos pés para andar, porque tinha muito barro, porque as ruas não eram asfaltadas. Era uma coisa bem de começo. A gente tinha um barraquinho, a gente erguia nossas paredes com o que a gente tinha; às vezes os vizinhos ajudavam com material de construção. Era bem assim, sabe? Era ajuda mesmo da comunidade, mas também era uma coisa perigosa, porque lá era uma coisa bem jogada, então às vezes tinha assalto, tinha coisas, violências domésticas, e tudo na nossa frente.
A violência também acontecia em casa, era sempre assim. Meu pai nunca bateu na minha mãe, nunca agrediu ela fisicamente, mas ele agredia psicologicamente e moralmente. Como que é o nome daquela agressão que você quebra coisa da pessoa por ciúmes, ou para ela não conversar com outras pessoas? Meu pai quebrava coisas da minha mãe para falar que ele era o cara que mandava. Esqueci o nome desse tipo de machismo, eu esqueci.
É isso, esse era o meu pai, o cara que pensava que mandava em tudo, porém não fazia nada, real, ele não fazia nada. Não trabalhava, não fazia nada dentro de casa, mas para ele, ele estava certo e ia construir a família que ele achava ideal. A minha mãe era a que ralava o tempo todo, que saía do trabalho e ia para casa, cuidava dos três filhos, depois dormia, acordava e ia para o trabalho, tinha essa rotina todos os dias.
Minha mãe parou de trabalhar para as pessoas e começou a trabalhar por conta. Ela saiu do emprego quando teve o terceiro filho, porque ela não estava mais aguentando. Também teve o divórcio com o terceiro; ela se divorciou antes e aí teve o terceiro filho. Meu pai achava que não era dele, porque do nada, do divórcio um filho… Foi um rolê bem conturbado.
Minha mãe, depois do divórcio começou a estudar para o salão de cabeleireiro. Ela queria ter um salão, então ela começou a fazer corte na gente, nos filhos dela. A gente era cobaia. Na maioria das vezes a gente ficava careca, porque era no começo e tal, mas hoje em dia ela é uma ótima trancista. Ela cuida do meu cabelo, cuida do cabelo do meu irmão - o cabelo do meu irmão está aqui já de tanto que ela trança, está enorme. Do meu irmãozinho menor ela também cuida.
Ela acabou crescendo no ramo dela. Ela sempre quis, sempre sonhou. “Eu quero trabalhar com cabelo, quero trabalhar sendo uma pessoa a própria dona…” Da vida, do salão também, sabe? Eu acho que é um empoderamento e levo isso para a minha vida esse exemplo da minha mãe; ela lutou e está lutando até hoje para conquistar o que é dela. E para mim é isso, eu construí meu império também, igual minha mãe fez, e eu levo isso para minha vida.
Do meu pai não falo muito, porque ele pagou pensão, a gente via ele de quinze em quinze dias; do nada parou de pagar pensão e sumiu. Ele só paga pensão do meu irmão mais novinho, mas não vejo meu pai há muito tempo, então é isso, não tenho o que falar dele.
(11:03) P/1 - Qual é o nome da sua mãe?
R - Simone Rodrigues. É Medeiros agora, porque ela casou de novo.
(11:10) P/1 - Ainda falando sobre a sua infância, nesse ambiente que você falou que tinha muita violência fora, mas também existia a violência não física, a questão do machismo dentro de casa, vocês conseguiam brincar na rua? Como eram as brincadeiras dessa época?
R - Eu lembrei o nome do machismo, é patrimonial, mas voltando aqui. Não brincava na rua, não brincava. Eu era uma criança muito caseira, eu e meus irmãos sempre fomos caseiros. A gente nunca conheceu os nossos vizinhos, nunca conheceu o nosso bairro, tanto quando a gente morava em Mauá, quanto quando a gente morava na Fazenda da Juta, que é onde eu moro agora.
Hoje em dia eu conheço mais as pessoas, porque eu cresci e virei uma grande comunicadora. Hoje em dia eu sou uma pessoa que gosta de falar, então falo com todo mundo, mas antigamente a minha mãe não deixava, por conta dessa violência.
Minha mãe sempre ensinou a gente a lidar com o racismo, e agora com a LGBTQfobia, mas de uma forma que ela entendia que era o certo. Era sobre a gente se cuidar e não sobre eles entenderem que estavam errados. Era sobre a gente sempre. “Olha, não faz isso. Se perguntarem não reaja, nunca ande sem RG na rua, nunca corra.” É muito doido isso, “não corre na rua”. Você não pode correr, se você correr vão achar que você está fugindo de alguma coisa, então você é culpado, sabe? Ela nunca proibiu a gente de usar drogas, mas ela sempre preveniu a gente, falou: “Olha, faz isso perto, fala comigo. Você quer fazer? Quer usar? Fala comigo.” Era sempre assim, ela nunca proibiu a gente de fazer nada, mas sempre dava esse alerta: ”Você é uma pessoa que a sociedade quer ver morta, então não faz isso, não faz aquilo. Está nessa rua? Anda devagar, não anda de capuz, ou gorro, ou touca. Ande de cara fechada, mas não tanto, para não te acharem antipático.” Era bem assim, era essa linha que ela seguia. “Cuide de você, porque eu não vou conseguir cuidar e a sociedade quer te ver morta, então tente seguir uma regra que a pessoa ache que você é uma pessoa direita, uma pessoa que anda no caminho certo.”
Funcionou, até certo ponto, até um certo momento. Acho que na minha infância inteira eu nunca fui… Talvez fosse vista como marginal, muitas das vezes, mas não era era uma violência escrachada, era velada. As pessoas faziam essa violência comigo, mas de uma forma que eu não percebia, e que minha mãe também não me deixava perceber. Era uma coisa mais… Não é à toa que eu percebi mais a violência sobre ser uma pessoa LGBT do que uma violência racial, mas estava lá o tempo todo. Quando eu comecei a entender isso, tipo: “Nossa, essa tal pessoa me xingou de tal coisa. Será que era isso ou não?” Minha mãe nunca deixou a gente entender o racismo assim, e quando eu comecei a crescer e entender que tipo, porra… Ai, desculpa, pode falar palavrão aqui?
P/1 - Pode.
R - Falei: “Pessoas estão colocando coisas no meu cabelo porque é fácil de esconder. Pessoas estão falando do meu nariz, da minha cor, falando que eu sumo quando eu estou em tal lugar. Pessoas falam: “Olha, não apaga a luz, senão ela some”, essas coisas que eu não percebia que eram racismo. Depois eu [pensei]: “Caralho, nossa. Entendi agora.” Eram coisas que minha mãe escondia de mim, porque era o que ela mais via como violência.
Depois que ela viu que eu comecei a ficar mais afeminadinha, aí ela falou: “Fica mais durinha. Não faz isso, não quebra muito, sabe?” Era mais nesse polimento.
Quem era mais rigoroso era meu pai. Meu pai fazia racismo com a gente, fazia questão de nos corrigir com violência. Ele batia na gente em forma de correção, ele me corrigia na questão de… “Olha, você está quebrando muito o quadril.” Eu quebrava um pouco o quadril, ele me batia: “Olha, você mentiu. Preto não mente.” Ele me batia por conta disso, era sempre isso, sempre me polindo.
Meu pai também tentava tirar a cor de mim, ele falava: “Não, você não é negra. Você é parda, você é mestiça, você é mulata, você é qualquer coisa, menos negra.” Mas quando eu saía, pra sociedade eu era vista como marginal do mesmo jeito, negra do mesmo jeito. Meu pai tentava tirar essa cor de mim, tentava me embranquecer, igual ele fez com todo mundo na minha família.
(16:46) P/1 - E como é a relação de vocês irmãos? Você é a irmã do meio.
R - Sim, sou a irmã do meio. Nossa, era muito conflito, sempre foi conflitante. Um conflito de irmãos, não vou dizer que era tipo: “Nossa, meu Deus do céu, a gente se esmurrava, porque a gente não gostava…” Não, era conflito de irmão, tipo: o pedaço maior do bolo ficou para você, então vou brigar com você. Era bem isso, mas a gente sempre se entendeu. Eu e meu irmão mais velho sempre nos entendemos, sempre tivemos essa cumplicidade.
Acho que meu irmão amadureceu mais rápido do que eu. Eu fui a do contra, fui a irmã revoltada, porque os irmãos do meio sempre são assim, sempre revoltados com a vida, com o destino que traçaram para eles e tal. Eu era a caçula, a caçula era a que botava terror e não levava a culpa até chegar o último, aí quando chegava o último eu era a largada, eu era tipo: “Ai, quer chamar atenção, não dá trela para ela.” Tipo: “Ai, tadinha, deixa ela. Ela vai seguir a vida dela, deixa ela.”
O meu irmão mais velho amadureceu mais rápido do que eu porque cuidava da casa. Ele sempre lavava a louça, sempre arrumava a casa, sempre deixava tudo brilhando para quando minha mãe chegasse não depender de ninguém, não depender de fazer mais coisas. Quando chegou o mais novinho, o caçula, aí que ele teve mais responsabilidade ainda, porque a minha mãe trabalhava, meu pai não estava em casa - meu pai nunca ficava em casa -, então ele que cuidava do meu irmão mais novo, de trocar fralda, de… Ele acabou virando pai do meu irmão mais novo.
Isso não é legal, não acho isso uma coisa legal, porque é uma responsabilidade muito grande ser pai do seu irmão, sabendo que você não queria ser, mas o meu irmão sempre quer agradar as pessoas; Não que ele quisesse sempre fazer isso, mas ele era obrigado a agradar as pessoas - não é à toa que meu pai é o único que fala com ele. Ele fala com meu pai de boa e tem essa relação de boa com meu pai, porque ele sempre agradava o meu pai, ele sempre fazia o que o meu pai queria, sempre fazia o que a minha mãe queria, mas o que ele queria nunca era realizado, porque nunca tinha dinheiro, nunca dava tempo, sabe? Ele era a pessoa que sempre servia as pessoas e nunca recebia nada em troca. Isso é uma bosta falar, porque tadinho do meu irmão, ele só queria curtir a infância, a adolescência, e eu fui a pessoa que curtiu a adolescência, que fez merda mesmo, sabe? Que foi pra balada… Foi pra balada não, que foi pra, sei lá, uma pracinha, ficou até tarde da noite, voltou bêbada, ou nem voltou para casa, e aí todo mundo [ficou] preocupado, ligando, querendo saber, e do nada aparece. A pessoa que leva um: “Você que é irresponsável”. Eu era esse tipo de pessoa, o meu irmão não, era o: “Olha, não faz isso. Você sabe que a nossa mãe não gosta, por que você está fazendo isso?” “Por que você está chamando atenção? Não faz isso, anda na linha. Faz isso para você ser mais aceito, mais agradável com as pessoas”, sabe? Mas eu era sempre: “Não, não vou, eu sou revoltado, sou rebelde”, sacas? “Vou sair sim, vou beber sim, vou pro bar sim, não estou nem aí.” Eu era essa menina.
Hoje eu criei mais juízo, prometo que hoje criei mais juízo, mas eu era… Isso perdurou também no modo que eu via as coisas, via as pessoas, via como era a minha arte também, então isso conta muito sobre quem eu sou hoje. “Olha, eu fui revoltada, mas era porque eu entendia que a sociedade era uma bosta, que eu teria que fazer alguma coisa para mudar, e também porque eu não posso fazer, sabendo que a outra pessoa está fazendo. Por conta da cor dela ela pode fazer, e eu, não posso? Não, vou fazer sim, eu vou estar sim, eu vou querer sim.” Eu sempre fui a ativista, então: “Não, vou fazer sim. Se a pessoa está fazendo e ela pode, porque ela tem um privilégio, eu vou fazer também.” E aí eu fazia e me fodia, mas era isso. (risos)
O meu irmão era o que andava na linha, não era à toa que todo mundo amava ele.
Meu irmão mais novo está se desenvolvendo agora, está descobrindo a adolescência agora. Ele tem treze anos, está na puberdade agora, mas ele era o fofinho, sabe? O pessoal queria cuidar, queria… Mas eu tinha um pouco de inveja, porque eu era essa pessoa que as pessoas queriam mimar, queria cuidar. Eu era muito mimada na minha infância. Eu recebi comida na boca até os sete anos de idade, enquanto meu irmão comia sozinho, e aí depois, quando o caçula chegou, parei de receber atenção, mimo, carinho, isso começou a ser direcionado a ele - óbvio, né, porque é uma criança, precisa de cuidados, precisa de atenção, mas poxa vida, eu era uma criança, sabe? [Com] doze, treze anos, estava entendo como era a vida. E aí chega uma pessoa mais nova e rouba esse posto meu? “Não. Vou ficar com inveja sim, não estou nem aí.”
Fiquei com inveja por um bom tempo do meu irmão. Não queria ficar com ele, não queria chegar perto dele, ficava furiosa mesmo, porque “como ele ousa fazer isso?”
Teve um momento que não tinha ninguém para cuidar dele… Não que não tivesse ninguém, mas: “Você pode, por favor, olhar o seu irmão? Dá uma olhadinha nele para ver se está tudo certo?” E aí eu subi no quarto, fiquei olhando ele no berço. Vi que ele era uma coisa fofa mesmo, vi que ele precisava de atenção sim, porque ele era uma pessoa frágil, uma pessoa que cagava e o pessoal tinha que limpar, sabe? Não tinha controle nem do próprio esfíncter, não tinha controle da bexiga. Precisava de alguém para dar comida. Foi nessa que eu entendi: “Nossa, é isso. É óbvio que ele precisa de atenção, é óbvio que ele precisa de carinho.” Quando eu peguei ele no colo eu falei “Nossa, que coisa mais linda.” E aí começou aquele amor, o ódio acabou virando amor, e amo ele até hoje.
Ele é gamer, então ele joga joguinho - ultimamente, os jovens todos, né? Os jovens estão todos assim, gamers, falando umas gírias que eu não conheço, umas coisas que eu não conheço. Umas gírias que eu não conheço.
Ele está se tornando uma pessoa com princípios também, entendendo como a sociedade funciona, acho que também pelo que ele passa. O racismo dele também é velado - tanto meu racismo quanto o racismo do meu irmão foram velados, e ele também está sofrendo esse racismo velado.
Ele anda mais despojado mesmo, ele anda bem ‘quebrada’, com bonezão, short largo, não está nem aí. Ele vai para escola e para os lugares sozinho, com treze anos, e minha mãe fica com medo. Teve um dia que ele foi para escola e para o curso e não voltou no horário, estava demorando para voltar. Minha mãe já ficou preocupada. “Nossa, aconteceu alguma coisa e pegaram ele. Ai, meu Deus do céu, e se a polícia pegou?” Aquele medo de: “Porra, se pegou meu filho, talvez ele não esteja mais aqui.” É sempre assim, quando a gente sai a minha mãe sempre fica preocupada, pergunta onde a gente está, o que a gente está fazendo, se estamos bem, e aí quando ele chegou ela já [foi falando]: “Como assim você não…” Aquela mãe bem brasileira. “Como assim você não chegou no horário? Eu estou aqui preocupada com você.” E gritando com ele. “Não, mãe, só fui jogar bola.” Ele [ficou] tentando explicar para minha mãe. “Não quero saber, você vai ficar sem celular”, e não sei o quê…
Ele é a criança que mais se comunica com o pessoal do bairro. Ele é a criança que vai jogar bola com os meninos, que vai, que curte estar lá na rua, coisa que a gente não teve na nossa infância, tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão ficava em casa fazendo as coisas, e eu na adolescência comecei a sair, mas quando eu era criança eu ficava dentro de casa mesmo, assistindo TV, assistindo Super Choque, assistindo bom dia e companhia, assistindo TV Globinho, essas coisas. Quando o meu irmão cresceu, tudo isso acabou, TV Globinho acabou, Bom Dia & Companhia…
Agora ele curte viver na rua, com os coleguinhas da rua. Não é à toa que quando eu volto para casa, hoje em dia, a gente sai para rua para brincar, sabe? A gente une todos os amiguinhos dele com a nossa família e a gente sai pra rua para… Eu joguei queimada esses dias, esses meses, é recente. Voltei a jogar, comecei a jogar com o pessoal da rua.
Ele está lá brincando o tempo todo, joga bola dentro de casa. Ele é o que mais está curtindo a infância e a adolescência agora. Acho que é isso.
(27:23) P/1 - E quais são os nomes deles?
R - O mais velho se chama Jonas, e o mais novo se chama Juan, com J. Eu sou a única com E.
(27:35) P/1 - E me conta uma coisa, você tinha algum sonho de infância?
R - Sonho de ser famosa… A louca. (risos) Sério. Eu olhava na TV o programa do Raul Gil que tinha aquelas crianças, a Maisa que estava lá, acho que o Daniel Garcia não era - não, ainda não. O Robson Monteiro também estava sempre lá, a Jamile estava lá. Eu olhava a TV e falava: “Nossa, e se eu estivesse lá? E se eu fosse? E se eu estivesse lá, cantando também, qual música eu cantaria? Eu ficava pensando. “Acho que eu cantaria Jamily, Conquistando o Impossível. Acho que é isso que eu cantaria.” Eu era da igreja, então pensava em músicas que eu ia cantar, em cada fase que iria chegar, o que eu ia fazer.
Eu sempre quis estar na frente de câmeras e na frente da plateia. Não é à toa que quando eu entrei no teatro, com onze anos, eu entendi que receber aplausos era muito legal. Depois de cada espetáculo o pessoal aplaudia e eu: “É isso aí, parabéns.” Foi uma coisa muito gratificante. Eu falei: “Nossa, acho que é isso que eu quero fazer.” Mas aí tinha um problema. “Tá, você vai ser artista, sendo uma pessoa marginal. Você está vendo que quem está na TV são pessoas brancas e cis, e ainda é uma coisa que não é valorizada no nosso país, que não dá muito dinheiro. Você tem certeza disso?” E para mim, na infância, era: “Não, eu acho que é uma profissão digna e vou continuar.” Só que minha mãe sempre me puxava para baixo e falava: “Não é bem assim. Você não vai chegar lá, vai cantar e vai ser famosa não, está doida? Você vai ter que passar por fases, talvez eles nem chamem você, e aí? A gente não tem computador para inscrever você, e aí? Como você vai chegar lá se você não tem uma internet, computador, pelo menos, para se inscrever no espetáculo, no programa?” Eu falei: “Como vou fazer para chegar lá?”
Fui comendo bem pelas beiradas. Fui me apresentando em festivais de bairro, me inscrevendo em cursos para teatro de bairro gratuitos, fazendo espetáculos de dois em dois anos. Fui bem devagarinho. Depois que eu entendi que queria isso, fui correndo atrás. “Preciso abrir MEI, preciso tirar DRT. Tenho que correr atrás agora, mas agora que eu estou com 22 anos, o que eu posso fazer?” Já abri MEI, peguei DRT.
Acho que estou vivendo mais essa vida de atriz e vivendo agora, estou colhendo esse fruto que estava plantando há muito tempo, desde os meus quatro anos de idade, quando peguei o microfone pela primeira vez, fui cantar na igreja e falei: “Nossa, está todo mundo falando ‘aleluia, glória a Deus’. Está todo mundo adorando. Caramba, por que eles fazem isso quando eu canto?” Quando eu fui para o palco de teatro: “Nossa, por que eles aplaudiram? Será que eu fui tão bem assim?” Eu cantei pela primeira vez na igreja, e o pessoal: “Nossa, tem alguma coisa aí, essa menina canta.”
Minha mãe já pegou gente falando: “Ela faz a nota certinha, conseguiu fazer todas as notas certinhas da música. Pegou a letra assim, rapidíssimo.” Eu era muito boa de memória, hoje em dia nem tanto, mas eu era muito boa de memória, pegava as músicas rapidíssimo. Acho que em dois dias eu já aprendia toda a música, aí falava: “Mãe, eu quero cantar essa na igreja agora.” “Está bom.”
Eu tinha que ir lá, subir no púlpito. “A Elix quer cantar hoje, ela pode ter a oportunidade?” Muitas das vezes não tinha, ficava decepcionada, ficava triste, voltava para casa triste, mas depois, no outro culto, eles falavam: “Pode cantar aí.” Era sempre uma ansiedade: “Nossa, agora eu vou cantar na igreja.”
Comecei a fazer teatro também na igreja. As peças de igreja, nossa, me ajudaram tanto a me soltar, a ser mais solta, mais ‘desenvoltada’, sabe? ‘Desenvoltada’, existe essa palavra? Não, né?
P/1 - Desenvolta…
R - Não existe. [Elas me ajudaram a] ter uma desenvoltura melhor no palco, chegar e [me] apresentar para um grande público. No meu bairro todo mundo ia quando era peça, ainda mais quando era peça gratuita. Era tipo: “Nossa, avisa a escola, avisa não sei o quê”. Era todo mundo do bairro indo ver a peça. A gente tinha que fazer quatro sessões em um dia porque era muito público, não dava para colocar todo mundo dentro da casa, né? E sempre lotava, então eu sempre tive esse respaldo muito grande.
Eu era a famosinha do bairro. Não era a famosinha de São Paulo, não era a famosinha do Brasil e também não era a famosinha do mundo, mas era do meu bairro, da Fazenda da Juta. Não era à toa que eu chegava, na época… [Diziam:] “Você é o menino que canta, né? Nossa, você é o menino que canta! Você é o menino que estava lá na coisa, né? Nossa, que legal, você canta muito bem. Canta uma palinha para mim? Canta Whitney Houston para mim?” Cantar qualquer coisa, sabe? “Faz alguma coisa, você é a cantora, canta aí.” Era sempre assim, e eu era amostrada. Qualquer oportunidadezinha que eu tivesse para cantar, poderia ser dentro do ônibus, eu cantava, e era chata mesmo, porque eu cantava dentro do ônibus. Sério, o pessoal saindo do trabalho, cansado, e eu lá abrindo a minha boca para cantar. O pessoal [dizia]: “Tá bom, minha linda, fica quietinha, por favor. Shiiu! Vai dormir, faz alguma coisa, não precisa cantar.” Mas eu era aquela criança acelerada. “Eu vou cantar sim, vai que tem um olheiro aqui dentro do ônibus, que me olhe e fale: “Não, ela canta bem, eu vou chamar ela…’” Óbvio que não existia, mas sempre tive esse sonho de estar na frente da TV fazendo o que eu gosto, fazendo arte, e é isso.
(34:20) P/1 - Voltando um pouquinho, quais são as primeiras lembranças que você tem de ir para a escola?
R - Escola sempre foi um problema para mim, porque eu era a pessoa que sempre andava com as meninas, né? Eu era a que sempre requebrava, que sempre era no shade. Eu era muito a que quebrava o pescoço, tipo: “Humm, não.” Eu era muito dessas, sabe? Aquelas bichas bem afeminadinhas, então as pessoas olhavam e “iiih…”. Eu era a criança do “iiih, olha lá. É, gay, bichona.” E não tinha uma nomenclatura naquela época, então era viadinho, era bichona, era boiola. Era sempre nesse tom pejorativo. Também era sempre: “Olha lá, tadinha, vai sofrer tanto.”
Para as meninas era: “Nossa, uma amiga gay. Que legal, nunca tive”, então “vamos acolher?” Era sempre: “Ela nos entende e ela vai fazer tudo que eu quero, porque nossa, ela é tão acolhedora, tão humana, tão galera”, sabe? Para as meninas eu era tipo uma serviçal, uma pessoa que vai estar lá para servir elas, e para os meninos eu era a pessoa que deveria apanhar, que deveria não estar lá, que não era para me portar assim, não era para eu… “Porra, você já é negra, você vai ainda requebrar? Você está louca? Não!” Então, para mim, escola era sempre nessa lugar de “olha, está requebrando demais, vamos dar um coió nela para ela parar? Vamos abaixar a bolinha dela?”
Era sempre assim, mas era onde eu me desenvolvia como cantora, né? Eu sempre cantava na escola, então eu sempre tinha um “Greg”, sempre tinha um amigo branco que falava: “Olha, vai lá, faz. Eu confio em você, você é legal.” Eu sempre tive esse “Greg”, mas eu sempre andava com as meninas, e quando eu tinha uma oportunidade eu falava com ele, mas depois eu voltava com as meninas. Era David o nome dele. Eu não sei se é, não sei onde ele está, não sei, porque não falo mais com ele, mas ele era meu amigão, era ele sempre que me apoiava. Falava: “Vai, canta. Você é cantora, mostra para o pessoal o que você é.” Ele [me] dava essa coragem.
Quando a professora ouviu eu cantando, ela [disse]: “Nossa, vou chamar ela para cantar na formatura. A gente nem precisa contratar artista, tem uma artista aqui, chama ela para cantar na formatura.” Aí me chamaram para cantar na formatura, eu cantei na frente de todo mundo. Pronto, eu era a cantora da escola.
Acho que eu me salvei de muitos ataques e muitos xingamentos, talvez muita violência física por conta disso, porque eu era cantora. Eles justificaram minha feminilidade por conta disso. “Aí, só porque ela é cantora. Artista é sempre assim, você não vê? David Bowie passa maquiagem. É isso mesmo, para ser artista tem que passar maquiagem, senão fica feio nas câmaras.” Sempre justificando alguma coisa, sempre jogando a minha sexualidade para outro canto. “Não faz isso, porque ela é cantora, ela é artista. Não bate nela. Não vamos bater nela, ela é importante, ela serve para alguma coisa pra gente sabe, ela serve para cantar. Se a gente bater e ela estiver machucada, como é que ela vai cantar? Então, deixe ela livre disso, por favor, deixe ela cantar.”
Acho que a arte me salvou bastante na escola, mas quando eu comecei a me transacionar dentro da escola, aí foi um problema, porque eu transicionei com treze anos, dentro da escola, e aí pronto, foi o ‘b.o.’, porque queria usar banheiro feminino e não podia, queria ser chamada de um pronome e um nome e não podia, porque não tinha isso no meu RG. Era muito nova essa questão da transexualidade dentro da escola, eu era a única pessoa trans dentro da escola; tinha um menino trans também, só que ele era um menino trans que tipo… Sabe? Não tocava nesse assunto. “Não faz isso, não mexe com quem está quieto, vamos ficar só na gente. Não fala para todo mundo que você é, respeita o pessoal, respeita as pessoas, vai desrespeitar? Não fala o que você é, não queira entrar no banheiro, poxa, você já é e ainda quer entrar, você quer ter mais direitos? Para, não faz isso, sabe? Fica com você.” Ele nunca entrava no banheiro masculino também, óbvio, porque se ele entrasse no banheiro masculino ia ser um problema, e aí ele sempre entrava no banheiro feminino, ele sempre ficava na dele. E eu não, era a travestizona que andava armada dentro da escola, e não estava nem aí para o que o pessoa dizia ou fazia, sabe?
Não é à toa que eu apanhei muito mais depois da transição. Eu levei uma voadora nas costas quando estava saindo da escola, porque eu dancei na escola Single Ladies, eu sabia a coreografia todinha, ainda sei até hoje. Dancei Single Ladies e o pessoal não gostou, falou: “Ih, muito afeminado.” Saí da escola, o pessoal achou que eu deveria apanhar e eu apanhei.
Também já fizeram barreira no banheiro para eu não entrar. Fizeram uma corrente humana para eu não entrar no banheiro, para eu não usar o banheiro, sabe? E quando eu entrava no banheiro, era sempre aquele “olha…” As meninas: “ Ai, não gostei, tem um homem dentro do banheiro.” Chegavam no diretor e falavam: “Olha, tem um menino entrando dentro do banheiro feminino e eu estou me sentindo insegura”, sabendo que eu só queria fazer meu xixi. Elas chegavam e falavam: “Nossa, não gostei.”
Para as meninas eu era assediadora, eu era a violentadora, que ia violentar elas sexualmente em algum momento, e pros meninos era: “Como assim você está deixando de mão, deixando de lado seu privilégio de homem? Você está doida? Não, você vai ser homem, sim.” Um privilégio pequeno ainda, porque eu sou uma pessoa preta, então era um privilégio, mas até certo ponto. “Como assim você vai deixar de tudo isso para ser uma mulher? Está louca?” E aí eles também tentavam me corrigir, ou tentavam me colocar numa caixinha que não era a minha, sabe?
Era bem isso, sempre violência dos dois lados, e violência dos professores também, de não me chamar no pronome e no nome certo.
Todo mundo era violento comigo? Não, tinham umas meninas que me protegiam. Elas chegavam [e diziam]: “Não vai tocar nela, você não é louca de tocar nela.” Nicole, que é uma delas, me protegeu horrores. Nossa, não tenho noção de quanto tempo ela me protegia e me livrava de muitas coisas. [Era] ela que me deixava usar o banheiro. “Você vai entrar, sim.” Ela me pegava pela mão e me colocava dentro do banheiro, nem que fosse para passar um batom, passar uma maquiagem; ela me puxava para ficar dentro do banheiro junto com ela.
Essa violência dos professores era bem recorrente. Eu corrigia eles e eles [diziam:] “Está no RG? Não está no RG, então infelizmente eu não posso te chamar.” Eu já ouvi isso de professora. Eu estava no começo de transição e no começo de transição a gente ainda tem alguns fenótipos - barba, cabelo curto, sabe? Tem esses fenotipozinhos que ainda são lidos como masculinos. Uma professora que chegou em mim e falou: “Olha, você tem barba. Poxa, é isso mesmo que você quer? Então, tira essa barba. Você está com barba, como eu posso te chamar de ela? Você está com cabelo curto. Enquanto você não vier aqui como uma mulher, eu não vou te chamar de ela.”
Ainda teve uma… Ainda fui para a diretoria, porque estavam falando que eu estava entrando muito no banheiro femino. O diretor falou: “Olha, você pode entrar quando ninguém estiver dentro? Você pode usar o banheiro… ” Eu falei: “Nossa, agora eu controlo meu xixi, agora eu falo ‘acho que agora eu estou com vontade de fazer xixi, acho que agora vai vir a vontade de fazer xixi e eu vou lá’.” Eu falei: “Eu não controlo isso, como eu vou saber quem vai estar dentro, quem não vai? Como eu vou saber que horas eu posso ir ou não posso? Eu não controlo as outras pessoas. E se eu estiver usando o banheiro e alguém quiser entrar? Aí eu vou ter que trancar o banheiro, usar, deixar a pessoa esperando e depois sair do banheiro para a outra pessoa entrar?” Ele não sabia também explicar, aí ele falou: “Qualquer coisa eu te dou a chave do banheiro dos professores.” Eu falei: “Mas eu quero usar o banheiro feminino, não quero usar o banheiro dos professores. Banheiro dos professores é banheiro dos professores, o meu banheiro é o feminino, eu sou uma mulher e eu vou usar o banheiro feminino.”
Acabei usando o banheiro dos professores, para não causar mais intriga. Acabei cedendo. “Então tá, então vou usar. É isso que tem para hoje, vou usar o banheiro dos professores.”
Teve outras vezes que eu fui chamada… Eu era muito chamado na diretoria por ser quem eu sou, e porque também eu sou muito respondona e não estava nem aí para ninguém. Fui chamada na diretoria e ela falou: “Olha, não estou te entendendo. Você quer ser, você não quer ser…” Na época que eu me identificava como uma pessoa não-binária, então era uma ‘pessoa’. Eu falava: “Eu sou uma pessoa não-binária.” Aí a diretora chegou em mim: “Como assim você é uma pessoa não-binária? Que é isso? Isso nem existe, existe binário e não-binário? Você virou o quê? Matrix agora? É o código Morse agora, como assim? É código binário, não-binário?”
Ela falou: “Mas você quer colocar mesmo, ou você quer ser aquelas feias, que colocam silicone industrial e ficam feias, que colocam óleo de motor de avião e ficam deformadas? Você quer ser esse tipo de travesti ou você quer ser a travesti bonita? Porque tem umas que ficam bonitas, e tem outras que ficam feias.” Ela olhou para mim [e disse:] “Se você não cuidar, você pode ficar feia”, metendo um medão em mim, sabe? Tipo: “”Nossa, agora pronto, não vou mais transacionar. E agora? O que eu faço? E se eu for uma travesti feia?” - não, sou belíssima, óbvio. (risos) Eu fiquei: “Caralho, se eu for uma travesti feia? E agora, o que eu faço?”
Era bem nesse lugar: “Olha, você vai fazer mesmo? Então você tem que ser bonita, então você tem que ser passável.” Na linguagem de pessoas trans e travestis, você tem que ser passável, você tem que ter essa possibilidade pra pessoa olhar para você e falar: “Não, não parece. Nossa, você é trans? Nem percebi, não parece.” Eu tinha que ser esse tipo de pessoa na escola, e eu era uma pessoa periférica que não tinha acesso, então como eu vou tomar hormônio? Como eu vou ser essa pessoa, como eu vou comprar um hormônio sabendo que o hormônio está cento e poucos? Então vamos em hospital público? Tá, como eu vou contar para minha mãe que eu sou uma pessoa trans e quero tomar hormônio? Era bem isso, sabe? Você tem que ser passável, mas você não tem acesso, porque você é uma pessoa menor de idade e precisa da autorização dos seus pais para tomar, ou se você for fazer clandestinamente, você tem… Está muito caro, e você não é uma pessoa que trabalha, então como vai aplicar hormônio em você? Como eu vou fazer agora pra ser essa pessoa? Eu sempre busquei uma passabilidade que o pessoal colocava dentro de mim.
Quando eu comecei a frequentar lugares onde pessoas travestis estavam, lugares onde pessoas LGBTs mais pessoas trans e travestis, ballroom, quando eu conheci Brenda Lee - agora, o espetáculo que eu faço - quando eu conheci essas pessoas… Isso agora, estou falando agora. Conheci ballroom no ano retrasado, conheci Brenda Lee ano passado, então estou entrando nesse universo agora, de entender que a passabilidade não funciona pra nada, que a violência vai ser a mesma, sabe? Eu tenho que ser quem eu sou e me sentir confortável do jeito que eu estou.
Não toma hormônio? Não precisa tomar para você se identificar como uma mulher. Ai, a barba está grande? Tá, mas eu estou me sentindo bem assim e ainda sou uma pessoa trans.
Essa passabilidade cis que colocaram na gente e que colocam em mim todos os dias é uma coisa que, poxa, a escola poderia dar essa atenção, sabe? Porque eu fui muito violentada nessa questão pelos professores, e pelos alunos era “não vai entrar, não vai ser, não quero, vou rejeitar. Como assim?” Pros meninos era “como assim você está abdicando do seu privilégio?”, e para as meninas era “eu estou me sentindo coagida, estou me sentindo mal. E se ela fizer alguma coisa?”
Eu era sempre vista como a violenta sabendo que eu não fiz nada para ninguém, eu só queria ser eu e era vista como uma violenta, que queria matar todo mundo, que queria violentar sexualmente todo mundo, que queria destruir a família tradicional brasileira, sabendo que eu só queria ser eu, só isso, só queria ser travesti.
Acho que essa foi a minha infância de escola. Muita coisa, né? (risos) Essa foi.
(49:31) P/1 - E essa escola ficava no seu bairro mesmo, na Fazenda da Juta, ou era mais longe?
R - Tem dois períodos na minha vida. [Tem] um período que eu morava em Mauá e estudava na Fazenda da Juta, então saía de casa, demorava duas horas para chegar em São Paulo, para chegar num bairro, estudar e voltar para casa a uma hora da manhã. Mas é porque eu também trabalhava, teve um momento na minha juventude que eu comecei a trabalhar, acho que com dezessete, dezoito anos. Nossa, gente, foi muito tempo, né? Não recordo, mas com dezessete, dezoito anos eu comecei a trabalhar, aí eu saía de casa umas quatro horas da manhã. Eram duas horas de percurso até o trabalho. Chegava no trabalho, trabalhava e ia para a Fábrica de Cultura, porque eu fazia curso de teatro. Depois ia para escola, estudava, depois voltava para casa, então eu tinha essa rotina de sair de casa às quatro horas da manhã, chegar a uma hora da manhã e só dormir três, quatro horas.
Quando eu era menorzinha eu morava no meu bairro, então estudava no meu bairro. Eu me acostumei com a escola do meu bairro, me acostumei com meu bairro, então quando morei em Mauá não consegui me acostumar com a escola de lá. Acho que eu estudei lá um pouco, depois eu não consegui e voltei para o meu bairro. Eu era acostumada com meu bairro, então não gostava de sair de lá. A minha mãe entendeu. “Olha, você vai ficar mesmo? Então vamos fazer o bilhete único.” Fiz o bilhete único, usei do meu direito de estudante de ir e vir . E ia e vinha mesmo, dava o rolê inteiro em São Paulo, né?
Agora, depois de um tempo, eu voltei a morar na Fazenda da Juta. Moro na Fazenda da Juta, mas parei de estudar. Agora o meu percurso é ir para o centro quase toda vez, porque as peças que eu faço e tudo que eu faço é mais para o centro.
Quando eu morei lá, pequenininha, eu ia para lá andando, ou o meu pai me levava, ou minhas tias me levavam, e aí eu ia para a escola acompanhada com os pais. Depois de um período de Mauá, eu saía de Mauá e ia para a escola.
(52:18) P/1 - Nesse período de Mauá você já estava no ensino médio?
R - Já, já estava no ensino médio, no primeiro ano.
(52:23) P/1 - Aí você decidiu…
R - Eu repeti o primeiro ano. Não me orgulho disso, óbvio. Mudei de escola e mudei de casa, fui para Mauá, e aí fazia esse percurso longo. Às vezes eu nem voltava para casa, dormia na casa do meu avô, porque o percurso era muito longo, estava muito tarde, e aí eu não voltava. Ficava na casa do meu avô e dormia lá, para no dia seguinte fazer todo o rolê, que era mais perto também.
(52:53) P/1 - E essas pessoas, seu avô, suas tias que moram na Fazenda da Juta também, são por parte de mãe?
R - Tudo por parte de mãe, eu não conheço ninguém da… Por parte de pai eu conheço, mas eu não tive muito contato, não; é tudo por parte de mãe, sempre. Tio, avós - avô, na verdade, porque eu não tenho avó, só tenho avó por parte de pai e eu vi ela bem pouco, então é tios e avô, era o que eu mais via. Eu tenho uma tia surda, então eu aprendi a falar em Libras, mas numa linguagem dela, porque ela nunca estudou libras, então eu conversava com ela em Libras, só que era uma linguagem que a gente fez para a gente se entender.
Eram sempre meus tios que me ajudavam, por parte de mãe.
(53:55) P/1 - Você disse que já tinha todas essas questões do bullying, essas questões da sua identidade já estavam sendo postas em xeque ali, quando você era criança ainda. Quando você chegou no ensino médio, como isso foi para você? Porque você também estava em mudança também, nesse período.
R - Nossa, sim. Quando eu cheguei no ensino médio eu acho que estava mais empoderada de quem eu era, acho que eu estava com mais… Certeza eu não estava, mas um tracinho, tipo “tá, é isso que é”, então eu entendia um pouco mais da minha sexualidade, porque a internet estava fácil e a pesquisa também estava fácil. Quando eu era mais novinha não era muito simples assim, então eu usava as coisas… O pessoal me entendia como uma transformista, ou travesti, uma palavra bem pejorativa, um ‘traveco’, sabe?
Depois eu comecei a me entender travesti. Comecei a entender que se eu tenho alguma disforia, ou algo do tipo com o meu corpo… Talvez tenha um traço disso, sabe? Não que todas as pessoas trans e travestis tenham disforia, mas eu tinha. Eu era a pessoa que não gostava de não ter peitos, queria ter uma voz mais fina. Eu olhava a minha mãe e falava: “Por que ela tem seios grandes e eu não tenho? Por que ela tem uma curva na cintura e eu não tenho? Por que ela tem coxona e eu não tenho.” E depois eu entendi que era porque eu tinha hormônios, eu tinha testosterona dentro de mim e ela tinha estrogênio. Era entender que “tá, talvez eu me identifique mais com o universo feminino, talvez eu me identifique mais como uma mulher mesmo do que como homem.” E foi nessa que eu entendi: então eu sou uma travesti, é isso.
Eu sou travesti, e agora? Como eu vou falar pros meus pais? Como vai ser daqui para frente? Porque quando a gente está no gay e bi tudo certo; era bi? Tudo certo, gay também. A minha mãe chorou um pouquinho quando eu me assumi gay, chorou um pouquinho quando eu me assumi bi, porque ela achava que não teria netos e ela queria ter netos. “Nossa, meu Deus do céu, não vai ter.” Acho que uma semana inteira ela ficou chorando - uma semana inteira, ou foi mais? Não me recordo. Mas ela chorou por muito tempo quando eu me assumi, e nem fui eu que me assumi, foi meu irmão mais velho que falou: “Olha, ela é bi.”
Quando eu me assumi travesti eu falei: “Não, agora eu que vou falar.” Mas eu saí do armário muitas vezes, então era bissexual, depois eu virei gay - ‘virei’ é ótimo, gente, desculpa, é uma forma de… (risos) Depois eu era gay, depois entendi que era pessoa não-binária, depois entendi que era travesti.
Acho que eu sempre entendi que era travesti, mas falar isso, verbalizar isso, era falar: “Eu vou viver de prostituição…” - na minha cabeça - “...vou viver de prostituição e não vou conseguir [realizar] os sonhos que eu queria” - que eu quero, né? Verbalizar isso era entender… Eu via muita travesti na minha infância; minha mãe me colocava esse medo, ela falava: “Não olha muito, não, porque elas são agressivas. Se você olhar muito elas podem te machucar. Não fica olhando, é feio.” “Tá, entendi.” Eu olhava com apreço, depois eu comecei a olhar com medo, sabe? “Tá, e se eu for isso? Se eu for travesti? Eu vou ter que andar armada? Eu vou ter que pôr silicone mesmo? Eu sou obrigada a pôr? E como faço isso? É uma seringa enorme que tem que por dentro de mim? Elas fazem o próprio peito?” Era muito isso, sabe? Eu via com apreço, no começo. “Nossa, como elas conseguiram? Como elas se tornaram mulheres?” E depois eu comecei a olhar com medo. “Nossa, elas sofrem tanto, e eu não quero sofrer tanto com isso. Eu tenho que ser agressiva? Não quero ser agressiva, nunca fui agressiva. Como é que eu faço?”
Eu comecei a criar esse medo, e para verbalizar isso, para me entender… Talvez eu já tivesse entendido no meu ser, tivesse entendido isso em algum momento da minha vida, mas para verbalizar isso, falar isso, foi um pouco difícil, porque eu não queria que isso acontecesse comigo, por isso que eu tive essas fases de me entender aos poucos. Mas nunca me coube essa caixinha de homem. Mesmo sendo gay, nunca me coloquei nesse lugar de masculinidade, sempre busquei o feminino. Pra mim era isso, tinha isso dentro de mim, mas era o medo que me fazia não assumir.
(59:31) P/1 - Você tinha comentado sobre outra pessoa que estudou com você que também era uma pessoa trans, mas tentava a passabilidade, tentava não “irritar” as pessoas. Você comentou agora que via travestis e sua mãe falava “olha, não olha muito”. Eu queria saber sobre isso, se você tinha pessoas assim [LGBT) à sua volta.
R - Sim, muito. Quando eu morava em Mauá e voltava para casa, eu via muitas travestis de programa, garotas de programa na rua, porque eu passava na [Avenida] Mateo Bei e lá tem um lugar que as meninas trabalham. Eu via sempre elas passando e dando o bom close delas, mas não sabia que era pra prostituição. Olhava sempre, mas nunca sabia o que elas estavam fazendo lá, porque elas sempre estavam à noite, de dia nunca estavam. Quando eu ia para escola, ou ia para algum lugar, eu não via elas; quando eu voltava à noite eu via muitas delas. Acho que na minha infância nem tanto, acho que via um pouco, mas quando comecei a entrar nessa fase da pré-adolescência, adolescência, comecei a ver mais. Foi quando comecei a voltar mais tarde para casa.
(01:01:21) P/1 - E durante seu ensino médio, tinha alguma outra pessoa LGBT na escola?
R - Quando eu me mudei de escola, tinha mais gente LGBT na outra. A escola que eu estudei primeiro foi a…. Eu estudei primeiro na Rodrigues de Carvalho, depois eu mudei para escola Valdir Fernandes e depois eu fui para a Escola Estadual República da Nicarágua. Foi onde eu conheci mais pessoas LGBTs, mas era aquilo, né? Eram pessoas LGBTs no nicho delas, tipo “eu sou cis, sou LGBT cis, sou discreta. Pego a pessoa, sim, mas discretamente.” Era sempre assim: “Eu sou gay branca, está tudo certo.”
Quando eu estava no começo da transição, eu só usava sutiã e colocava muito enchimento, então eu ficava com um peito muito grande. Eu tinha uma barba e passava batom. Tinha uma gay que gostava muito de mim, ela queria ficar comigo. Essa pessoa chegou na minha amiga e falou: “Nossa, gostei muito do seu amigo, mas por que ele usa sutiã? Queria ficar com ele, por que ele usa sutiã?” Foi quando eu entendi que também a cisgeneridade LGBT também não gostava de mim na questão da travestilidade. “Por que ela chama atenção? Para que usar sutiã? Para que usar batom com essa barba enorme? Pra que você vai fazer isso, não precisa, não. Volta àquilo que você era, não precisa ter esse sutiã. Seja você, seja quem você veio ao mundo. Agrade a nós, cis.” E é isso.
Eu sofria violência, mesmo estando em um local que era rodeada de pessoas LGBTs - “rodeada” entre aspas, né? Tinha pessoas, eram poucas. Era uma bolha, mas era sempre assim.
Também tinha pessoas que estavam se descobrindo. Do mesmo jeito que era tipo muito violento para mim, era muito de descoberta também, porque eram adolescentes que estavam na puberdade, hormônio aqui, então era “quero transar”, sabe? “Quero transar. Talvez eu me descubra bi nessa transa, talvez eu seja pansexual, talvez eu seja bi, talvez eu goste mais do meu amiguinho do que da minha amiguinha.” A gente estava se descobrindo. Do mesmo jeito que a gente estava entendendo os LGBTs, a gente estava fazendo violências, porque a gente estava… A gente vive em uma sociedade violenta, o mundo ensina a gente a não ser fora da caixinha, não ser fora do padrão, então a gente se descobria, mas “poxa, eu não posso descobrir isso porque eu estou fora da caixinha, então eu vou retroceder. Vou voltar, não vou ser.”
É óbvio que a população de lá era bem maior de pessoas cis e heteros. O que vencia lá, o que reinava lá eram pessoas heteros, e o pouco que tinha eram aquelas pessoas que não falavam, não se abriam - se abriam, mas naquele núcleo, para pegar as outras pessoas, para falar: “Olha, tem um gay aqui e é isso, se vocês estiverem disponíveis eu também estou disponível.” Era um Tinder, um Grindr que rolava dentro da escola. Mas [ser] ativista, se colocar em corpo político, não era essa intenção. Ninguém se colocava como: “Sou LGBT e ativista.” Acho que eu fui a primeira pessoa a falar: “Sou uma pessoa LGBT e ativista, então eu vou ser a travesti que vai lutar pelos meus direitos.”
Eu me fudi também nisso, de querer lutar pelos meus direitos, porque eu não poderia ter ficado quietinha. Tinha momentos que eu fazia as coisas, voltava e falava: “Por que eu fiz isso? Estava tão bom lá, sabe?” Eu sempre repensava: “Tenho que fazer mesmo?” Mas eu falei: “Não, tem que ser, eu tenho que lutar.” E aí eu ia, prosseguia e fazia as coisas.
Acho que ser ativista também me ajudou bastante, porque eu era artista dentro da escola, então, mais uma vez, chegava e falava sobre ser travesti em cima do palco, onde ninguém iria me machucar, onde ninguém ia fazer nada, porque ninguém quer sair como errado, ninguém quer sair como a pessoa transfóbica, ninguém quer sair como a pessoa racista. Ninguém quer sair como a pessoa violenta, então ninguém fazia nada, mas quando eu saía era a mesma violência, era no mesmo lugar que me colocavam. Acho que consegui ser ativista por ser artista, então. Estava em cima do palco? Vou falar sobre a travestilidade, vou cantar música de pessoas trans, travestis.
Quando eu comecei a minha transição já tinha a Liniker. Que bom que tinha Liniker, sabe? Liniker também se identificava como uma pessoa não-binária, também era uma mulherona que usava saia e uma barbona, então era confuso para o pessoal. Eu falava: “Nossa, essa mulher! Eu acho que eu vou cantar ela em cima do palco, vou fazer.” Acho que foi nisso que eu me descobri, e o teatro me ajudou bastante, o teatro de bairro, porque a minha professora também era LGBT. Quando eu me descobri trans e comecei essa transição, ela me ajudou bastante. Ela que me apresentou Liniker, ela que me apresentou Karol Conká, ela que me apresentou esse time de pessoas que estavam chegando agora, que eram pessoas diversas, pessoas que estavam lá para abrir mais a minha mente, o meu leque de oportunidades.
Eu vi Liniker e ela tem muitas visualizações no YouTube. Por que eu não posso fazer, por que não posso estar? Acho que foi nessa pegada, nesse lugar que eu entendi que eu poderia ser ativista sim, mas em cima do palco. Depois que eu descesse, nossa, cada um por si e Deus por todos - a louca. (risos) É isso.
(PAUSA)
(01:08:08) P/1 - Você tinha comentado, Elix, a respeito do teatro, e de uma professora que você tinha que era uma professora LGBT, que te deu um superapoio. Queria que você comentasse sobre esse seu período fazendo cursos de teatro, como isso te ajudou, não só a você se formar como artista, mas também em relação a sua aceitação de quem você é.
R - Monique, essa professora, [era] maravilhosa. Quando eu entrei no teatro - entrei com onze anos - eu não me entendia ainda uma pessoa trans, uma travesti, mas eu entendia que tinha alguma coisa diferente.
A Monique não foi minha professora desde o começo. Acabou tendo uma substituição. A primeira foi a Alba Brito, que também é uma grande artista. Ela faz contação de história para crianças e está aí, arrasando sempre. Com ela aprendi um pouco mais sobre algumas linguagens do teatro, como era ser uma artista. A Alba Brito também era cantora - ela não morreu, ela é cantora - me ensinou algumas técnicas vocais, então aprendi bastante com ela, muita coisa. E com a Monique eu aprendi a externalizar essa mulheridade minha. Quando ela me apresentou LIniker, ela falou… A gente tinha temas, [a] cada mês a gente tinha temas, então a gente teve temas como machismo, racismo, LGBTQfobia e intolerância religiosa. A cada bimestre a gente estudava esses temas.
A gente acabou estudando esses temas para formar um espetáculo, e quando chegou na parte LGBT ela focou muito nas pessoas que tipo que tinham um rolê com isso. Ela catou que eu tinha um rolê com isso, ela entendeu que eu tinha alguma coisa diferente lá, e ela me apresentou Liniker. Falou: “Olha, se quiser usar batom usa, ué.” Eu falei: “Tá, mas e os meus pais?” Ela falou: “Então usa aqui. Você quer usar, você acha que aqui é um espaço seguro? Usa aqui, a gente não vai julgar. Depois, quando você quiser sair daqui para algum lugar, você tira.” Eu falei: “Tá bom.”
Eu comecei a usar as coisas dentro do Vivarte, onde eu fazia o curso de teatro. Antes de entrar, passava batom, colocava o sutiã, entrava, fazia tudo; na hora de voltar para casa tirava o sutiã, tirava o batom e ia para casa, toda menininha, a louca - todo menininho, na verdade, né? Eu saía menininha, a louca, e voltava menininho. Foram anos fazendo isso. Eu chegava na escola toda montada e [quando] voltava para casa, tirava o sutiã, tirava a maquiagem. Chegando perto de casa eu começava já a desabotoar o sutiã, tirar tudo, colocar dentro da bolsa, e chegava em casa de boas. Acho que foi por isso que minha mãe não percebeu que eu estava tendo alguma coisa, alguma transição, porque quando eu chegava em casa eu tirava tudo e era uma pessoa cis, e quando eu saía de casa não, eu era uma pessoa trans que me montava inteira.
Minha mãe nunca me via saindo de casa, ela sempre estava trabalhando. Ela saía de casa um pouco antes. Ela se arrumava, arrumava meu irmão e ia para o trabalho; eu ficava deitada mais um pouquinho, depois eu acordava e fazia as coisas, aí colocava as coisas e ia. Quando eu chegava minha mãe já estava lá em casa, eu só tirava e ia dormir, ou ia tomar banho e ia dormir, e isso perdurou por bastante tempo.
Elas foram essenciais para isso, né? Acho que a Alba Brito, para eu entender quem eu era artisticamente; falava: “Nossa, você é grandiosa.” Ela fazia muita música, né? Na verdade, ela é compositora, ela faz bastante música, e ela fazia música para o espetáculo. Ela fez uma música e apresentou para o pessoal, e na parte do refrão era uma pessoa que cantava… Era um rap e tinha uma parte do refrão que era musicada, que era ritmada melodicamente… Tinha uma melodia. Nessa melodia ela falou: “Olha, canta comigo.” Eu comecei a cantar; era isso, me destaquei, a louca! Cheguei, “nanana”, comecei a colocar um monte de melismas, de coisas… Ela falou: “Nossa, que voz bonita é essa! Quem está cantando?” Aí o pessoal: “É ela.” “Nossa, você tem uma voz muito bonita.”
Quando eu comecei a fazer o espetáculo e comecei a ter falas, ela me instruiu. “Pode fazer mais. Você pode fazer isso, fazer aquilo. Faz de tal jeito, faz de tal maneira, esse é o teu solo; faz do jeito que você se sinta confortável, mas que seja grande para as pessoas, seja impactante.”
É muito doido isso que ela fez comigo, ela viu potencial em mim em um lugar, um cenário que era marginal, todo mundo com medo de sair de casa, pensando se vai voltar ou não, em um ambiente onde a cultura não chegava direito, porque, porra, se você vai para a periferia, vai perguntar para as pessoas quem foi já para um teatro? Pouquíssimas pessoas. Ver um artista, nem que fosse de funk, dentro de um teatro? Nunca viu. Era sempre na quebrada, sempre nos bailinhos, bailes funk, e aí a gente traz do nada um teatro pra dentro da comunidade.
Quem vai para o teatro? Quem vai para esses lugares? Quem vai para o centro ver museu? Quem vai para o centro fazer essas coisas? Não, quem vai para o centro é para trabalhar e para voltar para casa acabado e dormir. É isso que se faz no centro, você trabalha e volta para a casa, você produz e volta para casa. Mas, para mim não, ela viu essa oportunidade. “Nossa, você é grandiosa, você vai fazer muita coisa.” Ela viu esse potencial em mim.
A Monique, ela viu de outra forma. Ela viu que eu tinha esse potencial, porque todo mundo já me conhecia, tipo “ela que canta bem, ela que sabe das falas, tudo bonitinho, ela que é artista aqui”, porém ela falou: “Não, tem mais coisa aí. Elix não é só artista, ela é LGBT, ela é preta, ela é irmã, ela é filha, pode ser um dia mãe. Ela não é só artista, ela não só canta bem; ela pode interpretar também uma mãe, uma mulher, ela pode fazer.” Ela que me encorajou a chegar e falar: “Vamos fazer aquela cena?” A gente tinha muito disso de não ter uma pessoa fixa para fazer tal coisa, sabe? Ela falou: “Você não quer fazer a menina que está dentro da fábrica?” “Você não quer fazer a menina que é da umbanda? Tem certeza?” Ela me encorajou.
É óbvio que eu fiz o menino gay, infelizmente. Sei lá, acho que naquela época eu teria feito a menina do candomblé revolucionária, acho que ela já estava pensando: “Faz uma mulher, é a primeira vez…”
Lá era um lugar católico. O CCA de lá… Agora é um CCA, antes não era. Antes era até quinze anos de idade para você fazer o espetáculo, estar dentro do curso, e aí ela falou: “Nossa, é a primeira vez que vai ter uma pessoa dita masculina, um dito homem, que vai interpretar uma mulher”, em uma instituição que é católica, o Instituto Daniel Comboni. Daniel Comboni é um cara católico - não, ele foi, porque eu não o conheci, foi de ‘arrasta para cima’. Mas era uma pessoa católica e que queria trazer sua mensagem através de alguma coisa para a comunidade, que queria espalhar esse amor de Jesus de alguma forma, né? E foi através dessa arte, através do instituto Daniel Comboni, que também dá cursos profissionalizantes para pessoas que não têm oportunidade, que é patrocinado pelo SENAI. Ter um diploma do SENAI para uma pessoa periférica é bastante coisa, que não tem acessos e não tem disponibilidade para estar no SENAI, então eles ajudam bastante, de várias formas.
Ela falou: “E por que você não pode interpretar uma mulher?” Acho que eu não interpretei uma mulher porque tinha medo. Medo do que a minha mãe ia achar de mim, de saia, em cima do palco. Eu fiquei: “Não, ela vai reclamar depois, meu Deus do céu. Meu pai vem, também.” Todo mundo ia, a comunidade… E também pensando: “Nossa, a comunidade inteira vai estar aqui e eu vou estar de saia em cima do palco, tá louca? Não, jamais, aí eu vou sair do palco e vou ser escorraçada de novo, do jeito que eu sempre fui.”
Acho que foi por medo mesmo que eu não fiz, mas ela me encorajava sempre a externalizar essa mulher.
Acho que ela foi também pelas beiradas, até me entender. Quando ela me apresentou Liniker, eu fiquei ‘real’ fissurada na Liniker, sabe? Eu fiquei vendo coisas, vídeos dela, pesquisando coisas da Liniker. Ela falou: “Entendi, estou entendendo onde essa pessoa está, em qual aspecto do LGBT que ela está. Ela está no T.” Acho que isso foi muito importante para eu me entender também.
(01:19:41) P/1 - Você tinha falado sobre você ter se descoberto como artista criança ainda, cantando na igreja. Agora você falou sobre essa questão de uma instituição católica onde você fazia teatro, e hoje em dia a sua religiosidade é de matriz africana. Queria que você comentasse um pouco como é que isso funciona para você.
R - Como funciona?
(01:20:07) P/1 - Como você se conecta com a espiritualidade? É isso que eu quis dizer.
R - Sim, eu me conecto em cima do palco, eu entendi isso, e também nas funções que eu faço. Não estou frequentando muito o terreiro, porque a vida está um pouco corrida, desculpa, mas voltarei, com certeza. Se quiserem me chamar, com certeza irei, mas ultimamente eu estou me conectando mais com as minhas raízes e com o que os meus ancestrais viveram através da minha arte.
Eu tenho uma música que eu lancei, chamada Quilombo. Fiz um experimento - não foi um experimento, foi um curso, na verdade, e nesse curso a gente falava sobre ancestralidade. Não eram pessoas brancas que estavam nesse lugar; eram pessoas pretas, periféricas, então a gente fala sobre ancestralidade de uma forma bem impactante. Pra mim foi onde entendi: “Poxa, eu preciso pesquisar mais, preciso entender de onde eu sou. Preciso entender a minha espiritualidade.” É óbvio que na África eles cultuam muitas religiões, não necessariamente o candomblé e a umbanda, mas o que a gente cultua aqui no Brasil é o candomblé e umbanda, e quimbanda também. Isso é o que é forte aqui. Se eu estou aqui e posso me conectar dessa forma, então vou pesquisar o que a gente vive aqui, a nossa ancestralidade, essa história que veio até aqui, que a gente cultua agora.
Fui pesquisar sobre orixás, fui pesquisar sobre as entidades, como a gente cultua, o que é preceito; fui pesquisando, para entender. Fui pesquisando também terreiros, é óbvio, porque não tem nada melhor do que você pesquisar alguma coisa de matriz africana vivendo, e aí fui em terreiros também para entender como funcionava, como era o passe, entender como isso chegava, entender que o espírito não entra no nosso corpo, mas que ele está do seu lado; não te possuiu, porque não é um demônio, não é… Entender que essa demonização é muito eurocêntrica, ela é branca, e entender que estar nesse lugar de descolonizar mesmo a minha mente… Quando a umbanda e o candomblé chegavam em mim era tipo: “Ora antes de comer o doce do erê, porque vai que tem alguma coisa.” Eu sempre ficava com medo. “Nossa, se eu vou comer vai acontecer o quê? Ai, meu Deus do céu.” Eu sempre orava antes, porque a minha mãe foi colonizada e embranquecida; embranqueceram ela na forma de se portar na sociedade, mas ela é preta retinta, então para ela chegava nesse lugar de… [Eu disse:] “Peguei uma bala no culto de erê. Passei na frente do terreiro e estavam dando as balinhas, aí eu peguei a balinha.” É óbvio que eu não pegava de estranho, porque minha mãe falou para eu nunca pegar de estranho, mas era um lugar onde eles estavam dando balinha. Eu falei: “Gente, se estão dando a balinha eu vou pegar.” Eram pessoas do candomblé. Minha mãe não discriminava ninguém, não discrimina ninguém, porque isso acontece; ela sempre tem essas pessoas em volta dela, mas quando é dentro do lar dela, ela repudia. Quando vinha alguém que era amigo e dava alguma coisa para a gente - roupa, doce, comida, qualquer coisa que fosse de matriz africana, que fosse do candomblé, da umbanda, quimbanda, ela falava: “Antes de vestir dá uma oradinha, antes de comer dá uma oradinha.” E ela faz isso até hoje. O meu padrasto recebeu uma doação de camiseta. Ela falou: “Você não orou, né? E se tiver alguma coisa, e se tiver…” Eu falei: “Gente, como assim ‘se tiver alguma coisa’, tá doida?
Eu indagava essas coisas para minha mãe, indago até hoje, sabe? “Por que a minha religião é do mal, ela é perversa, sabendo que a religião de vocês escravizou, matou, colonizou o Brasil? Justificavam isso através de Jesus, falando que a nossa cor não era lida como ser humano, por conta de pecados de Sodoma e Gomorra a gente nasceu mais escuro?” Porra, como assim? É por conta disso, por conta da nossa cor a gente não era lido como ser humano, então a gente poderia ser escravizado. Era isso que chegava nos nossos ouvidos, eles justificavam a escravização através disso, da religião, ou da ciência, falando que o cérebro dos negros era menor, por isso não eram lidos como seres humanos. Era sempre assim.
Essa eurocentrização e essa religião eurocêntrica sempre vinha para mim como um lugar de violência, inclusive quando você chegava na igreja: “Se você for mulher tem que ter cabelo liso. Se você for mulher preta e for da religião, tem que usar uma saiona, e tem que usar cabelo liso, não pode usar cabelo crespo.” Minha mãe alisou o cabelo desde criança para entrar na igreja, para ser da igreja, entendeu? Porque cabelo crespo e armado era sinônimo de rebeldia, sinônimo de que você não está cumprindo com o combinado. A minha mãe teve muito corte químico, então ela tinha cabelo muito curto; não pode ter cabelo curto, tem que ter cabelo longo, porque quem tem cabelo curto é homem.
A religião evangélica… Não estou falando que [são] todos os evangélicos, não quero generalizar também, não quero falar: “Nossa, a religião evangélica é uma coisa muito prejudicial.” Mas, pra mim, na minha vivência, como uma pessoa preta e travesti, o meu corpo sempre foi visto com pecado, e onde senti acolhimento foi onde meus ancestrais estão, veio de histórias através de navios, escravização. Hoje a gente cultua, a gente faz rolê todo acontecer e não tem medo de se assumir, assumir essa ancestralidade. E também ver que a religião é boa até onde te convém, sabe? Você está comendo um acarajé, está comendo uma feijoada, de domingo; nossa, está suave: “Adoro comer, é gostoso.” Mas quando ela é cultuada através do candomblé ou da umbanda: “Não, ela é do demônio, ela não deve ser cultuada, mas eu como no domingo numa festinha, no churrasco em família no domingo, aí pode. A cachaça não pode ser cultuada, mas quando eu estou na minha cerveja, no meu churrasquinho de final de semana, eu tomo sem problema nenhum.” Farinha, farofa, qualquer… É isso, se apropriar da nossa religião, da nossa cultura, mas demonizar ela a ponto de a gente não poder cultuar; nós, pessoas pretas, que viemos e somos desse lugar, não podemos cultuar, não podemos nem nos aproximar dela, porque é errado ser do candomblé, ser uma pessoa preta do candomblé é do demônio, uma coisa que nem existe no candomblé, na umbanda.
E aí? Você está colocando uma coisa que não é nossa para a gente cultuar, para gente viver? Nunca foi meu, é de vocês, que vieram… Não fui eu que fiz, foram vocês.
A gente se sente culpado, mas não é pra gente, não é nossa culpa. A gente não deveria carregar isso. Acho que eu fui entendendo isso aos poucos, essa ancestralidade, travestilidade ancestral. E também entendo que eu sou uma pessoa preta…. Como que fala quando você… Essa ancestralidade é viva hoje no meu corpo, ela está em mutação, eu estou vivendo ela o tempo todo, sabe? Acho que isso me fez entender que “se você é, então pesquisa. Veja quem são seus reis e suas rainhas, quem são as pessoas que estão no lugar de poder na sua história, quem está no lugar de grandiosidade. Quem são as pessoas que te guiam, quem são as pessoas que estão do seu lado, falando em campo astral, em campo espiritual, não em campo material, físico? Quem são as pessoas que estão ao seu lado?”
Acho que também sou uma pessoa muito sensitiva, então isso abriu mais brecha ainda para entender de onde estão vindo esses lugares, de onde está vindo essa mediunidade que eu tenho. Eu vejo coisas, sinto coisas. “Tá, o que são essas coisas?” Deu mais gás para entender o que era.
É isso, acho que comecei a me conectar através de vivências e de história, para entender quem eu era também. Hoje em dia estou me conectando e entendendo também de onde eu sou.
(01:32:00) P/1 - Eu queria te perguntar… Como uma pessoa que mora na periferia, tem essa questão de que a região central tem, digamos assim, mais… As coisas acontecem, digamos assim - arte, cultura. Você tinha comentado que as pessoas acabam vindo ao centro em geral para trabalhar e voltar. Você sente uma diferença muito grande em ser uma pessoa LGBT em regiões mais centrais da cidade, e em ser no bairro onde você mora?
R - Sim, vejo bastante diferença. No centro eu sou, talvez… Não que eu seja mais acolhida, mas eu talvez seja mais entendida, talvez eles entendam quem eu sou, porque tiveram acesso ao conhecimento. Esse acesso, ele chega no centro, né? O Museu da Diversidade [Sexual] está aí, está aberto para todo mundo ver. Essa informação chega através de internet, as pessoas têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais. Há muitas coisas que chegam aqui; não é em todos os lugares do centro, mas chega, a gente consegue ver. Não é à toa que o centro de São Paulo tem a parada LGBT, que é uma das maiores da América Latina, então é onde a gente se encontra e se entende. Entende que a gente pode viver em sociedade e pode ter uma vida digna. Eu acho que a parada e todas essas coisas que são físicas também, isso dá gás para você pesquisar e entender o que está acontecendo. “Porra, está rolando uma parada LGBT na minha frente, sabe? Eu saio de casa e tem gente andando, por que tem gente andando? Por que tem gente protestando? Pelo quê? Tem um museu com obras de pessoas LGBT; eu quero entrar aí, quero entender o que está acontecendo. Depois que eu vejo essa exposição, eu vou para casa e vou estudar mais.” Dá esse gás para você pesquisar e entender onde você está e quem são essas pessoas; na periferia não tem, sabe? Não tem esse museu, não tem essa parada, não tem esses artistas cantando, não tem. Não tem uma peça de Brenda Lee lá.
Como a gente fala sobre travestilidade se a gente não traz essa arte para lá, ou essa cultura para lá? Tem internet, dá para você pesquisar? Dá, mas que gás que essas pessoas estão tendo para pesquisar? Que motivação é essa? Onde a gente acha motivação para falar: “Olha, sou travesti. Pesquise sobre o que é ser travesti e pessoa trans, e tudo certo. Você vai pesquisando, pesquisando, até você entender tudo, tá?” Não existe isso, não tem essa motivação como tem no centro.
No centro você vê uma bandeirinha, você já… “Entendi, esse lugar apoia pessoas LGBTs.” E por que apoia? Tem esse quesito, mas se você for para a periferia, não tem nenhuma bandeira, não tem nada, não tem um signo. Tem só uma pessoa andando na rua e talvez ela seja. O que ela é? [Vão dizer:] “Não sei, mas ela deve ser de algum lugar dessa sigla aí, LGBTQIAPN+, ABCDEFG, é enorme.” Não é à toa que a minha tia vem para mim e fala: “Você e essas pessoas dessa comunidade aí são todas promíscuas, que chegam e colocam coisa no cu no meio da avenida, no meio de passeata. Eu sei o que acontece nessa comunidade, é promiscuidade, é sexo toda hora, é sexo desprevinido”, sabendo que quem tem mais IST são pessoas héteros, porque não conhecem prevenção e não sabem sobre a prevenção.
Esse acesso não vem, essa motivação também não vem, sabe? Internet a gente tem, a gente tem acesso a canais livres, Globo, SBT, Record, mas a gente não tem motivação, a não ser que [digam:] “Um menino apanhou na escola hoje.” “Por que ele apanhou?” “Porque ele era gay.” “Ai, nossa, que tristeza”, não sei o quê. É sempre nesse lugar: “Nossa, uma pessoa sofreu violência porque era gay, era travesti, era pessoa trans”, “Uma pessoa morreu, porque era pessoa…” Mas morre tanta gente na periferia, morre umas trocentas pessoas por tiro, ou por bala perdida, ou porque estava traficando, ou porque roubou alguma coisa, ou porque nem isso, mas foi confundida, então a gente sempre está passando por isso, e quando a gente liga a TV, o tanto de notícia ruim que aparece, sabe? Quando é uma travesti morta: “Aí, mais uma.”
É entender que esse lugar vende violência para gente, a periferia vem de um lugar de violência, e é uma violência que a gente está acostumado a viver, porque a gente vive todo dia, e isso não motiva ninguém a querer pesquisar nada, não motiva ninguém a querer ver alguma coisa, ver quem nós somos e a comunidade, que é diversa, que tem muita coisa para pesquisar. Se a gente for no Museu da Diversidade, o tanto de coisa legal que tem lá dentro, sabe? [Vão dizer:] “Nossa, eu achava que era só violência.” Não, tem coisa legal, a gente tem revistas que falam sobre isso, a gente tem jornal que fala sobre isso, a gente tem várias coisas que falam sobre a comunidade LGBT. A gente tem Clodovil, que foi um… Foi transfóbico, um pouco machista em algumas questões e um pouco LGBTfóbico, sim, mas naquela época era um símbolo da nossa comunidade. Porra, Nany People está aí também, Silvetty Montilla estava lá, só que estavam lá em um lugar de chacota, um lugar de: “É isso, uma pessoa que faz a gente rir.”
Hoje em dia a gente está ocupando outros lugares. Porra, a Liniker canta, sabe? Ela canta sobre amor, ela é uma travesti que canta sobre amor. Pabllo Vittar está aí, fazendo sucesso, mas ela não é motivo de chacota, ela tem seguidores. A fama dela não foi por motivo de risada, foi porque ela canta e dança e faz tudo no palco. Ela é maravilhosa por quem ela é. Pabllo, Glória [Groove]... As pessoas que estão chegando agora, LGBTs, na comunidade veem como: “A Pabllo quer destruir a família tradicional brasileira.” Vem sempre como algo ruim. No centro, não: “Éla é foda, ela canta, ela dança”. “Gloria Groove [faz sucesso] porque ela tem um registro vocal foda, ela canta, ela dança.” Mas para gente… É igual telefone sem fio: chega no centro, é uma coisa; vai passando de boca em boca, de ouvido ao ouvido e chega na periferia de outra forma, chega como distruição da família tradicional brasileira, como motivo de pedofilia. Vem nesse lugar de pejoração mesmo. “É ruim. Não assista, não veja.”
O que reina bastante lá na comunidade é a religião evangélica. Se você for para um bairro da periferia o que reina é baile de favela, no rolê, tabacaria, barbearia, e igreja; é o que mais você vê, um do lado do outro: igreja, barbearia, cabelereiro, barbearia ou tabacaria. Às vezes tem uma igreja e uma tabacaria do lado, porque é isso, mas não tem… Se eu quiser ir para um museu, eu tenho que sair do meu lugar e ir pro IMS [Instituto Moreira Salles], que fica na Avenida Paulista, sabe? Eu tenho que dar ‘mó’ rolê, tenho que pegar monotrilho, pegar trem, descer na Consolação, andar mais um pouquinho, só para ver o IMS, sabe? [Vão pensar:] “Eu vou pensar em ir só no IMS? Eu não vou pensar em fazer todo esse percurso, quero um lugar que está do lado. Vou descer aqui na rua, tem um bailão, eu vou descer e é isso, eu vou curtir. Tem uma tabacaria do lado, vamos lá?” Vai, anda um pouquinho e chega.
Essa é a motivação que a gente precisa, de ter lugares perto, porque a gente sabe que a gente não consegue chegar nos lugares [que estão] longe, e ter por perto lugares que façam a gente pensar um pouco, façam a gente refletir, tanto a comunidade LGBT… Até mesmo qualquer outra coisa, um stand up, alguma coisa para rir. Eu quero um stand up do lado, não dá. Tem que pegar metrô, trem, avião, barco, para chegar no lugar, só para rir. [Vão dizer:] “Você acha mesmo que eu vou? Não vou, eu tenho preguiça” - isso falando de outras pessoas.
Eu tenho muita disposição e adoro ir, adoro dar rolês loucos, em que eu vá para outros lugares. Eu não ligo não, mas tem gente que não quer. Uma mãe de família, uma mãe solo - ‘mãe de família’ é ótimo, uma mãe que não tem família não faz sentido - uma mãe solo, que cuida de três filhos, vai sair do trabalho para cuidar da casa; vai ter tempo ou disposição para ir? Talvez ela só queira curtir. “O negócio é ali do lado, então eu vou dar uma caminhada e vou para lá. Eu não vou pegar ônibus, metrô para [ir]”.
É essa motivação que eu acho que a gente precisa ter. Lugares por perto, lugares que passam informação, mas que sejam perto, para que a gente não precise recorrer a lugares [que estão] longe, ou atravessar horrores os lugares para chegar em um lugar só para você ver, só para você ter informação, sabe? A informação tem que ser por perto, tem que ser palpável, também. Eu odeio quando ela vem de uma forma… Não que eu odeie, mas ela tem que ser informal, tem que estar nas redes sociais, mas também ela tem que ser palpável, acredito que ela tem que estar lá. Pra mim é isso, eu acredito que a informação tem que ser palpável, porque eu gosto de coisas palpáveis. É a minha opinião.
(1:44:45) P/1 - Você tinha comentado sobre os lugares que você gosta de ir, enfim, de que você gosta de circular pela cidade. Você também citou vários artistas LGBT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas influências - quem te inspira e os lugares que você mais gosta de frequentar em São Paulo.
R - Lugares que eu mais gosto de frequentar em São Paulo.. Vamos pelos artistas, que é mais fácil. Artistas que me inspiram: Liniker, com certeza, Beyoncé… Beyoncé é a primeira pra mim. Eu conheci a Beyoncé novinha, vi que ela canta, dança, faz Single Ladies, e não tem que só… Nossa, para mim ela é inspiração, Beyoncé é a primeira. Liniker, com certeza, e Elza Soares - nossa, quando eu conheci e falaram que eu parecia com a Elza eu falei: “Não, tenho que pesquisar essa mulher, não é possível!” Pesquisei e falei: “Nossa, ela é foda.”
São essas três pessoas que me inspiram bastante, três artistas. Quais foram as outras perguntas?
(1:45:59) P/1 - Os lugares que você mais gosta de frequentar em São Paulo.
R - A casa do meu namorado é um lugar de São Paulo que eu adoro frequentar. Amo frequentar a casa do meu namorado, porque, né? Está perto de mim, mas eu gosto muito.
A gente está indo muito no Clube Barbixas, não sei se você conhece.
(01:46:21) P/1 - Não, onde fica?
R - Fica na… Perto da Peixoto, na rua Augusta.
P/1 - [Rua] Peixoto Gomide?
R - Isso. Eu gosto muito, a gente está indo bastante lá. É um clube de comédia. A gente foi no Hamsa Comédia e acho que a gente vai começar a frequentar também, porque lá é muito legal; fica lá em Itaquera e é muito legal.
Deixa eu ver… Eu adoro frequentar lugares com cinema, shoppings com cinemas, não importa qual seja o shopping, mas eu gosto. A gente já foi para o [Shopping] Aricanduva, para o centro… Esses lugares assim, eu gosto de frequentar. E a gente vai muito no IMS - eu estou falando ‘a gente’ porque o meu namorado e eu vamos para muitos desses lugares. Mas a gente também arrisca ir para outros lugares também - Roller Jam, a gente foi esses dias patinar. Eu nunca patinei na minha vida, foi a primeira vez. Falei: “Gente, caramba, eu gosto disso. Estou gostando disso, talvez eu volte.”
Eu gosto de explorar essas coisas, sabe? Se eu estou em algum lugar, eu gosto de ver. Gosto de ver teatro de perto, gosto de ver o que esse lugar me oferece como entretenimento, como lugar de lazer. O que eu mais gosto de frequentar é clube de comédia, shoppings que tenham cinema; às vezes um parquezinho é legal.
Eu gosto de frequentar mais lugares de lazer, porque é o que me deixa mais tranquila, mais relaxada. Acho que é isso.
(01:48:08) P/1 - Antes de entrar com a próxima pergunta, que seria sobre a peça/ que você está fazendo, queria te perguntar uma coisa antes, que é a respeito da pandemia. Como isso foi pessoalmente para você?
R - Surto atrás de… A louca. Surto atrás de surto. Surtei bastante na pandemia, tive muitas crises de ansiedade e de pânico, de não conseguir sair de casa, de não conseguir colocar o pé fora de casa que eu já tinha tremedeira, já começava a ter falta de ar, já começava a me sentir mal, e querer voltar para casa, ficar em casa. Não sei, tive um pouquinho de depressão também, de não querer sair do quarto, não ver gente. Eu não queria ver gente, não queria estar com as pessoas, porque eu achava que isso poderia ser motivo de pegar covid e morrer, ou algo do tipo.
Eu sempre tive medo da morte, sei que ela vai chegar um dia, mas sempre tive medo da morte acontecer enquanto eu não realizasse as coisas que eu queria, todos os meus sonhos. Eu sempre ficava com esse medo. Essas crises de pânico vinham quando eu entendia que eu estava em algum lugar de risco e que eu poderia morrer naquele lugar, aí eu começava a entrar em pânico mesmo, às vezes eu até desmaiava, de tanto pânico que eu sentia.
A pandemia foi isso para mim, surto atrás de surto, choro atrás de choro, mas também foi um lugar de entender como trabalhar em home office. Eu fiz muita coisa on-line na pandemia - entrevistas de emprego, peças, fiz tudo on-line. Tudo que era on-line eu estava me enfiando. Foi onde eu aprendi a trabalhar em casa, entendi como posso fazer para ter uma captação legal de alguma coisa. Preciso filmar alguma coisa, mas não tenho câmera, tenho celular. Então tá, como vou fazer isso com celular? Como posso fazer essas coisas em casa, como gravar alguma coisa em casa.
Eu gravei meu EP dentro de casa, fiz minhas músicas dentro de casa. É óbvio que depois eu fui pro estúdio gravar, quando fui lançar, eu gravei no estúdio, mas fiz tudo dentro de casa: captar áudio, escrever a música. Aprendi a me virar dentro de casa, e quando eu saí, já estava preparada para fazer isso fora e dentro de casa. É pra fazer alguma coisa? Eu só tenho esse tempo? Tá, então como eu posso fazer isso, adiantar isso de alguma forma?
Aprendi a editar música, a produzir música dentro de casa, então eu abro meu BandLab, qualquer outra coisa de música que faça minha imaginação fluir e aí eu vou indo, vou fazendo beats, vou juntando uma coisa na outra. Pego uma bateria virtual, pego um violão virtual, começo a fazer as notas; quando vou ver, já fiz uma música.
Foi assim que eu consegui concluir meu EP, mas pra lançar demorou acho que uns três anos. A pandemia inteira eu fiquei produzindo um EP com quatro músicas. Eu consegui me desenvolver enquanto artista, a me adaptar em lugares, entender que não importa onde eu esteja, vou conseguir entregar um bom material, e também entender que era um lugar de risco e que poderia surtar a qualquer momento. Mas, eu acho que ela me ajudou também a não fazer um surto imenso, ou entrar em pânico de uma forma que eu não conseguisse voltar. Acho que eu conseguia voltar por conta disso, por conta da arte; ela me trazia de volta para essa realidade, me trazia de volta ao meu estado de sobriedade, talvez, de entender onde eu estou, qual é meu lugar. Eu saía muito dessa realidade, eu começava a entrar no lúdico, não entender onde eu estava; eu tinha que apalpar as coisas para eu entender onde eu estava, porque eu tinha essa disso… Como que é?
P/1 - Dissociação.
R - Dissociação de lugar. Começava a entrar em um lugar onde eu não me via, não me sentia, aí eu tinha que começar a apalpar, e é isso que me trazia de volta, me trazia à realidade. Falava: “Olha, você está aqui, você está bem. Termina o seu trabalho, termina o que você está fazendo. Vai dar tudo certo.” Acho que isso me ajudou bastante.
Psicologia on-line eu tive bem pouca, acho que era por isso que eu surtava bastante, porque eu não tinha muita terapia on-line, então tipo. Eu fazia acho que uns três, quatro dias e parava, porque não dava. Eu não tinha lugar em casa para… Eu não tinha um lugar silencioso onde eu pudesse conversar com a pessoa, não tinha um quarto próprio onde eu pudesse fechar a porta e conversar com a pessoa normalmente e depois sair, então para mim foi um pouco difícil a terapia, porque eu não tinha espaço.
Hoje em dia eu moro com mais gente, mas antigamente eu morava com meus dois irmãos e minha mãe, essas três pessoas dentro de casa. Hoje em dia eu moro com mais pessoas, porque tem ainda os filhos do meu padrasto e o meu padrasto, então aumentou, são seis, sete, oito pessoas dentro de casa. Foi nessa experiência que eu vivi a pandemia.
(01:54:43) P/1 - Então a gente vai para as perguntas finais.
R - Tudo bem.
(01:54:46) P/1 - São perguntas um pouco mais reflexivas. Primeiramente, quais são as coisas mais importantes para você hoje em dia?
R - Hoje em dia o mais importante é me manter viva, sobrevivendo, óbvio, mas é me manter viva, com certeza, e trabalhar para eu ter o que eu mais almejo, para eu ser a travesti que eu almejo ser. Acho que essas coisas são essenciais para mim.
(01:55:19) P/1 - E quais são os seus sonhos para o futuro?
R - Ai, meu Deus. Se eu passar de 35 anos… A louca (risos). Porque a expectativa de vida de uma pessoa trans [é de] 35 anos, de pessoas trans pretas é de trinta anos, mas quero estar bem velhinha, aposentada e podendo curtir todos os frutos do império que eu construí. Querer estar nesse lugar de paz e tranquilidade. “Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer.” Poder desfrutar de tudo que eu vivi. Mas acho que eu tenho que construir primeiro isso, então estou construindo isso no hoje para no futuro ter alguma coisa, mas que seja abundante. Que seja sempre abundante o que eu faça, que possa chegar em várias pessoas, que possa comunicar a várias pessoas, e que seja bonito de ver. Que seja gratificante de fazer também, porque se eu fizer alguma coisa que não seja gratificante para mim, aí eu estou no lugar errado, no momento errado, na hora errada, fazendo tudo errado, aí eu tenho que parar e fazer tudo de novo.
(PAUSA)
(01:56:33) P/1 - A última pergunta tinha sido os sonhos que você tem para o futuro.
R - Isso, é sobre não estar estacionada em um lugar onde eu tenha que sobreviver, que eu possa estar em um lugar mais tranquilo mesmo, onde eu possa viver a minha vida de uma forma leve, e colhendo os frutos do império que eu construí. Eu espero construir um império bem grande, uma coisa bem gostosa mesmo. E também acho que estar envolta das pessoas que eu amo. Quero ter no futuro, meus filhos, filhas e filhes, e poder desfrutar disso, sabe? Com meu namorado também, se ele não partir antes, a louca… Brincadeira.
(01:57:26) P/1 - Eu queria que você falasse um pouco sobre esse musical que você está fazendo sobre a Brenda Lee - como aconteceu, como vocês começaram.
R - Brenda Lee é um musical da persona, da travesti Brenda Lee, que foi a precursora da saúde pública para pessoas LGBTs, mas principalmente para pessoas travestis e pessoas trans que viviam com HIV e AIDS no nosso país. Ela tinha uma casa de acolhimento para essas pessoas - antes não era, antes era um lugar onde ela acolhia só as travestis, e cuidava delas, e aí acabou virando um lugar onde se cuidava de HIV e AIDS e ela apelidou… Teve uma entrevista que ela se recusou a dar, e falava que era o “Palácio das Bruxas”. Lá era “Palácio das Bruxas" porque só tinha gente feia; ela pegou essa ofensa e acabou virando um “Palácio das Princesas”, por ela, né? Ela, travesti empoderada, não tem medo de nada; duas coisas que ela não é, é cis e obrigada. Ela entendeu que era isso, e junto com o doutor, acho que é Paulo Roberto - desculpa, gente, esqueci o nome do doutor - mas com a ajuda do doutor eles fundaram essa casa de acolhida para pessoas LGBTs para travestis e pessoa trans, e travestis que vivam com HIV e AIDS.
Essa peça decorre através disso. Temos seis pessoas, sete com a musicista, que é uma baixista travesti... Peraí, não, são seis travestis, cinco no palco e uma que é baixista, e a Brenda Lee.
Temos quatro princesas, que vão falar sobre as histórias delas, sobre as vivências delas como travestis, como uma pessoa trans na sociedade, e eu sou uma dessas princesas. Sou a Isabelle La Bête, que é uma pessoa muito centrada, virginiana, com certeza, que quer sempre dar o melhor para a família dela, para a mãe dela. Mesmo sendo expulsa de casa ela quer cuidar da mãe, ela quer cuidar desse lar que ela construiu - ela comprou uma casa e infelizmente o padrasto expulsou ela, mas ela procura esse afeto na mãe. É o braço direito da Brenda Lee, que faz as contas de casa, que cuida da contabilidade, porque ela fez curso de contabilidade, então ela cuida do dinheiro que vai e volta da casa; ela é a pessoa que [diz:] “Tem conta para pagar, tem coisa para fazer”, sabe? Ela está lá com o caderninho, anotando sempre, [vendo] o que precisa e não precisa na casa.
E eu faço essa personagem, o braço direito de Brenda Lee.
Esse convite veio através da… Ele veio duas vezes. Da primeira vez ele veio através de uma indicação de uma jornalista da Folha de São Paulo. Ela falou: “Olha, está rolando , vai rolar uma audição. Se você quiser ir, eu te indico lá e você vai.” Eu falei: “Tá bom.” Não quiseram que isso virasse uma coisa pública, então fizeram entre eles, aí ela falou: “Se você quiser eu indico.”
A outra atriz viajou…. Não sei o que aconteceu. Cheguei lá para fazer a audição, éramos eu e mais duas meninas. A gente fez a audição e quem passou foi outra menina, que se chama Rafa Bibiano. Ela fez lindamente, com certeza, entregou horrores. Acabou tendo um rolê e eles falaram: “Está abrindo de novo uma audição”, mas em vez de ser uma pessoa para indicar, veio a própria produção e falou: “Você quer participar?” Eu falei: “Quero.”
Comecei a fazer, comecei a pegar a peça. Peguei em duas semanas a peça toda, de duas horas e meia. Eles falaram: “Infelizmente, só tem duas semanas para você pegar [o texto]”. Eu falei: “Não, eu consigo, eu vou fazer.” Fui de corpo e alma para essa peça.
No começo eu era tipo uma Isabelle la Bête mais timidazinha, porque eu estava chegando. Hoje em dia eu vejo que é uma Isabelle La Bête mais construída, mais formada, mais madura. Eu vejo, consigo perceber o quanto eu evoluí da minha primeira apresentação até agora, o quanto estou mais madura - essa personagem está mais madura.
Foi assim que eu consegui entrar no Palácio das Princesas e consegui ter esse papel, que é muito importante para mim e vai ser para caramba, até o final da minha vida, porque é um musical com seis travestis e que é o mais premiado de São Paulo. Ele ganhou todos os prêmios em que foi indicado.
É isso, entender que a gente está tendo destaque, a gente está chegando, mas a gente está chegando bem assim, e estou nesse elenco. Eu estou em um lugar importante, junto com pessoas importantes. A Verônica, que é a atriz principal, ganhou o prêmio Shell de melhor atriz, sabe? Porra, o prêmio Shell é dificilimo de ganhar, só os fodas dos fodas estão nesse lugar! Ter uma travesti, a primeira travesti a ganhar o prêmio Shell!
Por que não teve mais - é óbvio que a gente não quer ser a primeira, né? A gente nunca quer ser a precursora, porque a gente entende que não teve antes e que esse lugar precisava ser ocupado por alguém também. Precisava ter isso agora, no século XXI? Era pra ter antes, sabe? Era para gente ter uma ‘transcestral’ que ganhou o prêmio Shell, mas fico muito feliz também que a gente ganhou. Fico muito feliz, mas poderia ter sido bem antes, a gente poderia ter essa visibilidade bem antes.
Eu fico muito feliz de estar nesse musical, real.
(02:04:57) P/1 - Penúltima pergunta: como é o seu dia a dia hoje? Além da peça, o que você está fazendo?
R - Além da peça, eu estava em outro musical também chamado Leda Azeda, que era um musical infantil, onde eu fazia a Calmaria, porque… Não sei (risos). É porque também no elenco só tem pessoas LGBTs, não tem… Só tem corpos dissidentes, LGBTs, gordos, pretos, e assim por diante. A nossa diretora é uma travesti, Lua Lucas, e todos os personagens são LGBTs pretos, ou gordos, ou periféricos. Tem alguma dissidência que nos destaca da sociedade, ou faz a gente se destacar na sociedade, né?
Eu faço a parte do backing vocal, sou uma das backing vocals. Eu faço a Calmaria, tem a Barulho e tem a Confusão; eu sou a que media o conflito dela com Leda Azeda. Leda Azeda é uma menina muito azeda, que não perdoa ninguém, que xinga, morde, briga, mas que encontra uma fada chamada Fada Ada, que ajuda ela a encontrar uma doçura na sua vida. Eu faço uma das backing vocals para fazer essa passagem de… Tipo Hércules, sabe? Hércules quando tem aquelas backing vocals que fazem a passagem de tempo e depois volta para a realidade.
Nossa, foi incrível fazer. Agora não está mais em cartaz, talvez volte ano que vem, mas esse ano não está mais em cartaz.
O que mais eu faço… Estou produzindo também outro EP, vem coisa por aí!
Acho que eu estou produzindo bastante, muita coisa, não só em conjunto com o grupo de teatro, mas também sozinha, o meu rolê solo, fazendo as coisas aos poucos - pra mim sempre é aos poucos. Sempre fazendo as coisas com calma, com tranquilidade, para não extrapolar.
Estou com um grupo de cantoras chamadas GYX, que é um grupo de três travestis, eu, Gabi e Yris. A gente chama de girl group, uma girl band. A gente canta músicas de outras pessoas; a gente não tem autorais ainda, mas teremos. A gente é tipo um Little Mix da vida, só que contando que nós somos três travestis.
A gente vai se apresentar na parada LGBT de São Bernardo do Campo, no dia dez de setembro. A gente fez algumas apresentações… A nossa primeira apresentação, você sabe, amor, quando foi? [pergunta para o namorado, Thales]. Não, acho que foi mês passado ou mês retrasado, foi? Mês passado?
A gente fez mês passado uma apresentação, nós três, e a gente vai fazer de novo agora, na parada LGBT. A gente está tendo bastante visibilidade, estou gostando bastante disso, porque a gente vai estar no mesmo lugar que Pepita, no mesmo palco que Pepita, Boombeat, Márcia Pantera, então estou amando isso. Sou muito fã delas e vou estar no mesmo palco que elas, no mesmo camarim. Estou tão feliz com isso! Estamos tendo visibilidade de projeto.
Acho que é isso.
(02:09:03) P/1 - Desculpa, eu não tinha entendido o nome do girl group.
R - GYX
P/1 - GYX? Tá.
R - G-Y-X, de Gabriela, Yris e Elix. Tem a primeira letra do nome das duas e a última letra do meu nome.
(02:09:19) P/1 - Entendi. A última pergunta, então: o que você achou de contar um pouquinho para gente da sua vida hoje?
R - Eu achei legal, porque tem gente que quer me ouvir. Nossa, eu nunca achei que teria alguém que [diria:] “Nossa, me interessei por ela, vou chamar para vir fazer uma entrevista.” Eu falei: “Gente, quem é que está querendo me ouvir, ouvir minha história?”
É óbvio que é uma história dissidente, porque eu sou uma pessoa - de novo - travesti, preta e periférica, então é uma história que não vai ser convencional, uma história que não é repetitiva, ou que todo mundo já viveu. Eu não sabia que teria gente que queria ouvir, que quer ouvir, que quer saber sobre minha vivência como artista, como… Porque eu acho que os artistas se autossabotam, com certeza. Eu me autossaboto muito, nunca acredito que a minha arte está chegando em algum lugar foda, sabe?
Tem pessoas que me puxam para realidade e falam: “Olha isso aqui, olha o que você está fazendo, onde você está chegando. Meu, você está no musical mais premiado, sabe? Por que você está falando aí que não é boa?” Meu namorado me diz isso: “Como assim, você não é boa? Olha o que você está fazendo, olha onde você está. Olha onde você está chegando.”
Acho que participar da entrevista me deu mais um ‘cliquezinho’ na cabeça. “Nossa, eles estão aqui, estão querendo ouvir.”
Pra mim foi muito gostoso contar essa história, tocou em lugares que… Nossa, eu falei: “Gente, eu estou indo em algum lugar aqui.” Teve gatilhos, teve contações de histórias. Acessou lugares que eu não acesso muito, porque é um lugar que… Talvez não me atormente, mas não quero tocar, porque talvez me machuque de alguma forma, então: “Tá, não quero mais tocar aí”. Estar nessa entrevista me fez repensar e falar essa história de outra forma, de outro lugar, e eu amei.
Eu amei. Bem sucinta, a louca. (risos)
(02:12:01) P/1 - Em nome do Museu da Pessoa e do Museu da Diversidade Sexual, a gente agradece muito a conversa de hoje.
R - Eu que agradeço.
Recolher.jpg)






.jpg)






.jpg)
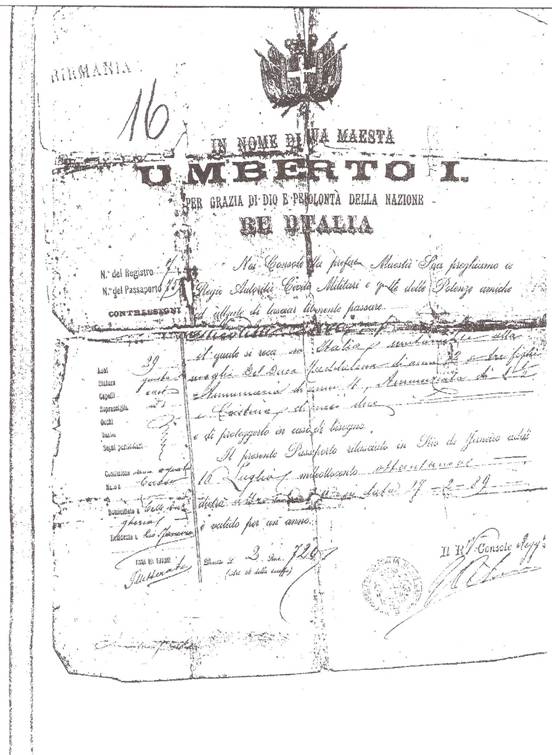




.jpg)