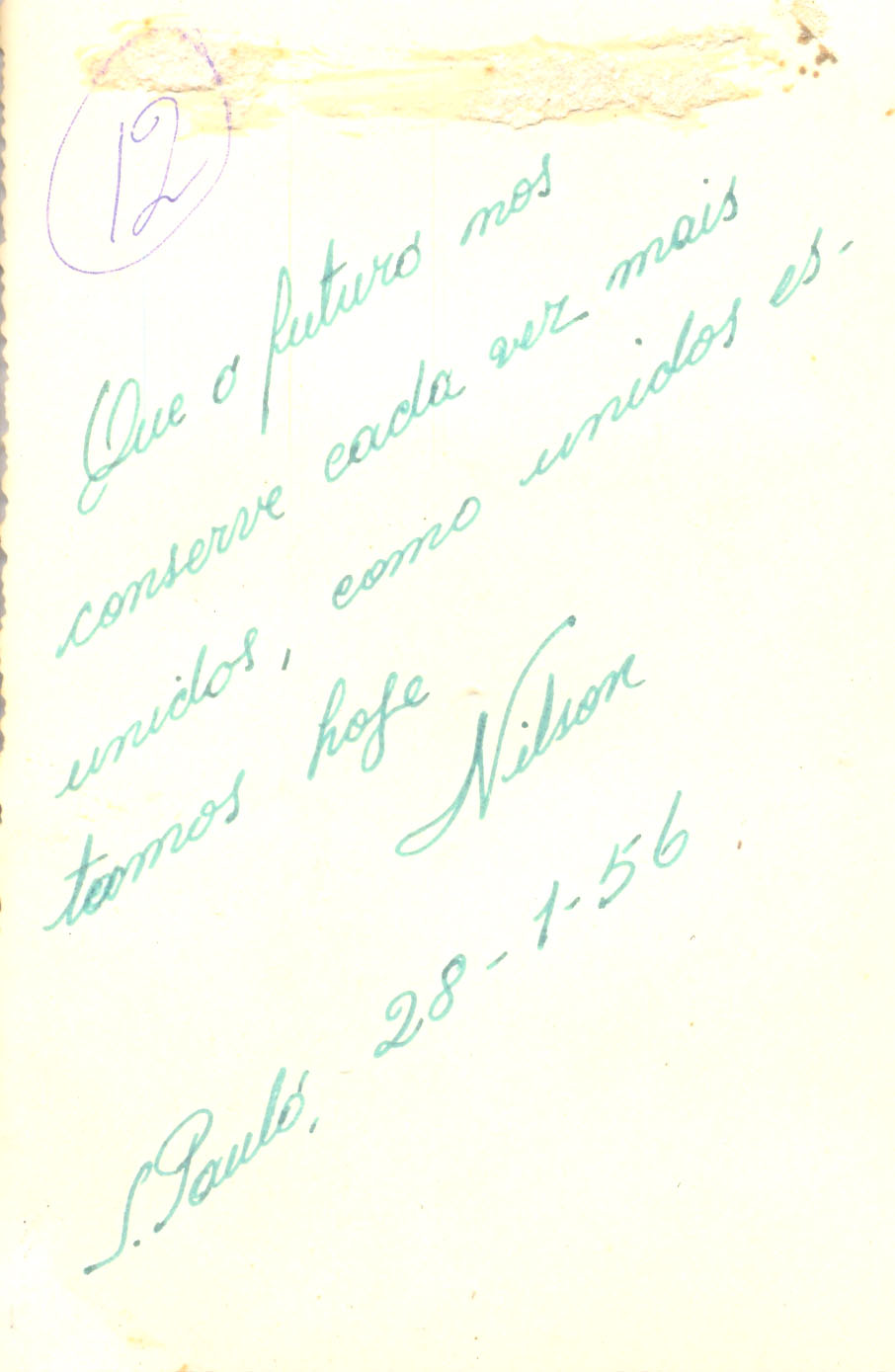Projeto Ponto de Cultura/Museu Aberto
Depoimento de Maria Apparecida Urbano
Entrevistada por Damaris do Carmo e Kelly Garrafa
São Paulo, 21/07/2007
Realização: Museu da Pessoa
Entrevista PC_MA_HV035
Transcrito por Claudia Lucena
Revisado por Viviane Aguiar
Publicado em 10/10/2012
P/1 – Bom dia, Dona Apparecida.
R – Bom dia.
P/1 – Eu gostaria que a senhora falasse o seu nome completo, local e data de nascimento.
R – É Maria Apparecida Urbano, nasci na cidade de Araraquara, interior de São Paulo.
P/1 – Em que ano?
R – 1934.
P/1 – Qual o nome dos pais?
R – Meu pai, Luís Colombo, minha mãe, Maria Aparecida Ferraz Colombo.
P/1 – E dos avós paternos?
R – Do meu avô é João Colombo e da minha avó, Ursulina.
P/1 – E dos avós maternos?
R – Elidia Campagnone e o avô é Benedito Bento Ferraz.
P/1 – Qual que era a atividade profissional dos pais da senhora?
R – Meu pai teve diversas atividades. Uma, quando eu nasci, ele era gerente do Grande Hotel de Araraquara. E nós tivemos uma fase, logo depois que eu nasci, o meu pai ganhou na loteria federal o primeiro prêmio. Com tanto dinheiro na mão, seria como o grande prêmio hoje da Sena, mas, com pouca orientação, naquele tempo não tinha bancos para se colocar, para ter juros. Com esse dinheiro, ele saiu da gerência do Grande Hotel e foi trabalhar com café. Exatamente quando ele quase colocou toda essa fortuna no café, veio a queima do café no governo do Getúlio Vargas, e todo o dinheiro foi por água abaixo. Depois disso, nós viemos para São Paulo, viemos morar em São Paulo, já com quase nada de dinheiro. Então, nós tivemos uma infância muito difícil, a vida deles muito difícil, aquele tempo não era fácil emprego. Foi também uma época depois de anos, alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. Havia muita dificuldade aqui em São Paulo para empregos, nós tivemos uma vida um pouco apertada.
P/1 – E a atividade da mãe da senhora?
R – Ela sempre foi do lar. Era costureira, mas do lar.
P/1 – E a atividade dos avós paternos?
R – Eles vieram como imigrantes, como todos os meus quatro avós, eram todos italianos. Como imigrantes, foram trabalhar primeiro em alguma fazenda, depois, em algum espaço, compraram um sítio – isso na parte da minha mãe. Compraram um sítio e ali tiveram 11 filhos. Como também da parte do meu pai, também 11 filhos, e a vida foi mais a lavoura mesmo.
P/1 – E irmãos, a senhora tem irmãos?
R – Eu sou filha única.
P/1 – Eu gostaria que a senhora descrevesse a sua infância, o local, a rua.
R – Nós viemos para São Paulo eu devia ter cinco anos de idade. Fomos morar no Alto do Pari, entre Canindé e Alto do Pari. A minha infância foi sempre muito só, filha única. Aos sete anos, a minha mãe tentou trabalhar um tempo, também era difícil, como costureira ali na José Paulino, na Rua José Paulino. E eu fui para o colégio semi-internato, entrava às sete horas da manhã e saía às cinco horas da tarde. Era um colégio de freiras, o Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus, ali no Alto do Pari, onde eu fiz todo o meu primário. As freiras eram muito amigas, sabiam da minha situação como filha única, gostavam muito de mim. Eu tive algumas formas de trabalho, porque nós tínhamos meio dia de aulas normais e meio, na parte da tarde, nós fazíamos desenhos e bordados e, com isso, foi o meu primeiro caminho para as artes manuais.
P/1 – Qual a lembrança que a senhora tem da rua, da casa? Como é que era nessa época o Canindé, o Pari?
R – O Brás era um bairro maravilhoso, era uma coisa fora de série, todo mundo era muito amigo, as ruas todas cheias de árvores. Nós voltávamos da escola, quem trabalhava também, geralmente sempre a essa hora, cinco, seis horas, jantávamos muito cedo e ficávamos sentados na rua, nas calçadas. Por exemplo, na festa de Santo Antônio, que ali tem a Igreja Santo Antônio do Pari, era uma animação tremenda. Todas as casas costumavam, durante o ano, guardar madeiras, aquelas caixas de madeira de feira, todo mundo ajuntava e, quando chegava nessa festa junina, nós colocávamos na rua. Cada casa fazia a sua fogueira, juntava duas, três casas para ter uma fogueira maior. E ali nós nos divertíamos muito, a criançada aproveitava, pulava amarelinha, pulava corda, e fazíamos pipoca. São coisas muito simples porque, naquela época, não se tinha muito luxo, as famílias eram mesmo de classe média para pobre. A classe rica era de poucas pessoas que existiam no bairro. E o Brás era muito animado. Tirando essa época, era época de Carnaval também, alegria geral, porque o Brás, ali entre Alto do Pari e o Brás, eram bairros de imigrantes, imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, gente muito alegre, e gostavam de cantar, de brincar. Época de Carnaval, meses antes do Carnaval, todo mundo se preparava para a fantasia, principalmente para a garotada. Toda a garotada tinha a sua fantasia feita em casa por mãe, pela avó, e não tinha aquela inibição de sair fantasiado na rua, a gente não via a hora que chegasse aquela semana para botar a fantasia. Todos os dias, a gente ia e ficava na rua, ia para a casa dos vizinhos e exibia a sua fantasia para o amigo que morava mais longe. E o Carnaval era na Avenida Rangel Pestana, Celso Garcia, Largo da Concórdia e as ruas ali por perto.
P/1 – Como é que eram as casas, as construções?
R – Muito simples, sempre casas. Começava com um quarto na frente, geralmente a sala era no meio da casa, e existiam também muitas moradias tipo cortiço. Eram casas compridas que sublocavam quartos, ou então tinham uma entrada do lado, e o proprietário fazia quartos e eram alugados. Eram os chamados cortiços, onde tinha um tanque para cinco, seis famílias lavarem roupa, um ou dois banheiros para todo esse pessoal. Era uma época difícil, mas ninguém se queixava, todo mundo trabalhava, não tinha o luxo que se tem hoje. Por exemplo, comprava-se um sapato uma vez por ano, na época de Natal. Sapato da escola também era uma vez por ano, o pezinho tinha que ficar comportado o ano todo. Não tinha de trocar sapato a cada dois, três meses, como a criançada hoje costuma fazer. Naquele tempo, não, o que nós comprávamos era para ser usado mesmo, inclusive roupa, se usava até o final mesmo.
P/1 – E as brincadeiras de infância da senhora?
R – Ah, eu não tanto porque, como eu era filha única, minha mãe me prendia muito dentro de casa, mas eu via a criançada, mesmo no colégio. No colégio, a gente brincava muito, era de amarelinha, de pular corda, fazia roda com um lenço atrás, eram as brincadeiras mais comuns da época.
P/1 – Como é que era o dia a dia na casa da senhora?
R – Quando eu era criança, nós pulávamos muito cedo, e eu ia embora para o colégio, entrava às sete horas. O colégio, o primeiro colégio que foi do meu primeiro ano foi na Rua Miller e, como eu morava na rua, ali era, puxa, até esqueci o nome da rua agora, era uma paralela à Oriente, era pertinho do colégio. Depois, o colégio mudou lá para o Alto do Pari, eu tinha que andar acho que uns dez quarteirões para chegar ao colégio. Então, de manhã, a gente corria um pouquinho. O nome da rua era Júlio Ribeiro, em que eu morava. Na Júlio Ribeiro, eu morei muito tempo e, da Júlio Ribeiro, até chegar ao colégio, que era uma travessa da, puxa vida, a memória está falhando (risos). Mas era bem depois da igreja, uma travessinha depois da igreja, da Igreja de Santo Antônio do Pari.
P/1 – A senhora estava falando do dia a dia. A senhora saía cedo para ir à escola. E os pais?
R – E meu pai trabalhava. Aquele tempo começou a surgir o plástico, as peças feitas com plástico, as primeiras que saíram até eram tomadas elétricas, aquelas para colocar lâmpada, não me lembro mais o nome, está tão ultrapassado. E o meu pai foi trabalhar em uma fábrica, a fábrica chamava Balila, eram os primeiros plásticos, era de alemães. E o meu pai também era muito delicado, muito comportado, fez muita amizade com os donos, e eles passaram toda a química para o meu pai e o meu pai começou a tomar conta da fábrica. Tanto é que ele era gerente químico da fábrica, e começou a surgir mais novidades de plástico. Eu me lembro bem que existia um plástico – que hoje nem sei se tem museu do plástico e isso é alguma peça do museu –, no meio dessa massa plástica que compõe, era um tipo de umas bolinhas que depois, na prensagem, ele virava uma peça única, se colocava tecido, fiapos de tecido. Eu devo ter até alguma peça ainda na minha casa, na casa da minha mãe, dessa época, que era superinteressante porque o plástico caía no chão e não quebrava. Porque, no começo, o plástico era quebrável, hoje não, hoje nós temos. E o meu pai trabalhou nessa fábrica também muitos anos, e, na época da guerra, Getúlio Vargas deu a entender que iria mandar todos os estrangeiros para voltar para as suas terras, isso foi um alerta somente, principalmente os alemães, e, quando aconteceu isso, esses donos das fábricas chamaram o meu pai e pediram para que ele não desse para ninguém a química deles, porque, se um dia a guerra terminasse, eles voltariam para o Brasil e continuariam a fabricação do plástico. E o meu pai jurou, fez um juramento, e de fato ele nunca deu para ninguém. Esses primeiros plásticos, que eram feitos com pano no meio, não voltaram a ter, a existir nunca mais no Brasil. E depois as outras químicas, a própria indústria, depois da guerra, foi melhorando, e vieram outras pessoas, mas esse alemães de fato não voltaram mais e o meu pai também perdeu o emprego ali.
P/1 – E essas pessoas dessa época, eles trabalhavam onde? Os vizinhos, onde que eles trabalhavam, em fábricas?
R – Em fábricas. Tinha muita tecelagem ali no Brás, onde as mulheres trabalhavam, a maioria das mulheres trabalhava em fábrica, os homens também trabalhavam, não em tecelagem, mas em máquinas, mais na mecânica, na parte mecânica. E o meu pai, depois que saiu da fábrica, ele foi trabalhar com os meus tios que tinham padaria. Tinham dois, três tios que tinham padaria ali no bairro. Um era na Rua Miller, outra era na Rua Maria Marcolina e o outro era na Rua Joli. Ele trabalhava um pouco na padaria de cada irmão, e assim foi a vida dele.
P/1 – Eu gostaria que a senhora contasse um pouco do estudo, da escola, que a senhora já iniciou contando um pouco.
R – Eu, como eu te falei, era colégio de freira, numa orientação, numa disciplina super-rígida. Escola antigamente era completamente diferente de hoje, você entrava numa sala de aula, você não podia falar uma palavra. A não ser que a professora te chamasse, era silêncio absoluto, ninguém saía do lugar. Quando se pegava uma caneta, se tomava muito cuidado para não ter ruídos porque a irmã estava sempre de olho. Tinha, inclusive, uma nota de comportamento: se a tua nota fosse abaixo de oito, teus pais eram chamados para falar que você tava, era indisciplina. E havia muito castigo, qualquer coisa que você fazia de errado, você ficava de castigo. A orientação, como era colégio de freira, também era super-rígida, nós estudávamos bem umas três horas por dia sobre religião, coisa que as crianças de hoje já não têm mais, que eu acho que faz falta também, porque a parte espiritual da criança que é feita quando pequena fica para a vida toda. Eu acho que isso era uma parte muito importante. Mas nós tínhamos a hora de recreio. Eu, por exemplo, a nossa, minha sala de aula era de 22 crianças somente, e todas tinham mais irmãos, eram famílias mais numerosas, minha família era muito pequena. E, na época de férias, a minha mãe trabalhou por três anos. Nesses três anos, eu estava no colégio e eu ficava o dia todo com as freiras, mesmo na hora do almoço, almoçava com elas e ficava sozinha dentro de um colégio todo, porque cada irmã tinha a sua atividade, não ia ficar comigo. Então, eu ficava sozinha. E eu me lembro muito bem que elas tinham um tipo de uma biblioteca, eu adorava olhar os livros, eu passava horas e horas folheando os livros que elas tinham, principalmente quando tinha algum desenho, eu procurava imitar aquele desenho, procurava sempre ter um lápis, um papel. Até o papel naquela época era difícil para a gente, época de pós-guerra. Naquele começo, nós usávamos papel que embrulhava pão, o pão geralmente era uma bengala, uma bengala comprida de mais ou menos uns 50, 60 centímetros, e uma pequena folha que prendia ele pelo meio. Essa pequena folha é que nós fazíamos, inclusive, cadernos. Nós ajuntávamos, toda família juntava todas aquelas folhinhas, costurava à máquina de um lado e se fazia um caderno daquilo. Era nosso caderno de rascunho. E ali, nessa época em que eu ficava no colégio, eu fazia meus desenhinhos, e foi uma fase muito difícil pra mim.
P/1 – A senhora estudou lá até qual série?
R – Todo o primário.
P/1 – E depois?
R – Nós terminávamos sempre lá para 11 anos. Eram oito, nove, dez e 11, a escola começava o curso primário com oito anos. Eu fiquei desde os sete no colégio, mas era, não era bem um jardim, mas era como ouvinte, eu participava das aulas. Quando a minha mãe tinha que sair, ela fez muita amizade com as irmãs, e as irmãs gostavam muito de mim, que morava na mesma rua praticamente. E eu comecei o colégio com sete anos, mas não com nota, primário mesmo aos oito anos. Saí com 11 anos, e meu pai sempre achou que mulher não devia estudar, continuar estudando. Tanto é que elas me ofereceram, as irmãs me ofereceram uma bolsa de estudos para eu fazer o ginásio, e meu pai não deixou. Com 11 anos, eu comecei a trabalhar numa oficina de costura, se falava “oficinas de roupas brancas”, ali na Rua Oriente, pertinho da minha casa. Eu fui ser como uma auxiliar de bordadeira. As bordadeiras bordavam naqueles bastidores, na máquina, e o meu trabalho era cortar os fios que ficavam embaixo, quando passava de um lado para o outro, cortava os fios, era como uma ajudante de bordadeira. Onde eu fui trabalhar chamava-se Casa Ibéria, e essas meninas de 11 anos, nós éramos quatro. Não era permitido por lei antes dos 14 anos trabalhar, então, quando aparecia o fiscal de menores, que chamava, nós saíamos correndo, nos escondíamos num corredor que havia que dava para a rua, que não pertencia à loja. Era um corredor fechado, e nós corríamos. Ali ficavam as peças de tecido muito grandes, lotavam todo aquele corredor de peças de tecido, e ali, no meio, que nós nos escondíamos até os fiscais irem embora. Quando eu completei 14 anos, que eu pude tirar minha carteira de menor, para mim foi uma glória, os inspetores entravam e eu ali de prontidão, já tinha 14 anos, podia trabalhar. Veja só a diferença do dia de hoje: 14 anos hoje é considerado menor, o que eu acho muito errado. Eu não digo aos 11 anos, que de fato eu era muito criança mesmo com 11 anos, ainda tinha aquele sonho de boneca e tudo o mais e tinha aquele horário certo para ir trabalhar. Mas, 14 anos, eu acho que é uma idade excelente para começar a trabalhar, você fica mais responsável, você entende mais o que você está fazendo dentro de um, nós lá, uma oficina, na frente era uma loja. Chamava-se Casa Ibéria, eles eram portugueses, eram quatro irmãos portugueses, dois irmãos e duas irmãs, e traziam muita mercadoria também de Portugal para expor na vitrine. Era a melhor loja da Rua Oriente, que também eram tão poucas. Hoje, a Rua Oriente é inteirinha somente de lojas. Mas era uma loja muito fina, muito chique e, no fundo, era a oficina, muito grande. Tinha, eu acho, que bem umas 50 funcionárias.
P/1 – E a senhora continuou? Fez 14 anos e continuou trabalhando lá?
R – Aí passei para ser bordadeira também, não era mais auxiliar. Na Casa Ibéria, eu fiquei sete anos trabalhando, e o meu sonho era estudar, era fazer outra coisa, eu não queria. Apesar de ser uma boa bordadeira, eu achava que aquilo não era pra mim. Foi quando eu conheci o meu marido, ele também me incentivou, fui fazer curso de datilografia, era um curso de um ano, puxado. Todos os dias, a gente ia aprender a lidar com a máquina de datilografia, e, para você aprender, eles colocavam um tipo de um banquinho em cima do teclado. Então, você tinha que memorizar e bater o teclado só pela memória. Era difícil o curso, não era fácil, não. Tanto é que era difícil bater com todos os dedos, e depois, quando havia até, imagine só, para você ter uma ideia, quando você terminava o curso de datilografia, havia uma grande festa, com baile e tudo o mais. Nós recebíamos os nossos diplomas nessa cerimônia, antes de começar o baile. Era uma festa e tanto, fazíamos vestido próprio com cor que a escola determinava, era um diploma deste tamanho.
P/1 – Nessa época, a senhora fazia o curso e também trabalhava?
R – Trabalhava, escondido do meu pai, porque o meu pai não queria, achava que lugar de mulher era aprender a cozinhar e a bordar e a costurar, se preparando para um casamento. Era a ideia dele e da época, a maioria dos homens pensava assim, mulher não era para estudar. Era só uma classe mais alta que os filhos, era permitido fazer o ginásio e tudo o mais. Mas nós, de classe média e para baixo, ninguém estudava. Terminou o primário, o negócio era trabalhar. E, aí, também, com muito jeito, com muito jeito, eu troquei, fui trabalhar numa firma na cidade, na Anderson Clayton, como datilógrafa, escondido do meu pai. O meu pai veio saber que eu ia trabalhar na cidade, que eu pegava o bonde ali perto de casa, e ele me viu no horário de trabalho, me viu esperando o bonde. Eu falei que eu ia para a cidade, ia fazer um teste numa firma, para trabalhar numa firma, mas não falei qual, do que que era, porque também tinha aquela coisa: mulher não trabalha no meio de homem, isso não era legal, tinha que trabalhar numa oficina de costura ou mesmo em tecelagem, mas onde tinha só mulheres, os homens eram só pra consertar as máquinas. Nessa época, eu já tinha começado a namorar. Quando eu voltei para casa, eu contei para ele. Não gostou, claro, mas não teve jeito, e lá na Anderson Clayton eu fiquei por dois anos, logo depois eu trabalhei. E aquela época também, quando se casava, normalmente a mulher parava de trabalhar. É um erro, hoje considerado, mas na época era assim: você casou, você é mulher, para de trabalhar. As próprias firmas faziam força para que você parasse porque, se você continuava, no ano seguinte provavelmente você ia ter seu primeiro filho, e, para as firmas, não era legal isso. Já tinha começado aquela história de ter que pagar três meses quando a mulher ganhava nenê, então, para as firmas, ter as mulheres só solteiras, casadas, não. Era muito difícil uma mulher casada conseguir um emprego, era uma época.
P/1 – E depois desses dois anos que a senhora trabalhou na Anderson Clayton, a senhora se casou e saiu de lá?
R – Saí, saí. Aí, só cuidar da casa. O meu filho nasceu em outubro do ano seguinte. Uns meses depois que eu casei que eu fiquei grávida, demorei, inclusive, para ficar grávida porque a mãe do meu marido estava muito doente. Eu queria adiar ao máximo a gravidez para poder ajudar também na doença dela. Tanto é que, quando ela faleceu, sete dias depois, eu ganhei. Na missa de sétimo dia dela é que nasceu o meu filho, que foi dia do aniversário do meu marido também.
P/1 – Eu queria voltar um pouquinho. Nessa época da senhora de adolescente, que a senhora fez o curso de datilografia, trabalhou, quais as outras atividades, o que a senhora fazia? Diversão, como é que foi?
R – Desde o tempo da Casa Ibéria, isso desde os 14 anos, mais ou menos, o bairro nosso era um bairro, como eu te falei, muito festeiro. Tinha diversos clubes, diversos clubes, e esses clubes, os homens de domingo praticavam futebol e tinha muito baile, muito baile, todos eles tinham baile e a gente frequentava muito. Aprendi a dançar com 14 anos, e tinha a minha tia, que morava perto de mais um clube. Então, lá ia eu, na minha rua tinha um, na Rua Oriente tinha outro. A gente ia durante a semana, das sete às nove e meia, muito dez horas, mas dez horas todo mundo estava em casa. A gente ia para esses bailes, e aprendi a dançar e a gostar muito de música, Carnaval principalmente. Eu me lembro dos 14 anos meus, trabalhando na Casa Ibéria, nós reunimos um grupinho, fizemos uma roupa toda igual, formamos um bloco para ir ao baile no Cine Oberdan, ali perto do Largo da Concórdia, e foi o grupo todo. A gente dançava tudo junto, aquele bloco, não podia se desgrudar, nós éramos um bloco. E esses clubes também faziam assim: quem montava um bloco concorria a prêmio, o melhor bloco, com mais animação, que cantava mais, era mais alegre, ganhavam um prêmio também. Outra coisa interessante desses clubes, nessa época de Carnaval, o maior folião de todas as noites ganhava o título de rei momo. Cada uma dessas agremiações tinha o seu rei momo, e a melhor foliona, ou era jovem ou era mais de idade, mas aquela que dançou mais as quatro noites ganhava o título de foliona.
P/1 – Ainda nessa época de adolescência, quais as outras diversões, tinha o cinema?
R – Ah, a matinê era coisa imperdível aos domingos, havia aquelas filas. Nós frequentávamos o Cine Rialto, na Rua João Teodoro, aquilo era marcar o ponto. Depois, quando eu fiquei maior, nós íamos mais para os cinemas na Rua Celso Garcia, lá tinha uns quatro, cinco cinemas, a gente já escolhia mais.
P/1 – Piratininga.
R – É, começava no Piratininga. Até falei essa semana para a minha filha, o Cine Piratininga era enorme, o Cine Babilônia, que ficava ali na Praça Largo da Concórdia. Nossa, mas ele era enorme, enorme. Acho que cabia bem umas três mil pessoas lá dentro, onde hoje é o Lojão do Brás, toda aquela área, toda ali, era o Cine Babilônia. E depois o Cine Alhambra, o Roxy, tinha bastante cinema por ali, foi uma época muito boa. Na época de Carnaval, principalmente, nós íamos para a matinê, ali no Cine Oberdan, na segunda-feira. Isso era religioso. Todos nós, jovens, íamos para o cinema para assistir os cines brasileiros, que falavam sobre Carnaval, com Oscarito, Grande Otelo. Isso era, por muitos anos nós fizemos isso. Na terça-feira, voltava novamente aos bailes matinês. Foi uma época muito gostosa, como também a época de Carnaval. Quando você falou o que mais a gente fazia para se divertir, na época junina, se fazia quadrilha na rua e depois as quadrilhas terminavam sempre nesses clubes, onde havia concurso, a melhor caipirinha, o casal mais ajeitado. Até tem um fato interessante, de eu ter ganhado o concurso de miss caipirinha e ter ganhado um jogo de lençol de linho bordado da Ilha da Madeira, que foi o meu, é uma outra curiosidade, que antigamente tinha o “jogo do dia”, quando você montava a sua casa, que ia casar, você colocava um lençol na sua cama, sempre coisas novas, e o melhor jogo de cama se colocava naquele dia. E, para mim, foi esse que eu ganhei no concurso de miss caipirinha.
P/1 – E namoro, como é que foi?
R – Ah, a gente tinha aqueles namoricos, tão ingênua, no bairro. Tive alguns namorinhos ali pelo bairro, mas o namoro sério mesmo só foi com o meu marido.
P/1 – Como vocês se conheceram?
R – Ah, aí tem uma história muito interessante. Quando a minha mãe casou em Araraquara, foi morar em frente de uma moça, também casada há seis meses. Fizeram uma grande amizade, tanto é que, quando – antigamente, os filhos nasciam todos em casa, na mão de parteira – o primeiro filho desse casal, a minha mãe foi ajudar o parto. E depois o meu pai veio para São Paulo, eles iam e voltavam, também os pais dele mudaram de cidade, nunca mais se viram. Depois de alguns, de dois anos, eles se encontraram ainda em Araraquara, meu sogro e minha sogra moravam já no Paraná, vieram para Araraquara para passar uns dias na casa da mãe dele, do avô do meu marido até, e trouxe um outro nenê e pediu para o meu pai e minha mãe batizarem. Batizaram, e nunca mais se viram. Depois de 20 anos, meu pai, ele já era representante dessa firma e vendia plástico, sempre com uma mala, carregava plástico, oferecia até nas casas quando tinha oportunidade, ele estava no bairro do Ipiranga, nós morávamos no Brás, ele estava no Ipiranga. E começou a ameaçar um temporal, e ele se escondeu numa entradinha de uma casa. Nessa entradinha de uma casa, ele viu uma senhora em cima, olhando para ele e falou: “Puxa, tá caindo um temporal, essa mulher vai, acho que quer que eu saia daqui.” Daqui a pouco, ela abre a porta e olha para ele. Fala assim: “O senhor não é Seu Luís Colombo?” Ele falou: “Sou eu mesmo.” “O senhor não está me reconhecendo?” Ele olhou: “Não.” “Eu sou sua comadre, a Olímpia.” Então, se reconheceram, porque ela era uma mocinha novinha, magrinha e, de repente, já estava uma senhora. E ele entrou e, recordando aqueles tempos todos, mas não conheceu o filho que ele tinha batizado, e deram o endereço. Mas, aquele tempo, fazer visita de um bairro para outro era difícil. Para nós deixarmos, para eu, principalmente, deixar a matinê do domingo para fazer uma visita lá no Ipiranga, eu não queria. Um certo dia, essa Dona Olímpia veio à nossa casa, trazendo o convite do casamento daquele menino que minha mãe viu nascer, e aí é que nós fomos conhecer o afilhado da minha mãe, que minha mãe sempre falava: “Olha, se ele parecer com a mãe, ele vai ser muito bonito.” Porque a mãe era muito bonita de novinha. E, aí, eu vim a conhecer o meu marido, que hoje é meu marido, e fizemos um pouco de amizade, mas, a princípio, não foi aquele príncipe que eu esperava. Tinha um outro na cabeça, dos bailinhos e tudo o mais. E passou ainda quase dois anos para nós de fato nos aproximarmos, e começar o namoro. E dois anos depois, estávamos casados. Quer dizer, ele é afilhado do meu pai e da minha mãe.
P/1 – A senhora começou o namoro e namorou quanto tempo, noivou?
R – Entre namoro e noivado foram dois anos, casamos.
P/1 – Dois anos, aí se casaram?
R – (Hum, hum.)
P/1 – Como é que foi, a senhora lembra o dia do casamento?
R – Ainda hoje eu vinha comentando com o meu marido. Casamento simples, mas simples demais. A igreja em que eu casei não foi a Santo Antônio do Pari, que era uma igreja linda, enorme, mas, como ele era congregado mariano e pertencia à Igreja Nossa Senhora das Dores no Ipiranga, é uma igreja pequenininha, foi lá que eu casei. Mas por causa dele, fomos para lá fazer o nosso casamento. E muito simples tudo, mesmo o pessoal nosso, muito simples, uma festinha dentro da minha casa. A única coisa muito bonita foi o meu bolo de casamento, que foi de três andares, não era qualquer um que tinha um bolo de três andares. Mas muito simples, muito simples mesmo. Mas, em compensação, estamos aqui até hoje juntos.
P/1 – Como é que era nessa época a moda?
R – A moda em geral?
P/1 – É, a moda, como que as mulheres se vestiam, os homens?
R – Bom, calça comprida nem pensar. Muito raramente, quando você ia para Santos, que era uma viagem longa, você podia usar uma calça comprida muito larga. E as mulheres sempre de vestido. Nós usávamos a saia muito rodada, usava dois, três saiotes por baixo da saia, para ficar bem armada. Eu ia trabalhar, para você ter uma ideia, de luvas e, no tempo de frio, de casaco de pele, que era normal as moças terem um casaco de pele, embora nosso nível de vida seria de médio, se usava muito casaco de pele. Eu ia trabalhar de luvas e casaco de pele, sempre salto alto, todas as moças usavam salto muito alto, usava-se salto alto até em casa, não tinha esse negócio de chegar em casa, botar, se usava salto mesmo. Cabelo sempre muito simples, sempre solto, não tinha xampu, essas coisas aconteceram bem mais tarde, se lavava com sabonete mesmo. Até um fato interessante da época: surgiu um sabonete que chamava Vale Quanto Pesa, ele dava bem uns três, era desse tamanho, dava uns três do nosso agora, e depois apareceu mais um sabonete, chamava Lifebuoy, cheirando um cheiro horrível. Mas foi bem, muito bem usado, foi a novidade da época. Quantas novidades surgiram! Mas, que eu me lembre, da parte mais referente à beleza, aos cuidados de menina, eram sabonetes que eram apreciados.
P/1 – E os homens, como eles se vestiam?
R – Ah, sempre de terno, em qualquer lugar que você ia, os homens se vestiam de terno. Era nos bailes, era em festinhas, era para o trabalho. Só aqueles que trabalhavam mesmo nas fábricas geralmente usavam macacões, em todas as fábricas os empregados usavam macacões.
P/1 – E a senhora casou-se, teve filhos, como é que foi?
R – Eu tive três filhos. O primeiro, como eu já relatei, nasceu no dia do aniversário do meu marido, levando o mesmo nome dele, Ednilson Urbano Júnior. Um ano e meio, mais ou menos, depois, nasceu o Edson e, depois de quase três anos, nasceu a Gleides. Três filhos, e que hoje são: o Ednilson é artista plástico, o Edson é técnico em agropecuária, ele fez os dois, e a Gleides, com o marido, hoje casada, são psicólogos.
P/1 – Como é que foi ser mãe? A senhora tinha quantos anos?
R – Ah, eu tinha 21 anos, já para 22 anos. Tinha 22 anos, que o meu filho nasceu em outubro, e eu faço aniversário em setembro. Tinha 22 anos. Olha, a mulher sofria muito, sofria muito mesmo. O meu parto foi um parto muito difícil, porque eu pesava 41 quilos, muito pequenininha, e o meu filho nasceu com três quilos e 200. E aquele tempo, todos os partos tinham que ser normais, ou normais ou então forçados, que era o fórceps que a gente falava. Fazer uma cesariana só em último, em último caso, quando a mãe estava mesmo à beira da morte. E o meu parto, o primeiro, foi dificílimo, aliás, todos os três, apesar de a minha filha já ter sido acompanhada por um médico, que eu tinha sofrido muito nos dois anteriores, então, eu fui acompanhada por um médico. Porque, inclusive, não sei se é bem o caso, eu tive uma trombose e tive que ter um acompanhamento de médico. Mas a mulher sofria muito naquela época, ninguém marcava o dia que o filho ia nascer, o filho é que escolhia o dia pra nascer, era diferente.
P/1 – Teve alguma mudança, dentro da senhora, de ter sido mãe?
R – Desde que eu era pequena, como filha única, eu me sentia muito só, muito só. Meu pai era muito fechadão, minha mãe também, então, meu sonho era ter três filhos. Quando nasceu o primeiro, para mim, já foi uma glória ter. E, um fato interessante, eu nunca tinha pego nas minhas mãos uma criança, a primeira criança que eu peguei nas mãos foi o meu filho. Para cuidar, nossa, foi um sacrifício tremendo, tanto para mim como para ele, que me ajudava um pouco, apesar de ele trabalhar no banco, ele fazer faculdade. Os horários eram apertadíssimos, mas ele me ajudava muito. Quando o umbiguinho do meu filho estava para cair, eu não sabia como fazer, eu tive que chamar uma vizinha, suando, como fazer isso, que eu não sei, achava que ia acontecer alguma coisa com a criança. Veja a inexperiência, nós não tínhamos livros para ler, não tinha essa facilidade de ter um vídeo que mostrava como nascia uma criança. Para mim, foi tudo experiência, experiência, tudo experiência. Desde a noite de núpcias, a primeira experiência, como acontecia aquilo, ninguém contava. Quem era casado não falava de jeito nenhum como ter filho, não se falava, só falava que era dolorido, era a única coisa que a gente ouvia dos pais, dos avós. “Ah, você vai ver, você vai sofrer muito para ter um filho.” Sofria-se mesmo, mas, como era assim, a gente aguentava.
P/1 – Como é que foi depois a vida, o dia a dia como mãe, como mulher, esposa?
R – Foi aprendendo a cada dia, vendo o meu filho crescer, já esperando o segundo, preparando o quartinho para dois. As primeiras letras, que meu filho aprendeu a ler no jornal, também o segundo. As artes que iam acontecendo com eles mais grandinhos. E, quando nasceu a minha filha, ela tinha alguns meses, aí eu comecei a pensar que eu devia fazer mais alguma coisa. Eu bordava, fazia muito bordado, e os meus bordadinhos eu vendia, sempre um dinheirinho a mais, mas quando nasceu a minha filha eu comecei a pensar melhor que eu devia fazer alguma coisa para ajudar. Que, quando eu casei, nós fomos morar ali no Ipiranga, num sobradinho. Quando nasceu o segundo filho, duas crianças pequenas, como nós tínhamos escada, eu me sentia agoniada. Eu ia cozinhar, as crianças tinham que estar sempre perto de mim, às vezes eles queriam subir. Nós começamos a pensar numa casa térrea, aí passamos para uma casa térrea, foi onde nasceu, inclusive, minha filha. E sempre aquele sonho de uma casa melhor, um lugar melhor. A nossa casa também, apesar de ser térrea, grande, não estava localizada muito bem. A gente queria, o meu marido sempre foi entusiasmado por ter mais coisa, crescer um pouco mais, e aí o que que eu fiz? Fui fazer um curso, estava entrando na moda a espuma. Hoje, a gente vê mais espuma.
P/1 – Então, a senhora estava nos contando sobre aqueles três mil, aquelas três mil pessoas na rua, e como é que é o núcleo de trabalho.
R – Que participam mesmo, que são dedicadas à escola, você não vai achar mais do que 500, 800 pessoas. Aqueles que estão lá nos ensaios, que participam das festas, ora um, ora outro, não é todo dia que estão as 800 pessoas, mas é um grupo mais ou menos unido. Aquele do dia a dia não chega a cem, mas são aqueles que levam com garra a sua escola, que têm suas reuniões semanais, que são diversos os assuntos que se discutem, não somente o Carnaval, é toda a festividade do ano todo, são as pessoas que estão necessitadas, uma escola ajuda a outra. Tem muita coisa de bom, de ótimo dentro de uma escola de samba. Um dia, perguntaram para mim, um grupo de pessoas que veio de fora do país: “Ah, eu gostaria muito de entrar em escola de samba, mas lá só tem negro e a gente tem medo que eles avancem.” Eu fiz: “Você quer um lugar seguro para você se divertir, vá numa escola de samba, não digo no dia de Carnaval, que é aquela loucura, mas vá, assista, assista alguma programação de escola de samba.” Levei-os na entrega de um troféu de escola de samba, eles ficaram apaixonados, a gentileza de todo mundo, a dedicação com eles, a forma como receber uma pessoa de fora. É porque nós temos diversas, nas nossas raízes, eu sempre falo nossas. Outro dia, eu fui na casa da Raquel Trindade, filha do Solano Trindade, e falando com ela: “Pois é, aí é que estão as nossas raízes.” Ela olhou bem para mim, falou assim: “Que engraçado, uma branquinha falando de nossas raízes.” Eu olhei para ela, falei: “São 32 anos dentro de escola de samba, você não acha que são minhas raízes também?” Ela falou: “Nossa, mas eu bato a mão para você e para o Osvaldinho da Cuíca.” Que também é branco. Mas não há essa divisão, ela fez aquela colocação porque, quando se fala em raiz, sempre é a raiz africana, que a gente fala, mas eu acho que eu faço parte também dessa raiz, todos nós fazemos parte. Você entra numa rua, eu vi o nome da sua rua aqui, é um nome indígena, que também faz parte da nossa cultura, porque o nosso samba foi criado não foi só pelo africano, foi do encontro do tambor indígena, do tambor africano e dos instrumentos que vieram de Portugal, são as três raças que se uniram para formar o samba. Não pode falar: “O samba é africano.” Não é, o samba é brasileiro, e nós brasileiros temos todas essas raízes em volta de nós. Então, nós somos a raiz do samba. E, dentro das escolas de samba, há muitas coisas que a gente recebe como um rito. Por exemplo, você já ouviu falar que uma escola de samba é batizada? Há o batismo de uma escola de samba, uma cerimônia muito bonita, é o nascimento de uma outra escola e quem vai batizar é sempre uma escola mais antiga, e nesse ritual há uma série de coisas para serem feitas, é muito bonito. A escolha de um samba-enredo na quadra, como é que se processa esse samba-enredo? Por que que não é uma pessoa, vai lá e faz um samba e acabou? Não, tem muita coisa atrás disso, tem muito samba, é criado muito samba até chegar naquele samba que vai levar para a avenida o enredo que foi feito pelo carnavalesco. Hoje, normalmente todos os enredos são feitos por carnavalesco, uma ou outra escola que aceita enredo de pessoas de fora. Ou a própria diretoria tem um enredo e ele passa ali para o carnavalesco, mas também, até chegar ali, tem uma longa história. Tudo dentro de uma escola de samba tem uma história, o porquê da velha guarda, são aquelas pessoas mais antigas, o porquê que eles se tornam embaixadores, o porquê que eles se tornam o cidadão samba. Por que cidadão samba? Há toda uma história para ser contada. Então, veja, há um respeito muito grande dentro de uma escola, há todas essas cerimônias, essas entregas de troféu, as festas de aniversário, todos são formados de raízes. Eu estou até agora escrevendo um artigo, que eu escrevo já há uns cinco anos para o jornal QG do Samba, e eu estou escrevendo agora sobre emoções, a emoção do brasileiro. O brasileiro se emociona com tudo, principalmente na fase de alegria, é o clube de futebol que ganhou o campeonato e agora vem os jogos da Pan, onde as nossas raízes do samba estão vivas, presentes ali, porque foi feita, levantado toda aquela entrada triunfal dos nossos jogos por uma carnavalesca. Uma carnavalesca consciente, porque ela fez numa pequena demonstração, ela juntou as raízes africanas do nosso folclore, ela juntou as raízes afro e ela juntou a escola de samba de hoje. Eu achei o trabalho dela divino, as raízes do folclore. Quanta coisa ela trouxe do nosso Brasil, através da água, das vegetações, do som. Ela trouxe, ela montou nosso folclore, a parte indígena com o jacaré, com cobra, com... Vocês viram a entrada, foi essa a entrada. Ela trouxe as raízes africanas de que forma? Com a bateria de todas as escolas de samba, se eu não me engano foram 1500 componentes. A roupa deles, qual que era o símbolo? Africano. Bem levemente ela deu uma passagem em todas as nossas raízes, eu achei divino, não podia ter trabalho melhor, e é por isso que nós lutamos. Depois do primeiro livro, quanto tempo passou para aparecer um outro? Quantos anos? Porque apareceram outros, apareceram trabalhos bons de pessoas não de dentro do samba, pessoas defendendo tese em faculdade, fazendo até doutoramento em cima de pesquisas sobre o samba. E nós, dentro do samba, o que nós fizemos? Ninguém escreveu, não saiu em jornalzinho alguma coisa, todo mundo sabe a história, mas ninguém põe no papel, e eu comecei a achar que esse era o meu campo, essa era a minha luta, e é isso que eu devia fazer. Eu devia pegar os antigos. Aí, surgiu a ideia de se fazer um museu, eu estava à frente desse museu, fomos até trabalhar no Anhembi, que lá tem o sambódromo. O sambódromo Anhembi todo foi montado para que houvesse Carnaval, tirasse o Carnaval da Tiradentes, que estava atrapalhando o trânsito e os bairros, e foi colocado ali, num lugar de pouco acesso normal de pessoas. Não temos condição, vontade, nada, mas foi ali que nós fomos colocados e é ali que nós vamos respeitar nosso lugar. O meu primeiro desfile lá não tinha nada, somente uma passarela em branco, pintada em branco, porque nem um asfalto próprio para isso não tinha. A arquibancada era feita de madeira, mas foi o lugar que deram para nós, e nós ficamos muito felizes por ter um lugar. Onde, agora, o Centro Anhembi faz de tudo para tirar o sambista de lá de dentro, e nem sequer o museu que nós queríamos fazer lá dentro, o museu do Carnaval e do samba. Que eu sempre faço uma divisão, o que é o Carnaval e o que é o samba, porque o Carnaval é eterno, nós tivemos Carnavais maravilhosos aqui em São Paulo, que não têm a ver com escola de samba. Os dois estão unidos porque, como eu te falei, os caiapós, aqueles primeiros indígenas que foram, aproveitaram o espaço para sair na São João, esse grupo chamava caiapós, eles representavam o africano, e nós não temos nenhuma memória dali para frente dos africanos, dos indígenas. Eles vinham vestidos de índios, aquela entrada deles lá, puxa, está dando a raiz, de onde veio nosso samba, da batida do índio na cor do negro, que estava junto. Então, ali que foi a união do samba com o Carnaval. Nós não tínhamos aqui no Brasil fantasias nossas. Carmem Miranda foi a primeira a fazer uma fantasia originalmente brasileira. Nossas escolas de samba, no comecinho, ainda se vestiam com fantasias com ideias vindas de fora. Hoje, não. Hoje, nós temos nossas fantasias próprias, nossas músicas próprias, nós somos um universo. Eu sempre, quando eu começo a fazer minhas palestras, sempre falo: “Eu vou falar para vocês de um mundo à parte, de um mundo que dificilmente alguém conhece aqui. É o mundo do samba, é o mundo das escolas de samba, não do Carnaval. Eu vou falar do Carnaval porque ele existe e ele nos acompanha, e as escolas de samba estão junto, mas são dois mundos diferentes.” Eu sempre começo contando o que que é o Carnaval, até chegar nas nossas raízes. É um panorama muito grande, e, como eu estava te falando, muitas pessoas aproveitam, gostam, e eu acho maravilhoso que se aprofundem mesmo nesse campo, fazendo suas teses, seus mestrados, seus doutorados. Eu tenho ajudado muita gente, como também na Uesp [União das Escolas de Samba Paulistanas], lá tem o centro de memória para pesquisa. Quantas teses já foram feitas! Mas, dentro das escolas de samba, surgiram mais uns dois ou três livros e agora o meu. É muito pouco uma biblioteca em São Paulo com uma meia dúzia de livros falando sobre o Carnaval de São Paulo. Se você for ao Rio de Janeiro, você vai encontrar prateleiras enormes, porque todo ano saem dois, três livros. Aqui em São Paulo, não. Nós não temos abertura das classes altas, das grandes empresas para nos apoiar nesse sentido. Nós conseguimos até entrar numa lei, mas, daí para a frente, somos barrados porque estamos falando de Carnaval de São Paulo. Essa sigla, São Paulo, continua a nos impedir para que mostremos a nossa história.
P/1 – Hoje, qual que é a atividade da senhora?
R – Bom, continuo escrevendo, escrevo para o jornal QG do Samba todo mês, preparando mais umas matérias talvez para livros, vamos ver. Esse foi tão sofrido, que a gente tem até um pé atrás para fazer outro, mas estou escrevendo. Sou comentarista da Jovem Pan no Carnaval há cinco anos, nas duas noites de avenida, e sempre em alguns programas perto do Carnaval eu também faço algum relato, sempre em cima da história, não contando o que está acontecendo, da história do Carnaval. E dou muita palestra em faculdade, onde me convidarem eu estou dando palestra, esse é o meu campo hoje.
P/1 – Puxa, quanta história, hein? Mais alguma história que a senhora gostaria de contar?
R – Ah, se você for começar a pensar, tem muitas histórias, muitas histórias. São 32 anos vivendo no meio do samba, mais os anos anteriores, que eu já fazia fantasias. Então, é uma longa história. Já fui jurada no interior de fantasia, concurso de fantasias em diversas cidades do interior, eu fui como, na parte de fantasia, em clubes que fazem desfile de fantasia. Então, lá estou eu.
P/1 – Se a senhora fosse fazer um parâmetro, a senhora conhece bem essa história, do Carnaval antigo de São Paulo e do Carnaval atual de São Paulo.
R – Como é que eu iria ver esses dois mundos? Carnaval antigo foi maravilhoso, todo mundo que morava em São Paulo participava do Carnaval. Hoje, a minoria. São Paulo cresceu muito, muita gente, a maioria prefere passear no Carnaval, fazer seu descanso e não participar mais do Carnaval. Hoje, você não vê mais uma fantasia na rua. O que nós nos orgulhávamos de fazer, uma fantasia de pierrô, colombina, e sair pela rua mostrando que estava fantasiada. Hoje, parece até uma vergonha você botar uma fantasia e pegar o metrô para ir para o sambódromo. Você vai até meio escondidinha. É uma diferença muito grande. Sobre a cultura do Carnaval, hoje não temos mais, acabou completamente a cultura do Carnaval, eu digo sobre os grandes bailes, os corsos, os corsos na Paulista, onde a sociedade participava, os corsos em todos esses bairros que tinham grandes Carnavais, que todo mundo participava. Não era uma ou outra pessoa, todo mundo estava junto, não existe mais nada, nada, nada. Alguns clubes dão os bailes, muitos não respeitados. Sumiu. O que ficou, as escolas de samba, que hoje agregam um bom número do pessoal que gosta de Carnaval e quer sair, não tem onde, vão numa escola de samba, colocam uma fantasia e vão para a avenida. É uma glória porque você está num palco, num palco iluminado, você, por mais que não conhece nada, não sabe o que representa um pavilhão, não sabe quem é o presidente, mais ou menos aprendeu muito por cima a letra do samba, não sabe nem quem compôs, quem não compôs, mas no seu “eu” você está numa passarela, você é uma artista. Saiu dali, passou do outro lado, acabou. No dia seguinte, você já não tem a fantasia, que muitos jogam fora, os que não são carnavalescos. Quem é carnavalesco vai guardar para um desfile de bairro ou para a própria escola, que aproveita essas fantasias para a venda. Mas quem não é joga fora, acabou a avenida, jogou fora, acabou, já foi a sua experiência. E aí o que que ele fala? Vai para os amigos: “Ah, eu sou carnavalesco, eu participo de uma escola de samba, eu saí em tal escola.” Glória, ainda mais se foi campeã. O que que ele tem de carnavalesco? O que que ele sabe, o que é esse mundo de Carnaval? Por isso que eu digo: não sou só eu a dar palestra, tem que ter muita gente, levar essa nossa experiência para tudo quanto for escola, escola municipal, preparar criança, ensinar para ela o que que é. Puxa, ela é negra, puxa, tem assim, os brancos não querem chegar perto, não é bem assim. Vamos explicar para ela que uma escola de samba é livre. Ali, você, eu trabalho em barracão, quem está limpando o barracão para mim tem o mesmo valor daquele decorador que tem, poxa, já recebeu troféus não sei onde, design, decorações, tudo igual. Tem médicos ali dentro trabalhando com a gente, ajudando em barracão. Eu tive no Vai-Vai um médico que adora Carnaval, ele fez até um enredo pro Vai-Vai, foi no barracão trabalhar comigo. Um diretor de teatro que está fazendo uma novela importantíssima agora no canal dois, o Ulisses Cruz, ele me ajudou a fazer alegoria dentro de barracão, passou semanas e semanas ali comigo. Então, é isso, é essa vivência, que escola de samba não tem religião, são todos iguais, não têm status. Não é porque você é rica, que você é pobre, você vai na avenida. Vocês duas vão estar junto desfilando, vocês estão representando a mesma fantasia, no mesmo enredo, na mesma escola. Você saiu de lá, você não quer estender a mão para a sua colega, o problema é seu. Mas dentro da escola você estende, você estende porque são todos iguais, é uma disciplina que nós temos, é um modo de passar a nossa cultura, a nossa história, a nossa vivência, a nossa convivência. Até eu faço um convite para todos vocês: vão visitar uma escola de samba durante o ano, vão participar de uma entrega de troféu ou mesmo das eliminatórias, que logo começam, do samba-enredo. É muito bonito, vocês vão se sentir à vontade e podem ter certeza: nada de mal acontece para vocês dentro de uma escola, é o lugar onde mais se dá respeito à pessoa humana. Esse é um convite que eu faço para todos que, depois, vão me ouvir ou ver. É o respeito que se tem dentro de uma escola de samba. Hoje em dia, se fala: “Ah, eu não vou em escola de samba porque lá tem droga.” Onde que não tem? É só você saber se comportar e não aceitar, ninguém vem perto de você. “Ah, você quer?” Se você der, isso em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer ambiente, você vai receber essas propostas. Nós não podemos ver uma por uma a pessoa que está lá, se é um marginal ou é uma pessoa que quer fazer mal para a escola. A gente não sabe, mas o nosso meio, o nosso meio, esse que eu falo, das pessoas que frequentam a escola, é diferente. Ali não entra nada se você não quiser.
P/1 – A senhora, fazendo esse parâmetro do Carnaval de antigamente e de hoje, o que parece é que muitas coisas mudaram, mas existe uma essência que continua ainda.
R – Ainda existe. Os mais velhos sempre falam, a escola de samba acabou há muito tempo, eu também até vejo por aí, tanto é que, quando eu começo as reportagens na Jovem Pan, eu sempre começo assim: “Nós estamos hoje aqui para assistir a mais um grande espetáculo que vai encher os olhos de todos os ouvintes, os telespectadores, um grande show organizado pelas escolas de samba.” Que a escola de samba não é aquilo que você vê na avenida, tanta mulher pelada, não é aquilo. Aquilo é um show, é um show que é levado para a avenida. Dentro da escola de samba, você não vai encontrar ninguém nu ali dançando, porque não é isso, não é verdade?
P/1 – Nós vamos encerrar. Alguma pergunta, a senhora quer falar mais alguma coisa?
R – Eu devo agradecer imensamente a oportunidade que eu tive de deixar tudo isso relatado. Que sirvam para muita gente as minhas experiências, que entendam muito bem esse mundo e entendam muito bem a minha vida, que não vim das raízes da escola, mas soube muito bem aprender e procurar agora passar toda essa história. E eu só tenho que agradecer imensamente a todos vocês.
P/1 – Nós, em nome do Museu da Pessoa, agradecemos também essa riquíssima entrevista, esse riquíssimo depoimento. Pela colaboração da senhora, muito obrigada.
R – Obrigada.
Recolher


.jpg)






.jpg)