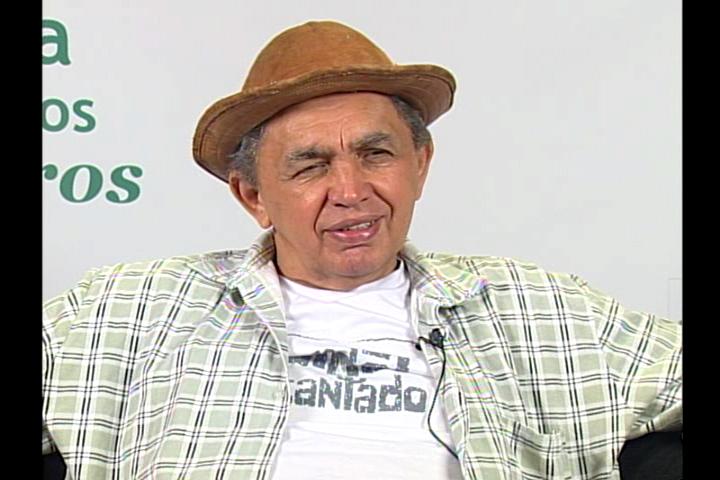P/1 - Então, Seu Sebastião, bom dia. É um prazer tê-lo de novo, depois de dez anos.
R - O prazer é nosso.
P/1 - Fizemos nossa última entrevista em 2001 e queria então retomar algumas coisas da sua história, que está muito bem contada, mas vamos enriquecer mais um pedacinho. Então eu queria que o senhor contasse, antes de ter vindo a São Paulo, qual era a visão que o senhor tinha da cidade? O senhor conta que achou que era tudo banhado a ouro, porque lá no nordeste a gente pinta a casa de cal todo ano. Como foi a sua chegada aqui?
R - Quando eu cheguei a São Paulo trazia aquela imagem da São Paulo toda iluminada, banhada a ouro, aquela maravilha. Na minha visão, os prédios aqui eram uma decoração estupenda, uma maravilha, tudo limpo, tudo encantador. O chão, para mim, era um tapete. E quando saltei naquele abril de 1976 aqui, na Júlio Prestes, na estação, aí vi tudo ao contrário ao que já referi. O que mais tinha era cachorro vira lata e mendigo pelas ruas, aqueles prédios sujos, com aquela fuligem louca, aquela fuligem maluca, aquela fuligem bem nojenta. E até hoje continua essa fuligem que cobre São Paulo, essa cinza maluca. Aí veio o castigo, né, meu jovem, veio o castigo. Dizem que quando a gente bebe da água da terra, a gente não esquece mais.
P/1 - O senhor gostou de São Paulo?
R - E aí fiquei. E nessa ficada e nessa brincadeira já tem trinta e tantos anos.
P/1 - O senhor falou que quando o senhor chegou, foi até o Brás, até o Borba.
R - Pronto. Quando a gente chegou... Eu vim direto para participar da Semana Nordestina no Anhembi. Esse evento era pela Secretaria de Turismo e parece que pela Prefeitura. Não, pela Secretaria de Cultura do município. E a convocação foi direta, Campina Grande, então coube para mim. De qualquer maneira, naquela época era solteiro do time. Nós éramos, numa linha de quatro. Aliás, de três. Eu era o regra três do programa chamado Retalho do Sertão, que já não existe...
Continuar leituraP/1 - Então, Seu Sebastião, bom dia. É um prazer tê-lo de novo, depois de dez anos.
R - O prazer é nosso.
P/1 - Fizemos nossa última entrevista em 2001 e queria então retomar algumas coisas da sua história, que está muito bem contada, mas vamos enriquecer mais um pedacinho. Então eu queria que o senhor contasse, antes de ter vindo a São Paulo, qual era a visão que o senhor tinha da cidade? O senhor conta que achou que era tudo banhado a ouro, porque lá no nordeste a gente pinta a casa de cal todo ano. Como foi a sua chegada aqui?
R - Quando eu cheguei a São Paulo trazia aquela imagem da São Paulo toda iluminada, banhada a ouro, aquela maravilha. Na minha visão, os prédios aqui eram uma decoração estupenda, uma maravilha, tudo limpo, tudo encantador. O chão, para mim, era um tapete. E quando saltei naquele abril de 1976 aqui, na Júlio Prestes, na estação, aí vi tudo ao contrário ao que já referi. O que mais tinha era cachorro vira lata e mendigo pelas ruas, aqueles prédios sujos, com aquela fuligem louca, aquela fuligem maluca, aquela fuligem bem nojenta. E até hoje continua essa fuligem que cobre São Paulo, essa cinza maluca. Aí veio o castigo, né, meu jovem, veio o castigo. Dizem que quando a gente bebe da água da terra, a gente não esquece mais.
P/1 - O senhor gostou de São Paulo?
R - E aí fiquei. E nessa ficada e nessa brincadeira já tem trinta e tantos anos.
P/1 - O senhor falou que quando o senhor chegou, foi até o Brás, até o Borba.
R - Pronto. Quando a gente chegou... Eu vim direto para participar da Semana Nordestina no Anhembi. Esse evento era pela Secretaria de Turismo e parece que pela Prefeitura. Não, pela Secretaria de Cultura do município. E a convocação foi direta, Campina Grande, então coube para mim. De qualquer maneira, naquela época era solteiro do time. Nós éramos, numa linha de quatro. Aliás, de três. Eu era o regra três do programa chamado Retalho do Sertão, que já não existe mais. E um programa antigo da rádio Borborema. E o convite foi pedindo uma dupla de repentistas para representar a Paraíba. Aí os parceiros achavam, “Não, não sei o que”. Os parceiros eram casados antes de mim, eu era solteiro e sobrou para mim, coube a mim essa aventura. Cheguei, a gente saltou da rodoviária... Aliás, era para vir de avião, foram as passagens aéreas, só que eu tinha medo de encarar o asa dura. (risos) Eu tinha medo, então eu troquei as passagens, aliás ficava meio sacrificado, porque eu tinha nessa época, aqueles anos setenta não tinha voo direto de Campina Grande todos os dias, era sempre de mês em mês, uma coisa assim. A gente tinha que ir até Recife tomar o voo. Você acha que eu vou até Recife? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar logo o ônibus daqui mesmo. Troquei. Mas era medo de avião mesmo. Aí peguei, troquei por passagens de ônibus. Cinquenta e duas horas de viagem, compadre. Cheguei com o mocotó dessa grossura, assim.
P/1 - Cinquenta e duas horas?
R - Cinquenta e duas horas de viagem. Ô sacrifício danado, coisa séria. Eu que não fumo, a turma fumava vinte e quatro horas dentro daquele ônibus. Aquilo era um absurdo, chega com o pulmão seco, arrebentado, um sofrimento danado. Mas nessa brincadeira, quando a gente saltou lá no Brás... Não, no Brás não, na Júlio Prestes, aí já estava um carro esperando a gente, da organização, já sabia a hora que o ônibus chegava. Além de mim, veio uma dupla também de emboladores, Geraldo Mouzinho e Cachimbinho. E a gente pegou o carro e foi saindo pelas ruas ali. A São Caetano, ali, aquela loucura, imundice danada. Eu topei logo de cara com o Tamanduateí, água fétida pra danar. Vixe, a São Paulo para mim arrebentou-se toda, acabou-se aquela imagem que eu trazia. Mas a gente chegou lá no hotel do Borba, na Rua Cavaleira, lá no Brás, aí arejou. Já encontrei logo de cara Jackson do Pandeiro. Estava Luiz Gonzaga, estava Anastácia, Dominguinhos, um molecão ainda.
P/1 - Maria Inês.
R - Maria Inês, com todo pique. Abdias Filho, o Trio Nordestino... Era justamente a casta real da música nordestina naquele período. O Gonzaga, com a Maria Inês, com Jackson, com o Trio Nordestino.
P/1 - E o senhor já conhecia esse pessoal lá de Campina Grande?
R - Esse pessoal era tudo fichinha minha, conhecia tudo lá de Campina Grande. Porque Campina Grande era vitrine, hoje não, mas nos anos setenta, nos anos sessenta Campina Grande era vitrine da música nordestina. Qualquer artista que quisesse divulgar o trabalho dele no Nordeste tinha que morar em Campina Grande, ficar pelo menos uns seis meses. Foi o que aconteceu com o Teixeirinha, saiu do Rio Grande do Sul, queria difundir a música dele no Rio Grande do Sul, e até hoje o Nordeste ainda conhece o Rio Grande passado por Teixeirinha. Ele ficou seis meses morando em Campina Grande. Essas figuras passaram tudo a ser figura nossa, todo dia estava junto, na frente da Borborema, da rádio...
P/1 - Seu Sebastião, conte-me como foi esse encontro com o Jackson do Pandeiro?
R - O encontro com o Jackson não foi muita novidade, porque Jackson já conhecia de lá. Apesar de que eu não tinha muito contato com ele. Quando eu comecei a cantar eu encontrei o Jackson, o Jackson também não era muito de voltar a Campina Grande. Jackson ficava mais no trecho Rio – São Paulo – Brasília, ou Rio – São Paulo. E pouco ia ao Nordeste, principalmente a Campina Grande. Aí quando encontrei o Jackson, de cara fiquei emocionado. Eu já curtia as músicas do Jackson, ele é brejeiro também, como eu. Eu nasci numa cidade chamada Solânea, faz parte cinturão do brejo, da Zona da Mata, e ele de Lagoa Grande, então a gente tinha história meio parecida. Jackson também teve seus problemas também, com a família, um bocado de coisa. Até que ele saiu um pouco magoado de Lagoa Grande, ele não assumiu que era de Lagoa Grande, ele dizia que era de Campina Grande, mas era mentira, era de Lagoa Grande.
P/1 _ Então, Seu Sebastião, como foi o seu início aqui em São Paulo? Depois disso. Fez essa apresentação na Semana Nordestina e aí?
R - A Semana Nordestina era para fazer somente oito dias, mas a coisa pegou tanto, valeu tanto, foi tanto movimento... Naquela época o nordestino era sedento das coisas da terra e as pessoas de cá ficaram curiosas para sentir o que era o Nordeste. A coisa foi tão boa, que prorrogaram para mais quinze dias. E durante esses quinze dias... Os primeiros dias não, fiquei meio besta, metido, aquela coisa, né? Fiquei socado lá no hotel, não visitava muito a turma. Mas quando veio a segunda semana, até gostei disso, acho que foi isso que me segurou. Na segunda semana, aí eu me soltei, aí comecei a procurar os conhecidos, as pessoas que eu tinha endereços. E comecei a cantar nos cortiços aí. Eu ia visitar a turma e a turma pedia “Leva a viola!” e não sei o que. Aí eu começava a cantar. E nessa semana, a última, eu ganhei pelo triplo do cachê que eu estava ganhando. O triplo. A turma, com a participação da turma nos cortiços, aquele hábito nordestino todo, roda bandeja. Aqui chama roda chapéu, lá é bandeja mesmo. O artista... Eles pediam para eu levar a viola e todo dia num cortiço daquele, chegava lá e tinha aquele monte de rapazes, de pessoas morando. Dez, doze num quartinho desse tamanho, tudo prensadinho. E quando eles preparavam aquele povo daquele cortiço e quando eu chegava lá, ao invés de eu simplesmente almoçar com eles, ou jantar, chegava lá já tinha uma festa montada, um esquema já montado.
P/1 - Que beleza.
R - Era uma churrascada danada lá dentro, naquele espaço do cortiço. Os vizinhos todinhos já preparados, os que moravam naquele cortiço... Aí pronto. Eu começava a cantar aqueles poemas de Nordeste para cada um e eles se danavam para chorar e para beber. E já bolava aquela bandeja e danavam dinheiro naquela bandeja. E nessa brincadeira, em oito dias eu ganhei o triplo do cachê. Aí eu senti que São Paulo precisava de um trabalho. Nem tanto pelo lado financeiro... É claro que o lado financeiro ajuda a gente, sem ele a gente não pode segurar a barra, mas aí eu notei que São Paulo precisava de um trabalho. Mas isso eu reconheci na segunda semana, porque na primeira eu fiquei muito metido, lá intocado. Era segurança para lá e para cá.
P/1 - Mas acabou a semana e o senhor volta para Campina Grande?
R - Aí, quando a gente terminou a etapa, eu volto para Campina Grande. Chego a Campina Grande, já tinha outro cantador no meu lugar. Também porque a turma lá era obrigado a ficar três, dois seguravam. E era um programa diário e aí a direção achou melhor mudar o terceiro cantador, aí eu já fiquei na regra quatro. Só que quando eu voltei para Campina Grande, já voltei pensando em São Paulo. Pensei: “É capaz de arrumar um cantador e levar para São Paulo, para a gente fazer um trabalho. São Paulo está precisando de um trabalho sério”. Aí foi quando encontrei aqui o João Quindingues. Aliás, foi com quem eu fiz... Eu vim sozinho de Campina Grande e aqui eu encontrei o João.
P/1 - João?
R - João Quindingues. E “duplei” com o João e a gente cantou. Por sinal... E nesse encontro que a gente teve aqui a gente cantou ainda uns seis anos “duplado”. Depois que eu voltei de Campina Grande, na segunda vez do meu retorno aqui para São Paulo, aí foi que eu me aventurei junto com o João e aí também já não tinha mais cobertura de nada, e partiu mesmo para a luta, quando São Paulo era tudo difícil para arrumar onde ter cantoria. Quando a viola tocava aqui no vizinho, o do outro lado ligava para a polícia. A polícia vinha e mandava enfiar a viola no saco, tipo vadiagem. Quantas vezes eu fui à delegacia explicar porque estava fazendo aquela zoeira e não sei o que. Cada coisa...
P/1 - Seu Sebastião, o senhor voltou ainda solteiro?
R - Voltei. Naquele tempo tudo era solteiro, isso foi em 1976. Eu fiquei aqui o mês de abril e aí quando chegou na última semana de abril já estava lá de novo. Eu cheguei na segunda e fiquei duas semanas aqui. E no finzinho de abril estava chegando à Paraíba de novo e fiquei o mês de maio. E em junho já vim para São Paulo, encarei o primeiro frio de São Paulo. Em 1976 foi o ano que eu mais vi São Paulo fazer frio, não foi brincadeira não. E eu também, não sei se foi a estréia que eu estava fazendo, para encarar a terra da garoa. Mas de lá para cá eu nunca vi acontecer isso. Uma vez eu abri a torneira e a água não desceu, eu não vi mais acontecer isso aqui.
P/1 - É mesmo. Esquentou, o clima da Terra esquentou.
R - O negócio foi sério. E alguém diz: “É sempre frio?” “É não, mas eu lembro que quando eu cheguei e fui abrir a torneira, quando abri a torneira, a água não desceu, virou pedra”. De lá para cá não vi mais acontecer isso, por isso que eu digo que São Paulo, o frio máximo foi em 1976, que eu cheguei aqui pela segunda vez. Aí pronto, fiquei aqui, para trabalhar com o João. Encontrei o João, ele começou a cantar, juntos, eu solteiro. E aqui a gente ficou o resto de 1976. 1977 fui à Paraíba de novo, fiquei três meses lá. Voltei pra cá outra vez. Em 1978 fui lá e casei. Aí quando casei, pronto, aí tive que encampar, aí a coisa pesou. Solteiro é uma coisa, mas casado não, por isso precisava segurar. E eu vi que a viola só não dava aqui em São Paulo sendo casado, porque não tinha campo suficiente. Naquele tempo era perseguição de nordeste danado. O caso do meu documento. esse documento bem natural. (Risos) Toda esquina o indivíduo me parava, o filho de égua morava na mesma rua, mas só para me chamar de baiano. “Ô baiano, essa rua é assim, como é que é?”. E eu me habituei tanto com isso. Era todo dia, todo dia, duas, três vezes durante o dia. Chegava a abusar. Aí me acostumei com aquilo, nem estava ligando mais, até estava gostando. Aí quando casei, tive que mudar um pouco de vida. Aí arrumei um serviço de zelador aqui na Rua das Palmeiras, dois meia oito, e fiquei lá ainda dois anos.
P/1 - Esse é um prédio inteiro do Camasmie, não é isso? Como chamava?
R - É, Taufik Camasmie. Ele tinha parece uns três ou quatro prédios, tinha um aqui na Consolação, tinha um na Rua das Palmeiras, tinha um, parece, que na Veiga Filho, na Santa Cecília. Sei que eram uns quatro prédios que ele tinha. E então os prédios eram aquela coisa, ele era o dono do prédio e aquele povo todo era inquilino. Que foi uma história engraçada, eu além de ser homem do campo, nascido no campo, criei no campo, então a função que eu sabia fazer era coisa do campo. E a não ser aquilo ali, só cantar, tocar a viola e cantar. Então, quando cheguei aqui em São Paulo, para encarar outra função, não sabia fazer nada. Aí, casado precisava. Aí um amigo meu trabalhava numa administradora de imóveis, aí ele foi e disse: “Rapaz, eu tenho um serviço para você, que vai te quebrar um galho grande. Eu digo: “O que, rapaz?” “Sabe que tem um prédio na Rua das Palmeiras, no número dois meia oito, que o zelador lá acabou de falecer, agora, tem uns quinze dias que ele faleceu. O zelador aposentou-se lá e acabou morrendo lá no prédio. A vida todinha trabalhou lá. É um prédio tranquilo, prédio de seis andares. Você só tem uma função de fazer... lavar ele uma vez por mês, agora, o lixo todo dia tem que retirar”. Eu digo: “Rapaz, eu não sei fazer nada disso”. “Que nada, a gente ensina”. Aí foram lá e me ensinaram. Sei que me arrumaram. Aí pronto, defendi, não fui mais pagar aluguel, já tinha um salário, não era muita coisa, mas dava para sobreviver. Não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava nada. Aquele negócio, ainda tinha um salariozinho. Morando lá em cima, no último andar. E os moradores eram todos inquilinos, coitados. Então a minha função, lá não tinha síndico, a função de síndico tinha que ser a minha também. Zelador ali era de faxineiro até síndico. Todo mundo tinha a chave da porta, então aquele negócio, eu não precisava ficar na porta. E assim, ainda encampei uns dois anos e uns quebrados. Eu acho que eu só não estou lá até hoje, porque o metrô me expulsou.
P/1 - O senhor falou que bagunçaram o coreto lá.
R - Porque abriram, interditaram a Rua das Palmeiras e fizeram um buraco enorme. E ficou muitos anos ali, demorou uns dois ou três anos aquele buraco ali. E ficava só aquela trilhazinha na calçada para você passar, aí eu não podia chegar de madrugada. Eu ia cantar fora e quando eu chegava lá, muitas vezes me tomavam as duas violas ainda.
P/1 - Era assalto?
R - Sim, os caras assaltavam, porque de madrugada ali não tinha nada. E aquela trilhazinha ali, eles aproveitavam, você, quando entrava lá dentro, os caras pegavam você, enquadravam, não tinha jeito. Aí eu, com aquilo, desanimei-me. E pedi as contas e fui embora.
P/1 - Mas, Seu Sebastião, ninguém no prédio sabia que o senhor era poeta?
R - Não, sabiam.
P/1 - Mas o senhor disse uma vez que o senhor foi ao programa do Rafael Carvalho.
R - Isso aí, ali na TV Tupi. Até ali ninguém sabia.
P/1 - Conta como foi no dia seguinte?
R - Até ali ninguém sabia. Já tinha mais de ano que eu trabalhava no prédio e ninguém sabia. Eu saía toda noite, mas ninguém sabia. Aí o Rafael me convidou para fazer um programa, fiz até com o Téo Azevedo, eu e Téo Azevedo, fomos fazer o programa do Rafael. Rafael é Paraibano, lá da minha região também. Eu nasci em Solânea e ele era de Caiçaras, mesma terra do Zé Dumont. Aí ele tinha um programa na Tupi, que era no alto do Sumaré, e me colocou para fazer um programa de TV. Eu fui fazer o programa do Rafael e quando terminei o programa aqui, voltei para o prédio, está o povo todo no meu prédio. Estava todo mundo me esperando, “Eu quero ver o senhor. O senhor é artista”. Eu também disse para o Rafael que eu era zelador na Rua das Palmeiras, dois meia oito, eu já me identifiquei logo de cara. Ele perguntou: “Sebastião, você vive profissionalmente da viola?” E eu expliquei. “Rapaz, é o seguinte, tem uma função paralela que eu trabalho, arrumei um serviço de zelador.” E expliquei para ele, ao vivo, no programa. Aí não deu outra, todo mundo assistindo. Quem mandava na época era a Tupi, estava todo mundo: “O senhor fica trabalhando aqui, o senhor é uma artista e trabalhando aqui...”. “Não gente, a situação é assim…” E comecei a explicar, que até ali então eu não tinha como sobreviver profissionalmente direto em São Paulo. Era questão de espaço, que a gente não tinha; era perseguição danada do Nordeste. Só depois da Rádio Atual e depois da Erundina prefeita, depois que a gente fundou a UCRAN [União dos Cordelistas Repentistas e Apologistas do Nordeste] também, que teve parcerias com Secretaria de Cultura, com SESC, com mil coisas, que a gente conseguiu fazer de São Paulo esse espaço nordestino estupendo que hoje é.
P/1 - Seu Sebastião, nós vamos chegar lá.
R - Ô Zé, também convém frisar o seguinte. Eu hoje sinto saudade, gente, de o cara chegar e me abordar na esquina e dizer assim: “Baiano” e isso assim, assim, assim. Eu nunca mais vi ninguém me falar isso aí, sinto saudade.
P/1 - E aí, o que aconteceu? Você saiu do prédio e foi fazer o que?
R - A minha saída do prédio é o seguinte. Quando eu saí do prédio, eu tentei encampar outro prédio, mas só que não precisaria também, eu já estava sobrevivendo da viola. Aí quando eu saí do prédio, eu fui encampar outro prédio, passaram-me para outro prédio. Só que no outro prédio já tinha síndico, tinha mil coisas, ali já era tratado como empregado. Entendeu o negócio? Não era o caso do prédio antigo, que a turma me tinha como um administrador. Entendeu?
P/1 - Mandava soltar e mandava prender.
R - Claro. Qualquer coisinha. “Seu Marinho, ajude aqui por caridade” e não sei o que. Era o cabeça da coisa. Aí no outro prédio eu fui ser mandado, aí não aguentei, não aguentei dois meses. Mas já tinha o canto da viola e tenho até hoje.
P/1 - O senhor conta na outra entrevista, que começou a tocar numa churrascaria que só tinha gaúcho tocando.
R - Essa é a história como a gente começou a fixar a cantoria em São Paulo.
P/1 - E tirar do eixo do Brás. Não é isso?
R - Que até antes a gente só cantava no Brás, virou um mito aquela coisa, virou uma mania. O saudoso Venâncio, da dupla Venâncio e Corumba, autor do “Mata sete”, autor do “Só deixo meu cariri no último pau de arara”, “Boi de Cajarana” e tantas coisas, Venâncio foi um dos pioneiros aqui. Ele começou a abrir esses caminhos nos anos sessenta, com o programa da Rádio Nacional, que hoje é Globo. Ele tinha um programa chamado Pé da Cajarana. Então Venâncio foi quem começou, implantou a cantoria no Brás, e disse que se saísse do Brás a cantoria se acabava. Mas eu, quando cheguei ao Bras, vendo o dia a dia, desde 1976 que eu cheguei, com poucos anos eu comecei a perceber umas coisas, com poucos meses. Que não era o meu cotidiano, o meu dia a dia, eram cantadores dividindo o espaço com vagabundos. Está entendendo o negócio? Se alguém chegava e dava o sinal que tinha alguma grana, com certo dinheiro no bolso, quando dobrava a esquina o vagabundo pegava e voltava e dividia com os cantadores. Era vagabundo infiltrado naquele meio, era coisa terrível. E eu contei isso para o Venâncio e Venâncio disse: “Mesmo com isso. Não tente tirar a cantoria do Brás, que vai se acabar”. Eu fiquei com aquilo… E aliás, Venâncio faleceu e até ele morrer, a gente nunca se alinhou direitinho os dois, porque eu discordava de tirar a cantoria do Brás que ia se acabar. Mas ele morreu vendo que dava para tirar a cantoria do Brás. Eu encampei, cheguei à Rua Augusta, na calçada à noite, gente anima a cantoria. Que, aliás, antes da Rua Augusta, tenho uma história também. Que teve um cara que me ajudou muito aqui, ele hoje está em Campina Grande, é diretor de teatro lá, o nosso querido Wilson Mo. Eu quando... primeiro programa que eu fiz na Rádio Borborema, primeiro microfone que eu encampei, encarei de frente, o Wilson era apresentador, e no final do setenta e seis, comecinho de setenta e sete, estava em casa, liguei o rádio, programa de nordestino. Programa nordestino passando forró. Quando ouvi a voz do locutor, disse “Essa voz é conhecida, meu Deus”. Aí comecei a tentar procurar quem era, tentando lembrar quem era, aí caiu a ficha. Wilson Mo.
P/1 - Wilson Moura?
R - Wilson Mo. Aí eu vou lá à rádio, que era na Capitão Cavalcante, que era na Vila Mariana. Essa rádio era um complexo da Bandeirantes, chamava Rádio Jornal de São Paulo, parece que é isso, ou era Rádio São Paulo. Não, era do Jornal de São Paulo, que era um complexo da Bandeirantes. Aí eu vou e falo com o Wilson Mo e aí a gente marca nas terças. Não, às segundas, quartas e sextas feiras, três dias por semana, eu faço programa com ele e João Quindingues. Aquilo ali foi meio caminho andado, aí a coisa estourou. Numa dessa caminhada já fiquei cantando em vários lugares. Marcava lugar de cantoria, avisava no rádio, todo mundo acompanhando, chegava, a casa lotada, não cabia mais ninguém. E comecei a engordar muito os bares, donos de bares fora do Brás. Mas cantoria oficial mesmo foi essa, a gente começou na Rua Augusta. Eu chego num sábado na Rua Augusta, tinha que fazer uma cantoria ali pertinho, próximo, num bar de um conhecido nosso. E vou descer a Rua augusta, eu morava nas Palmeiras, vou descer aqui... Naquele tempo a gente podia andar em São Paulo, não tinha problema. Peguei a viola e sai descendo a Rua Augusta. Aí quando eu chego à Rua Augusta escuto um barulho danado. Gente para danar, num bar aberto, numa churrascaria. Quando eu chego lá tinha dois gaúchos cantando, repentistas, trovadores gaúchos. Mas não tinha um gaúcho, a não ser o dono da churrascaria. A casa estava lotada, de canto a canto só de nordestinos. Paraibanos, pernambucanos, potiguares, cearenses, o diabo a quatro. E eu vi aquele negócio, digo: “Meu Deus, que coisa mais sem jeito. Aí vou ao dono da churrascaria, eu com a viola: “Você é artista também, tchê?” “Sou”. “Nossos trovadores”. Aí olhei lá dentro do salão, primeiro ele mandou entrar para ver os artistas lá cantando. Eu entrei e voltei e falei: “Gaúcho, aqui tem uma coisa muito errada”. “O que?” “Porque tem uma dupla de trovadores gaúchos, quando o público é todo do Nordeste? Que negócio danado é isso aqui?” Ele disse: “Porque infelizmente o nordestino não tem onde assistir, mas gosta de repentistas, não gosta? Ou do trovador?” Eu digo: “Rapaz, eu sou repentista. Eu acho que o cantador desse público foi bem usado, eu acho que o cantador desse público não são esses dois conterrâneos seus não, seus patrícios. Eu acho que o cantador desse público é a minha linha, que é de repentismo”. Aí ele ficou entusiasmado assim: “Você é repentista? Então canta aí para os conterrâneos seus”.
P/1 - No mesmo dia?
R - Na mesma hora. “Só uma amostragenzinha, para dar uma palhinha”. Aí eu peguei, não tinha nem a minha viola, da “bizaca”, que era para não ter muita coisa. Peguei o violão do gaúcho lá, na hora do intervalo, o gaúcho me apresentou, o dono do restaurante, apresentou para os artistas dele: “Esse aqui é repentista. “Tudo bem” e não sei o que. Aí diz: “Dá um compasso, meu compadre”. Quando eu pego o violão do danado do gaúcho, chego lá em pé no palco, pequeno, assim. Hora que eu chego naquele palco com o violão do gaúcho e ligo o violão no som e puxo no estilo de harmonia, no violão mesmo, aí vi minha gente suspirando fundo, meio “bebaça” e respirando fundo. Aí comecei cantando o estilo da cantoria. Vixe, aí a poeira cobriu e o gaúcho endoideceu, o dono do pedaço. Aí eu falei com ele e no outro sábado a gente marcou. Ele: “Vem fazer uma experiência aqui”. Chamou para fazer a cantoria. “Que danado é isso? Que quer dizer isso?” “Não se preocupe”. “Então vamos fazer o seguinte, os meninos fazem aqui aos domingos - Era um domingo - Você vai fazer aos sábados. Vamos fazer uma experiência no sábado”. Ele não fazia no sábado, porque encostadinho tinha um forró chamado O Cem, que era o número cem, que tinha o forró da Rua Augusta. Ele também não podia concorrer com o forró, no sábado tinha, então ele queria que os gaúchos cantassem no domingo, que não tinha forró. Aí preparou para eu competir com o forró. “Amigo, eu venho”. Falei com o João Quindingues e nós fomos. A gente chegou lá, começou a cantoria, a primeira noite ninguém sabia muito direito, não estava muito certo, mas lotou. Danou-se, o gaúcho viu que dava certo a coisa. Aí a gente marcou todos os sábados. Quando foi o segundo sábado, aproveitei o programa do Wilson Mo, no programa na segunda, quarta e sexta, avisando para o de sábado. Quando foi a noite, meu pai, não coube ninguém na churrascaria do gaúcho. Lotou de nordestino. E cantar, foi uma loucura, não teve forró, não teve o diabo.
P/1 - Que beleza.
R - Aí a gente fez de lá o espaço do sábado, aí faltava o espaço para o domingo. Isso era para acabar de tirar a cantoria do Brás de uma vez.
P/1 - Mas explica para quem não sabe. Como funciona uma cantoria? É o dia inteiro?
R - Repentista é aquele... é o esquema. Por exemplo, o cantador... Hoje não, hoje a maioria está querendo fazer a coisa meio profissional, mas a natureza do repentista em si, ele não sabe ficar só uma horinha de apresentação. O repentista começa a cantar às oito horas da noite e a gente sai matando, matando, matando, até uma hora da manhã, duas horas. E tem vezes que até amanhece o dia com aquilo ali. E o público sempre em cima pedindo cantoria, pedindo motes. Como é que rola uma cantoria? A gente começa com uma sextilha explicando porque está ali, se é um aniversário ou um encontro semanal, e agradecendo as pessoas que ali estão. Aborda todas as pessoas que estão ali, cantando, o cara cantando, falando o nome das pessoas presentes. E ali naquele meio roda a bandeja, fica a bandeja lá na frente e todo mundo participa daquela bandeja, com a contribuição. E o contador saí dali desenvolvendo o trabalho dele. Depois do terceiro baião... Não, quando abre não é com bandeja. O primeiro baião... o primeiro baião é o que? Leva uns trinta minutos de cantoria, o cantador falando e agradecendo as pessoas que estão ali presentes, agradecendo, em sextilhas. Aí vem o segundo baião, que é a segunda etapa, continua em sextilhas. Aí é quando o organizador do evento traz a bandeja. Se o organizador abre, é um hábito nordestino, se o organizador abre com dez reais, todo mundo vai com dez reais, os participantes. Se o dono do ambiente abrir com cinquenta, todo mundo é obrigado a abrir com cinquenta também.
P/ 1 - Eita.
R - Não, chega lá. Tem outros que abrem com cem, e vai assim, maioria todinha acompanha, é um hábito do Nordeste. Então a gente... E aí desenvolve a cantoria, isso é no segundo baião de viola, entendeu? Ele traz a bandeja, o dono da casa abre, o dono do evento, e todo mundo acompanha. Depois que vem a primeira fornada dos convidados do dono e todos pagam à altura dos donos, aí vem o que a gente chama de gatos pingados, aí rola o resto dos gatos pingados. Essa piada do gato pingado é até meio depreciativa, mas é hábito lá do Nordeste. Fazer o que? Aí vem os do cinco, dos dez, aí não tem mais limite, aí todo mundo chega junto. Aí quando termina a cantoria, aí lá vai, todo o público presente, a maioria do público do repentista, todos pedem motes, estilos de cantoria. Um pede um martelo agalopado, outro pede um galope a beira mar, outro pede uma sétima e vamos colocar uma oitava, um quadrão, enfim. Vários estilos da cantoria, pedra embolada... É um monte de coisa. Além disso, aí tem os poemas do repentista interpretar, tanto dele, pode ser da autoria dele ou de outros autores. E daí por diante, essa brincadeira, meu irmão, leva horas, horas e horas. Vai se queimando.
P/1 - Isso era só o senhor e o João?
R - Eu e o João. Só que eu adotei com o João. Como eu trabalhava… Essa cantoria que a gente arrumou na Augusta foi nos anos 1978, quando eu já trabalhava de zelador, e o João era porteiro. Eu trabalhava na Rua das Palmeiras e o João era porteiro na Higienópolis, no bairro Santa Cecília. Como nós éramos empregados, tinha que levantar de manhã, não eu, eu não tinha problema, mas o João tinha que levantar de manhã, que ele trabalhava de porteiro. O que a gente fazia? De oito horas a meia noite era cantoria de família, de casais, para trazer os filhos na churrascaria. Ficava uma maravilha. E de meia noite em diante, aí entravam outros cantadores, colegas nossos. Felelon, no mote dele, entravam... Aí chamava a turma do mé, a turma da cachaça, a turma já vinha do Ucem toda zoada, a maioria vinha zoada. E os cantadores também já chutaram muito, esses chegavam até oito horas da manhã.
P/1 - Nossa.
R - É, eu mais o João não, para as famílias, para os casais, coisa comportada mesmo. A gente ficava até meia noite e todo mundo já sabia, era cantoria minha com João até meia noite, até meia noite ficavam os casais, crianças, todo mundo familiar. E quando dava meia noite em diante era zoeira, era um escarcéu danado. Aí depois da Rua Augusta, aí a gente... Eu digo: “João, a gente vai precisar de um domingo, fixo também”. No prédio que eu morava, morava um japonês, morava um japonês e o japonês tinha um restaurante grande em frente ao prédio. Aí um dia o japonês foi lá para a cantoria da Rua Augusta e gostou da cantoria. Está danado, o japonês com um cabelão lá em cima, espalhava até embaixo assim, cabelo louco. Aí, pelo português, a gente chamava de Valter, mas o nome do bicho era Teru não sei das quantas. Ele era muito meu amigo e disse: “Porque você não usa um dia para cantar lá no meu restaurante? Eu abro também para tu”.
P/1 - Era restaurante do que?
R - O dele era restaurante normal, com comida normal, era comida natural, pratos. O pessoal que trabalhava naquela Santa Cecília todinha almoçava ou jantava no restaurante dele. Aí ele me cedeu os domingos.
P/1 - Você estava falando do Valter.
R - Do japonês. Aí, meu caro, o japonês cedeu o espaço para as domingueiras. A gente preparou as domingueiras e foi um sucesso. A gente fazia o sábado na Rua Augusta e o domingo na Rua das Palmeiras. Casa lotada, uma maravilha, e com isso a gente arrastou um bocado de anos. A gente começou em 1978 para 1979. Aí foi quando em 1979 abriu mais um espaço na Rua Rocha, esquina com a Praça Quatorze Bis. O velho Baião de dois, a primeira casa típica nordestina. Era maravilhoso, eu trabalhei lá também, dez anos fiquei trabalhando nessa casa. Só que o Baião de dois a gente fazia de segunda a quinta feira, porque da sexta em diante, até domingo, era forrozão. Aí a gente fazia cantoria, eu, o Lorinaldo, o Januário, a gente fazia de segunda a quinta.
P/1 - Sebastião. Quando surgiu a parceria com o Andorinha?
R - Andorinha, eu comecei com ele no Baião de dois. Naquela época quando eu cantava com o João Quindingues, o Andorinha era enfermeiro. Aí depois foi o tempo do Baião de dois, aí comecei a adotar também uma linha com o Andorinha, que já não fazia com o João Quindingues. Porque o João era aquele cantador tradicional, que só canta o estilo da cantoria, ele se priva só naquela linha própria da cantoria, do repentismo. Já com o Andorinha não, eu ia fazer uma linha diferente. Não diferente, eu ia cantar um bocado de coisa, pegar emboladas e colocar no meio. O João não entrava nesse tipo de embolada. Era... Era não, é, um cantador tradicional. E o Andorinha era do tipo que topa tudo, era polivalente, aí “duplei” com Andorinha. E pronto, trabalho até hoje por aí, trabalhamos juntos.
P/1 - Já tem quanto tempo?
R - Tem tempo. A gente começou mais ou menos em oitenta, tem chão.
P/1 - Seu Sebastião, eu estou retomando alguns pontos aqui que a gente falou na outra entrevista. O senhor contou três histórias lá, que eu tinha pedido para o senhor contar algumas histórias marcantes. O senhor contou uma que foi a sua chegada na sua terra num grupo escolar, foi seu reencontro com a família. Então nós já temos, está bem contada. A história triste de um fazendeiro inimigo que pediu para o senhor cantar no dia seguinte que tinha morrido...
R - É, coisa triste.
P/1 - E outra, que o senhor estava numa cantoria, que a mulher que estava assistindo era viúva do dono da viola que o senhor tocava.
R - Agora a mesma situação que aconteceu com aquela, aconteceu agora, a uns três anos atrás. Aconteceu outra coisa. Quando eu comecei, a minha primeira cantoria profissionalmente foi feita em 15 de novembro de 1968. Então o seguinte, naquele dia foi um cantador chamado Beija-flor, conhecido na turma como Beija-flor. O nome dele é Cícero Alves de Lima, é um paraibano de Catolé do Rocha, e passou a morar na minha região, casou com uma moça da minha região. E até 1968 eu não cantava profissionalmente e o Beija-flor foi um cantador, que foi o primeiro cantador que eu cantei profissionalmente, que até ali eu levava, cantava com todos os outros cantadores, mas era eu participando das cantorias, como cabeça das cantorias, mas eu não queria um centavo. Entendeu? Só em 1968 que eu comecei a cantar. Aí aconteceu o seguinte. Beija-flor morreu há uns três anos aí. E uns três nãos atrás eu cantei, fui cantar numa cidadezinha chamada Casserengue, que antigamente era vila, Município de Solânea. E eu fui convidado para cantar. Eu sempre fico lá todo mês de janeiro e fevereiro, eu fico na Paraíba. E num desses períodos a mulher de Beija-flor, a viúva de Beija-flor me chama para cantar. “Sebastião, eu quero que você faça uma cantoria na casa da minha mãe. Minha mãe está querendo que você faça uma cantoria. Só que tem uma coisa, você vai ter que cantar com a viola de Cícero” - que é o Beija-flor. E eu fui cantar com a viola de Cícero e me aconteceu quase a mesma coisa. Aí vou cantar com a viola de Cícero, quando eu começo a cantar, começo a entornar a viola de Cícero, Beija-flor, me deu uma saudade tão danada do meu nego veio. Aí eu me senti assim meio aéreo, não estava achando nem que eu estava cantando com outro cantador, para mim estava cantando com Cícero. E teve uma bocada de horas que eu estava cantando e falando nele: “Como que está Terezinha?” Delirei. Sabe aquelas coisas meio doidas que acontecem com a gente? Aí ela disse: “Sebastião, você está cantando com o Pedrinho, não é com Cícero. Digo: “Meu Deus, olha que negócio”. E umas lembranças terríveis que acontece com a gente.
P/1 - E uma lembrança boa?
R - São boas, de qualquer maneira são boas. Porque para mim estava cantando com o Cícero. “Cícero, como é que está Terezinha? Como é que estão teus meninos?” E ela disse: “Você não está cantando com Cícero, está cantando com Pedrinho”. Pedro Soares, que eu chamo mais de Pedrinho. Essas coisas meio loucas, viu?
P/1 - Seu Sebastião, uma história bacana de conhecimento do senhor, de homenagem, como essa da escola, que o senhor já tinha contado. Lembra de alguma?
R - Eu não sei se da outra vez eu falei das minhas. De dois pontos diferentes. Por exemplo, eu, para mim, a minha maior consagração, a coisa que eu mais gostei. Não sei se da outra vez eu falei. Falei? Foi quando a gente participou aqui no Anhangabaú das Diretas já.
P/1 - Não, não falou.
R - Não falei. Participei das Diretas Já, em cima daquele palco ali, no Anhangabaú. Aquela multidão, junto com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, aquela panela politiqueira todinha, estava todo mundo junto. Foi quando eu vi o Anhangabaú todinho me aplaudindo de pé, aquela loucura, aquela maravilha. Para mim aquilo ali foi a consagração. Agora me pergunto o ano, que eu não sei mais, eu não estou nem lembrado qual foi o ano. Aquele movimento das Diretas já, qual foi?
P/1 - Foi 1984.
R - Foi em 1984, é mais ou menos por isso mesmo. Sabe o que é? O Osmar Santos era quem estava encampado. E a gente, eu e o (____?)... Daí a pouco o povo gritando e pedindo que a gente voltasse de novo, a gente fez uns cinco minutos e aí ficou o povo gritando que a gente voltasse. A gente voltou e fez mais dez. Aí começaram a pedir, foi que a gente brecou ali, coisa bonita, o Anhangabaú todo lotado, aquela multidão. Uma loucura aquilo ali.
P/1 - Que bonito.
R - Coisa bonita. Aí vem o contrário, vem o contrário. Em 1989, foi depois do Anhangabaú, acho que foi em 1989 para 1990, mais ou menos, que tinha um danado de um grupo, uma banda, que eu também nem sei qual é o nome. Não sei se foi... Era uma banda que foi para as bandas de Recife e lá encontrou uma louca, tinha uma mulher louca que cantava umas emboladas loucas lá na praia. E essa banda gravou essa embolada da louca lá da praia, que eles encontraram. Eu não sei qual era a banda. Aí essa Revista Bizz, que divulga rock, negócio das bandas, ligou para mim pedindo para eu abrir o show dessa banda no Olímpia.
P/1 - É mesmo?
R - Aí foi o meu sacrifício. E antecipadamente eu digo: “Vou abrir”. Falei com o menino, a apresentação parece que era numa sexta feira à noite, quando foi na segunda feira já tinha depositado o cachê, e um cachê muito além dos meus padrões. Entendeu.? Tem até uma piada, quando a esmola é boa, a gente desconfia. Mas bateu certinho, a apresentação era na sexta e na segunda eles já tinham depositado. Aí pronto. Quando chegou a sexta feira, eu com Mário Heleno, chega lá, a multidão danada, era aquela fila enorme de gente, cheguei na frente do Olímpia, estava uma revolução. Aquela Rua Clélia estava lotada de canto a canto, multidão para assistir essa banda. Esqueci o nome da banda, rapaz, sei que era uma banda que estava com um sucesso danado na época. Aí, para a gente abrir o show da banda, quando estou no camarim chega o Heleno. A gente prepara tudo direitinho, o cara fez uma vistoria lá no palco, onde era que a gente entrasse, tudo bem certinho. Quando chega a hora para a gente entrar, tudo escuro, aquele negócio, aí abriram as cortinas e nós entramos, de acordo com o esquema. O cara disse: “Os pontos eram aqueles, você fica naquele e você fica nesse”. Dois pontos, eu vou para o meu ponto e Heleno fica no dele. Aí a cortina abre. Quando a cortina abre, começa a cantar... Meu compadre, tudo escuro. Quando abre a cortina, a minha estrofe saiu, mas a do Heleno só teve jeito de sair, saiu dois versinhos, porque o resto não saiu mais.
P/1 - Por quê?
R - Olha, o que foi. Batom, tênis, o diabo... Tudo que não prestava caiu em cima da gente. Uma raiva, porque na hora que acenderam as luzes, que a gente olhou, estava toda aquela turma com aquele cabelo moicano, cabelo doido, aquele negócio, aquela crista grandona lá, cabelos vermelhos e azuis. Aquelas meninas com aqueles rapazes todinhos, estava tudo em ponto de bala para embalar na banda. Aí entra dois repentistas cantando ao som da viola. Vaia, vaia, ô vaia. E jogaram tudo que tinha em cima da gente, jogaram bolsa, jogaram sacola, tênis, o diabo. Eu sei que o coitado do Heleno saiu sem fala. Eu também recuei, não tinha mais, era pancada por cima da viola, “Pápápá”. Jogaram tudo. Parece que o povo estava preparado para jogar troço na gente. Então foi a maior vaia que eu tomei em toda a minha vida. Aí estou te mostrando esses dois ângulos, o aplauso em nome da multidão no Diretas Já, e a vaia estupenda do Olímpia. Foram dois cenários diferentes. Outra coisa que eu consegui em São Paulo atuar. Eu não sei se falei da outra vez, alguém pergunta assim para mim, alguém já perguntou, jornalista já perguntou, “Onde é que a viola atua?” Aí eu expliquei, o José Ermínio, irmão do Antônio Ermírio de Moraes, aqui nessa região aqui dos Jardins, todos os anos eu cantava no aniversário do José Ermírio, na mansão do Zé. Ou era na casa dele ou então naquele Tênis Clube Harmonia, ali perto da Nove de Julho, ali embaixo, na região dos jardins. Aí eu digo: “Gente, onde a viola atua é o seguinte. Eu tenho cantado na casa do José Ermírio, que é irmão do Antonio, empresário danado. Entendeu? Tenho atuado e tem uma coisa, no barraco mais simples da favela, lá na periferia. Então ela está em todos os ângulos. Outra, na Igreja da Sé, dentro da Catedral da Sé eu já cantei muitas vezes. Digo que cantei várias vezes já. Depois da Catedral da Sé, depois atuei lá dentro nesse tempo de Carandiru”. Eu vivo dentro do Carandiru também, na cela para os...
P/1 - É mesmo?
R - Fiz. Então dois ângulos, a Catedral da Sé, dentro da Catedral, e no Carandiru. Na mansão do José Ermírio e na favela. Então ela já cobriu todos os ângulos, a viola fez isso, já participei.
P/1 - Queria falar agora sobre umas coisinhas, sobre o fazer da sua profissão, da sua arte. O cantador já nasce pronto?
R - Nasce nada, isso é papo furado, eles são fantasiosos, né rapaz? Os cantadores. A fantasia deles é tão louca, que eles viajam nela, na fantasia. E não é só o cantador, é o músico, eu tenho visto isso com o pintor, o diabo a quatro. “Fulano nasceu pintor”. “Aqui”, que nasceu pintor (risos). O repentista tem um aprendizado muito longo. Eu, por exemplo, comecei menino cantando. Quando eu vim me profissionalizar eu estava com vinte anos de idade, viu? Foi quando eu achei que tinha condições de partir. Hoje a gente pega um moleque, começa a preparar o menino, vai, vai, vai. Quando vai se profissionalizar tem que ter no mínimo cinco a oito anos de treinamento. Cara nasceu cantador... Não tem esse negócio não, é treinamento. Aliás, é tudo.
P/1 - Tudo tem que ter.
R - Isso é o pintor, o músico, qualquer área. Nasceu.... Nasceu o caramba.
P/1 - Vocês precisam muito da memória?
R - A memória está acima de tudo, repentista sem memória não funciona. Por exemplo, eu estou cantando, uma hipótese, você é meu parceiro. Eu cantando com você, você tem, eu tenho, nós dois temos, temos trinta segundos. A gente tem trinta segundos para preparar uma estrofe, que seja de dez versões, que seja de oito, sete ou seis. Entendeu? A gente tem trinta segundos. Pelo menos, pelo menos. Se não preparar a estrofe toda, mas você tem que rever os trintas segundos, preparar, chegar ao menos com oitenta por cento dela pronta, vinte por cento você se vira. Entendeu? Então se você não tiver, a memória não for boa, você arrebenta. Porque naqueles trinta segundos que você tem que preparar, na hora que você abre a boca, tem que estar gravada. Entendeu? Gravada no seu subconsciente. Então a memória ali... Então se você falhar um pouquinho você se perde. Então memória está acima de tudo. Repentista... por isso é um problema quando a gente chega a certa idade. Os neurônios velhos começam a desandar, o cantador começa a ficar meio lento, coisa séria.
P/1 - Mas Seu Sebastião, conta para o público entender um pouquinho da dificuldade. Por exemplo. Como é a estrutura de um martelo agalopado?
R - O martelo agalopado, a gente dá o nome de martelo agalopado aos decassílabos, pode ser em sextilhas, uma estrofe de seis versos, oito ou dez versos. Então o seguinte, o martelo agalopado, você vê que é decassílabo se for de dez, então é aquele que o primeiro verso rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto e o sétimo com o décimo, oitavo com o nono. Tudo na linha de dez sílabas, cada verso dez sílabas. Agora...
P/1 - Isso em trinta segundos?
R - Você tem trinta segundos, você tem trinta segundos para preparar pelo menos oitenta por cento da sua estrofe. Agora, não é só o martelo, aliás, da cantoria de viola um dos estilos mais difíceis é o martelo, principalmente o que se chama martelo solto, o martelo que eu sou obrigado a pegar na sua deixa. No verso que você deixar, eu tenho que pegar. Então aqueles trinta segundos meus vão ser mastigados a mil. Você está entendendo? São dez versos. Caramba. Todos têm que ser rimados. Está entendendo? Os outros estilos não, a maioria tem versos soltos, que você não se preocupa com ele. Apesar de que ainda tem o problema da metrificação também, que é uma coisa séria. É o seguinte, quem nunca se aventurou em pelo menos fazer uma mísera quadra, uma redondilhazinha, uma quadrazinha. Quem nunca se aventurou a fazer uma quadra, vai morrer sem saber o sacrifício que tem o repentista. Agora, se o cara queimou mil neurônios para fazer pelo menos uma quadrinha, obedecendo rima e métrica e oração, esses três itens cruciais do mundo da versificação, que é universal, ele vai saber o que é o trabalho do repentista. E o repentista também, se raciocinar direitinho, nunca mais vai dizer na frente de um microfone que nasceu repentista. É mentira.
P/1 - Seu Sebastião, o senhor está preocupado com o legado de fazer com que a coisa amplie. O senhor criou a UCRAN e até o senhor falou na entrevista, “Nós éramos muito perseguidos até aparecer Erundina, rádio Atual”, uma série de coisas, inclusive a UCRAN. O Senhor poderia contar um pouco sobre isso?
R - É, porque a UCRAN chegou num período em São Paulo, ela necessitava de uma associação, para o repentista ter uma referência, repentista ter uma organização que respeitasse ele no campo da cantoria. Porque até ali, o Venâncio criou uma Associação chamada “Arporfobe”, que eu também nem sei definir como era o nome completo dela. O que é “Arporfobe”? Era um negócio danado. Mas o Venâncio usou aquilo ali para dar o pontapé inicial do movimento do repentismo em São Paulo, aliás, no Nordeste todo em si. Mas quando eu cheguei, em 1976, já não existia mais, Venâncio tinha relaxado e abandonado para lá. E era uma perseguição danada com os cantadores. E eu, um dia, num festival que a gente fez na Estrada do Campo Limpo, dia primeiro de maio de 1988, dia do trabalhador, a gente fez esse festival. E juntamente com uma advogada amiga da gente, nunca mais encontrei, nem sei qual o destino dela, Doutora Maria da Penha Guimarães, que era pernambucana, gostava muito de cantoria, junto com ela e mais outra amiga minha, a Marta Campos, que já foi secretária do bem estar da Erundina, nunca mais encontrei Dona Marta, nós três nos reunimos num espaço, numa mesa do Baião de dois, lá onde eu cantava toda segunda, até a quinta feira. A gente se reuniu em 1988 e a gente fez os estatutos da associação, da UCRAN, União dos Cantadores e Repentistas e Apologistas do Nordeste, que hoje o cantador vai trocar por cordelista. Agora estou preparando a documentação direitinho já, porque repentista e cantador é a mesma coisa, então já pega o cordelista e coloca no lugar do cantador. Então a associação que era o nosso objetivo, era fazer com que o cantador tivesse um ponto de referência, justamente uma entidade que o representasse. E o meu desejo também era fazer a associação, que era para continuar o projeto do Venâncio, eu quis resgatar o Arporfobe do Venâncio. Pelejei, pelejei, não tinha mais jeito. Aí tinha caducado, mil coisas, tinha que reformar... Agora não tem mais jeito, pronto, a gente abriu mão. E o Venâncio disse a mim um bocado de vezes: “Você abre uma associação aqui, não conte com cantadores, conte mais com público da cantoria. Porque com o cantador não vai funcionar”. Tinha experiência própria, já estava calejado de associação. Aí a gente fez com que o povo da cantoria se responsabilizasse pela coisa. E naqueles anos, quando a gente abriu, em 1988, foi muito bom, aquilo foi vital. Foi através dela que a gente conseguiu parcerias, com a Secretaria de Cultura e um bocado de coisas, SESC e mil coisas. Aliás, quando a Rádio Atual foi lançada, na pedra fundamental estavam lá, eu, representando a UCRAN, a Erundina, representando o Nordeste em si, Seu Pedro Sertanejo, representando o forró, e teve um representando a capoeira, esqueço o nome do cara. Todas as linhas do Nordeste. Então a UCRAN teve uma marca lá na pedra fundamental naquele Centro de Tradições Nordestinas que tem aqui no bairro do Limão.
P/1 - Que beleza.
R - Teve lá, a gente esteve lá, todo mundo estava lá na fundação. Dentro de um brejo, meu querido, ao lado era uma favela, no meio era um brejo, um brejo mesmo. Um lugar terrível, imundo, lixo pra caramba, fétido pra danar. E o Zé de Abreu todo entusiasmado, primeiro que ele sabia que ali estava a carreira dele, foi deputado três gestões, três mandatos. E ali a gente deu o pontapé inicial. Até quando eu chego hoje no Centro de Tradições Nordestinas, lá no CTN, eu olho para um lado e olho para outro e digo: “Rapaz, quanto sonho perdido morreu aqui”. Porque o nosso sonho ali era coisa linda.
P/1 - Seu Sebastião, uma das tarefas, missão da UCRAN, foi colocar a mulher aí nesse mundo da cantoria. Como é que foi isso?
R - Bem, Isso aí... Porque toda organização depende do cabeça e eu, desculpe a modéstia, eu sempre fui apaixonado por mulher cantando, sempre gostei da mulher cantando. Desde menino já tive minha (____?), minhas musas inspiradoras que cantavam. Eu gostava. Aliás, quando entrei na viola mesmo, encampando, já foi inspirado por mulher, chamada Maria da Soledade. Maria da Soledade chegou lá na minha região, hoje ela está bem madura, é sindicalista, para quem não sabe, ela substituiu o lugar da Margarida, uma que mataram lá na região de Lagoa Grande, uma sindicalista. Ela presidia o sindicato e mataram essa Margarida, os senhores de engenho mandaram matar a Margarida e a Soledade substitui essa Margarida. E eu, vendo Soledade cantando, cantava ruim pra caramba, não rimava nada com nada e aquele sacrifício dela fez com que eu entrasse na viola também. Não como profissional. Entrei, entusiasmei-me com o sacrifício dela, então inspirado nas mulheres. E tinha Otília Soares, que antecipava a Soledade, outra que é falecida também, foi uma artista extraordinária. Então fui sempre apaixonado pelo mundo da mulher cantando. De repente, e ao contrário, os homens são contrários a cantoria de viola com mulher cantando. Eu, por exemplo, no meu quadro tem sempre mulher cantando. Eu comecei com Otília Soares, depois a Soledade, depois gravei com Mocinha de Passira. Produzi o primeiro, através da UCRAN em parceria com a UMES, o primeiro CD de dupla feminina. A primeira dupla feminina foi produzido pela gente.
P/1 - Quem que era?
R - Minervinha Ferreira e Mocinha da Passira, as duas. Hoje já tem, um bocado delas gravaram, mas o primeiro foi com a gente. Aí depois a gente produziu Luzivan Matias e Lucinha Saraiva. Então são duas duplas femininas que a gente conseguiu colocar no cenário da viola.
P/1 - Luzivan já veio aqui.
R - A Luzivan é parceira nossa, trabalha comigo também. Ela e a Mocinha também, eu gravei com a Mocinha também.
P/1 - Então são vários CDs gravados lá na UCRAN? A UCRAN participou.
R - Participou. Vários, das mulheres, tem quatro CDs de mulheres. E com parceira de homem com elas têm vários também.
P/1 - Por exemplo, chega um cantador e desce na rodoviária Tietê. Se ele procurar a UCRAN ele vai ter um apoio?
R - Agora não, mas já teve. Nos anos carentes mesmo, a gente precisou mesmo, entendeu o negócio. A gente atuou de 1988 até 2000, foram doze anos trabalhando firme mesmo, junto com todos os cantadores. Era apoio para o cantador mesmo, era um apoio geral. E, além disso, aí a gente usava uma tática, um esquema de mapear as cantorias em São Paulo, para ver a evolução do que estava acontecendo. Então, por exemplo, quando chegou em 2001, foi em 2001, foi o último levantamento que a gente fez. Todo final de semana a gente mapeava as cantorias em São Paulo. Todo cantador que cantasse em São Paulo era obrigado a entrar em contato com a UCRAN e dizer o local que ia cantar e a gente fazia o levantamento de quantas duplas iam cantar. Então, em 2001, a gente conseguiu, é o último levantamento que a gente fez. E isso aconteceu várias vezes, todos os meses a gente fazia esse levantamento, todos os meses, todos os meses. A gente entrava em contato com as associações no Nordeste, de Fortaleza, de João Pessoa, aliás, do Nordeste todo, Campina Grande, de Caruaru... E a gente fazia o levantamento de quantas cantorias tinham nas cidades. Entendeu o negócio? Aí quando a gente fez esse levantamento, em 2001 a gente teve em São Paulo, no mês de dezembro, a gente teve trezentas e uma cantorias. Aqui em São Paulo. Nomes de dezembro de 2001. Resultado, juntou com as cantorias do Nordeste todinho, as nove capitais do Nordeste não deram cento e dez. Então São Paulo superou, foi muito além. Você me entendeu? Dali para frente a gente parou ali.
P/1 - Entendi, já tinha um mercado para ele.
R - Já tinha o mercado pronto. Era para fazer o levantamento pra ver como era o desenvolvimento da cantoria em São Paulo e foi através da Associação que a gente conseguiu fazer isso aí, através de parcerias, parcerias e mais parcerias. Primeiro, a gente, juntamente com vários movimentos que a gente fez, foi com a fundação da Rádio Atual, que a gente tinha participação direto já com a Rádio Atual, foi quebrar essa besteira desse preconceito doido de perseguição com a música do Nordeste aqui em São Paulo. A gente conseguiu quebrar um bocado disso e a UCRAN foi junto nesse movimento.
P/1 - Seu Sebastião, desses dez anos, daí para cá, o senhor fez muita coisa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua participação na literatura, eu vi o seu livro, a sua adaptação para crianças do Romeu e Julieta.
R - Romeu e Julieta, aquilo ali era uma dívida que eu tinha para com os meus professores velhos. Eu, por exemplo, vou te explicar o seguinte: as minhas primeiras letras, vamos colocar logo direto, a minha carta de ABC foi o cordel. “Cordel”, que eu aprendi essa palavra cordel aqui em São Paulo, lá no Nordeste a gente chamava folheto romance. Então o seguinte, no meu tempo de menino, aquele povo do interior, era muito difícil escola, e os pais de família, para distrair a molecada, iam para a cidade e compravam os folhetos e levavam para os filhos. Aí os meninos começavam a brigar ali, aprendendo as primeiras letras. Aqueles que sabiam alguma coisinha passavam para os outros. Esse aqui é o “B”, com “A” dá “BA”, e lá vai e não sei o que. Começava naquilo ali. Os moleques iam começando com aquilo ali e daqui a pouco já começava a ler. Então aquilo ali foi muito forte para mim, pelo fato de me tornar cantador. O cordel foi quem me teleguiou e então eu devia tudo a esses mestres. Se eu sou cantador, mesmo tendo a parte fonográfica, tendo feito um bocado de participações em vários CDs, vários LPs, coletâneas, de muita coisa por aí gravada por parte de fonografia, mas faltava a escrita. Então o seguinte, uma dívida que eu tinha com meus mestres, e eu peguei a encampar. O Marco Aurélio me deu o toque do Romeu e Julieta. Eu digo: “Eu pego”.
P/1 - Marco Aurélio é o editor da Nova Alexandria?
R - É. Só que nesse tempo, quando ele falou, ele não tinha entrado na Alexandria ainda. Quer dizer, já tinha entrado, porque justamente, a Alexandria foi quando o Marco entrou, logo de cara que o Marco entrou nesse projeto. Eu estava lá em casa e o amigo nosso... Como é que era o nome dele? Agora danou-se, rapaz. Cara nascido lá no Pará, como é que é? Poeta nosso, trabalhou na Secretaria de Cultura muitos anos... Celso de Alencar, caramba. Celso ligou para mim e disse: “Sebastião, tem uma editora aí que está querendo lançar todos os clássicos da literatura universal, e lendas também”. Eu digo: “Qual a editora?” “A Nova Alexandria”. “Você tem poetas para colocar esse negócio? Vê quem a gente pode pegar o nome, que eles estão procurando”. Aí logo de cara eu disse: “Nós temos o Marco Aurélio, que está trabalhando na Editora Luzeiro. É um crânio, uma potência nisso aí”. Aí lá vai, dei um bocado de nomes, Varneci, Moreira, um monte deles, Costa Sena, Valdeck de Garanhuns... Aí ele anotou a lista todinha. Aí quando foi com poucos dias, Marco disse: “Rapaz, a Nova Alexandria me convidou. Eu digo: “Está bom”.
P/1 - E como foi adaptar? O senhor pegou o texto original do Shakespeare?
R - É, até foi gostoso, porque nunca tinha me aprofundado naquele texto. A gente usava na cantoria, nada com conhecimento. Usava mais de ouvido, que alguém tinha falado e não sei o que. Jogava alguma coisa, nada de conhecimento. E o Marco estava na Nova Alexandria e ele está no projeto, então está ótimo. Aí ele disse assim: “Você vai ter que entrar também, rapaz”. Aí foi que eu me toquei, que eu tinha uma dívida com meus mestres. Eu vou encampar: “Escolhe uma ai, Marco”. “O que acha de Romeu e Julieta?” “Está bom”. Aí ele até me emprestou o livro. E li o texto todo direitinho, aí fiz uma ilustraçãozinha lá em cima. E está lá.
P/1 - Não foi bem isso não, tem muito trabalho. Eu queria que o senhor lesse um pedacinho para a gente.
R - Era uma dívida que eu tinha com meus mestres. É rapaz, Romeu e Julieta.
P/1 - Podia ler o início para a gente?
R - Ficou bonito, Ilustração do Murilo. Murilo é a copia do Bin Laden. (risos)
P/1 - Parece mesmo.
R - Murilo é uma figura.
P/1 - Seu Sebastião, o senhor podia ler uma duas estrofes aí para a gente?
R - Vamos, para você hoje eu vou ler. Só que tem o seguinte, isso aqui, no meu tempo de moleque, a gente não lia, a gente cantava.
P/1 - Então o senhor que sabe, como for melhor.
R - Aqui tem a apresentação do Marco, que ele já pegou direitinho tudo. Isso aqui para a criançada é uma maravilha. Quem quiser informação, está tudo aqui nesse livro. A Alexandria está de parabéns. E como todo cordelista, todo cordelista tem que buscar a fonte. Aí eu digo assim: “Vasculhando os alfarrábios desbotados na gaveta, deparei-me com a obra maior de todo o planeta. É a shakespeariana de Romeu e Julieta. Aconteceu na Itália, na cidade de Verona, esse sinistro episódio, que no conto menciona, que sendo contra o amor, o ódio não funciona”. Vamos repetir essa estrofe. “Aconteceu na Itália, na cidade de Verona, esse sinistro episódio, onde a obra menciona, que sendo contra o amor, o ódio não funciona”.
P/1 - Que beleza.
R - É. “E foca duas famílias ricas da sociedade, Montecchio e Capuleto, que agitavam a cidade. Com uma velha pendenga de mortal rivalidade, essa rixa se estendia aos mais remotos parentes. Envolvendo servidores, até os seus dependentes, nos encontros casuais, as brigas eram frequentes, serviçais das duas casas, só viviam de bravatas. Derramamento de sangue, correrias insensatas, quebravam a harmonia daquelas ruas pacatas. No Castelo Capuleto, de laureado esplendor, tinha a jovem Julieta, um verdadeiro primor, a pureza de um anjo, a candidez de uma flor. A personificação de Vênus, Ísis e Latona. Se Leonardo da Vinci exagerou na Madona, Deus acertou na beleza da jovem flor de Verona. Nem as deusas do Olimpo, ninfas do Maranello, musas do Monte Parnaso e as virgens do Carmelo foram dignas da beleza da flor daquele castelo.”
P/1 - Foi fundo.
R - Era linda. A Julieta era linda. “Parecia um querubim, enviado lá de cima, para fazer do amor a sua matéria prima, merecendo das pessoas a mais devotada estima.” Aí diz no castelo dos Montecchio: “Vivia o moço Romeu. Que no regaço dos pais, nasceu, viveu sadio e cresceu. O jovem mais elegante que Verona conheceu” E daí por diante, quem quiser mais leia o livro, pega na Alexandria.
P/1 - Seu Sebastião, esse movimento novo de cordel na escola, de cordel como profissão para crianças. Como o senhor está vendo isso?
R - Eu acho que é um tempo novo. é um tempo novo. Se ontem o cordel me foi tão importante na minha caminhada, eu acredito que hoje isso, para desenvolvimento da leitura, sabe que é um treinamento forte, né rapaz? Que obedecendo as rimas e as métricas... Quer dizer, de acordo com a métrica dos versos, são todos cantantes, aí a pessoa... É muito mais prático para desenvolver a leitura, para a criançada isso é ótimo. Invés de estar envolvida com tanta coisa, tem tanta coisa que a criança se envolve por aí afora, coisas que até não levam a canto nenhum. Então acho que a vez agora é pegar esse cordel e ver esse caminho. Eu acho que a Alexandria está de parabéns com isso aí. O que está precisando com mais seriedade é de colocar isso na escola, passar a ser quase... Vamos colocar...
P/1 - Adotado.
R - Adotado. Logo de cara, vamos colocar logo de cara - eu sou meio bravo - como obrigação.
P/1 - Seu Sebastião, eu queria dar um fecho aqui. Eu não sei se o senhor lembra a outra vez, o senhor improvisou um pouquinho na viola sobre o que o senhor contou na entrevista. A gente já tem um material riquíssimo lá, mas se o senhor pudesse ter uns dez minutinhos...
R - Outra coisa também que é curiosa é o acróstico.
P/1 - O acróstico. E Bastião deu certo, que tem seis letras.
R - Não, são sete. São doze estrofes de sete versos. Bastião Marinho. É quando vem o desfecho final e diz assim: “ Barrados pelo destino, aqueles jovens leais, sacrificarão as vidas, tomando rumos fatais. Impotentes e sem comando, ambos morrerão pagando, os velhos erros dos pais. Montecchio para Julieta, a nora que Deus lhe deu, recomendou uma estátua imensa no túmulo seu. Noutra, Capuleto tenro, homenageou seu genro, o venerável Romeu.” Bastião Marinho.
P/1 - Isso é uma tradição?
R - É, o acróstico.
P/1 - De se fazer o acróstico no final? O senhor começou com sextilha e aí fez a setilha no final.
R - É, é obrigatório. Segundo meus mestres, assim como eles falaram: “O poeta que se preza tem que deixar o acróstico no final”.
P/1 - Seu Sebastião, hoje em dia como está sua rotina de vida de trabalho?
R - Rapaz, aos sessenta e três anos, muito feliz. Estou feliz. Porque, de qualquer maneira, o movimento hoje está bem corrido, que eu até pensei um dia, quando eu completasse os sessenta anos, de brecar a viola, brecar de cantar, mas parece que agora, depois dos sessenta, foi que eu peguei pique. Eu agora não sei quando vou parar não.
P/1 - Tem muita lenha para queimar ainda.
R - Enquanto a gente viver com o trabalho, você está firme na caminhada, eu acho que você tem que continuar. Até um advogado amigo meu: “Porque você não se aposenta?” Eu tenho medo de me aposentar, não estou precisando me aposentar ainda não (risos).
P/1 - Que bom. O senhor está envolvido agora em que projetos?
R - Os projetos que a gente está fazendo sempre junto, juntamente sempre com a UCRAN. A gente está querendo agora encampar, eu estou querendo voltar para a rua. Teve uns anos aí em São Paulo, que todo final de semana a gente tinha duas ou três duplas de repentistas atuando em praças por aí afora. E eu estou querendo brigar junto com a Secretaria de Cultura para ver se volta a “Arte na Rua”.
P/1 - Muito bom.
R - Precisa. Precisa, porque a gente usou muitos anos isso aí e foi importantíssimo para o desenvolvimento da cantoria em São Paulo. A gente fazia todo final de semana, fazia Largo do Arouche, Praça Marechal Floriano, lá em Santo Amaro, fazia São Miguel, fazia às vezes Praça da República. E daí por diante. Todo final de semana tinha quatro ou cinco duplas atuando por aí afora. E isso precisa muito aqui em São Paulo...
P/1 - Seu Sebastião, para terminar essa parte aí, sem a viola...
R - ...E além do movimento nas praças. Eu estou, a gente está com um projeto de logo, de julho para frente, talvez de montar um programa de rádio. Precisa.
P/1 - Ah, é? Opa, avisa para a gente.
R - Precisa. Estamos brigando aí, correndo atrás de patrocinadores. Esperei, levei vários, tentei assanhar um cantinho e outro, as organizações de rádio, para ver se cediam horário por conta da área cultural, mas não tem jeito, eles querem dinheiro mesmo. Então tem que comprar, fora do ar não pode ficar.
P/1 - Pois é. Seu Sebastião, como o senhor avalia então sua trajetória? Esses sessenta e três anos de vida.
R - Meu compadre, é o seguinte: relativo à cantoria, porque minha vida todinha foi cantador. Eu um dia fui lavrador, caçador, fui tudo na vida, estudante preguiçoso pra danar... E o resto me campeei tudo para a viola, aí fiz da viola meu mundo e continuo até hoje. E nessa trajetória conquistamos muitos espaços, que eu jamais sem a viola teria alcançado. Como por exemplo o Brasil, consegui conhecê-lo de ponta a ponta, aventuras loucas que jamais sem ser cantador faria. Por exemplo, nos quinhentos anos de Brasil, junto com a Globo, eu consegui chegar numa aldeia lá na região do Xingu, chegar numa aldeia onde o índio não tinha contato com o homem branco. Aí através de um guia da tribo, a gente o usou como guia, a gente chegou até lá para gravar a matéria. Não conseguiu gravar, porque o pajé só aceitava se fosse entrar lá dentro para filmar a matéria. Quinhentos anos de Brasil, o que interessava era índio que não tivesse contato com ninguém, com o branco. Mas o pajé abriu uma exceção, mas só entrava lá dentro se fosse todo mundo pelado, disse que a roupa era maldição, disse que se entrasse com roupa ia dar epidemia e morria todo mundo. E a matéria não saiu, porque tinha um bocado de moças que foram e não se atreveram. Então são essas aventuras loucas, que jamais noutro espaço eu teria chegado lá, ver o índio natural lá. Estivemos bem pertinho mesmo, eu entrei lá pelado, o diretor, que era o filho daquele... do Carlos Manga, o Manguinha, o filho, levou a gente até lá dentro e eu vi como era a aldeia, tinha a maior curiosidade, nunca tinha visto. Foi através da viola, sem ela não tinha chegado lá. Andar de Búfalo... O que é o Búfalo? É aquele avião, hidroavião que eles usam no Amazonas; ficar no meio do rio com aquele aviãozão. Um mundo lá do outro lado, ninguém acreditava, aquilo é coisa de doido. Cai quatro vezes dentro do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul, tudo aventuras de cantador. Naqueles aviões de teco-teco... Ali é o seguinte, o avião entra em pane, por qualquer coisinha o motor dá defeito. Por isso que eles andam seguindo os rios, você tem que ter um treinamento já de cair no rio.
P/1 - É?
R - Tem. Eu trabalhei seis meses de campanha, em 1986. Naquela época que prenderam a carne do boi, ninguém comia carne de jeito nenhum. Lá eles matavam vinte, trinta bois em cada comício, uma cultura que eles têm de assar a banda do boi inteira, assim. Faz um braseiro danado. Então, essas aventuras todinhas, passei por isso tudo como cantador. Chapada dos Guimarães, Guairá, Serra Gaúcha, todo aquele mundo todinho da Serra Gaúcha, todinha, São Raimundo Nonato, no Piauí, enfim, o Amazonas todinho, cruzar o rio todinho fazendo gravação para a sandália Azaleia, eu sempre participei. Brasil de ponta a ponta, só fiz isso porque era cantador, sem ser cantador, jamais eu faria, entendeu? Então são essas coisas que levam a gente a se sentir realizado. Aí você pergunta: “E financeiramente? Financeiramente que vá para os quintos, o importante é nossa sobrevivência, está ótimo.
P/1 - Seu Sebastião, queria agradecer a sua volta dez anos depois, com mais histórias e com o mesmo bom humor.
R - Eu que agradeço. Isso tem que fazer, essas histórias têm que fazer pelo menos de dois em dois anos.
P/1 - Então em 2021 vamos retornar.
R - Retocando, retocando, retocando.
P/1 - Eu queria só dar um parada e se o senhor topar, o senhor conta a sua trajetória de São Paulo para cá cantando.
(Toca músicas)
R - Sabia que os primeiros cordéis que eu lia, cantava todos?
P/1 - Nem memorizava?
R - Cheguei cantar dez a doze livros de cordéis, dez a doze folhetos eu conseguia. Primeiro era esse, era o meu principal cordel. Como adorava... “Eu vou contar uma história de uma moça e de um rapaz. De um caso recente que deu-se em Minas Gerais. O leitor preste atenção. O amor falso o que que faz.” Essa é de um autor da Paraíba, já falecido, Antonio Eugenio. Ele fez essa história, ele fez essa e depois ele fez tipo de recreação na vida de Maria Madalena. Fez do Cavaleiro Roldão, depois criou mais outras três ou quatro histórias, Sandoval e Anita. Essa se chama Valdemar e Irene, vamos lá, só não sei se a afinação era essa. Quebra não. “O mundo do cantador, muita linhagem ela tem. Oba bá bá bá”. Como é o nome, menina? Gabriela. “Vou contar para Gabriela, que a minha origem vem, do mundo do repentista, os segredos que ele tem. Cantando as suas mágoas e às vezes queixas de alguém. Comecei assim também, com meus dez anos de idade, hoje com sessenta e três, do ontem sinto saudade. Mas só tem no presente e vai me deixar a vontade. Eu sinto a vitalidade na minha mente florir, tenho então que cantar, que prosar e que sorrir. Que todos nós temos o Norte, lugar certo para onde ir. Oi gente, eu cheguei aqui no ano setenta e seis, foi na primeira semana de abril, aquele mês, que eu passei a morar na São Paulo de vocês. Chegando a primeira vez, senti uma frustração brava, São Paulo não era aquela, que antes tanto eu pensava, que eu não achei nem um terço do que a turma me falava. Foi uma frustração braba quando deixei os meus pais e cheguei até São Paulo, no velho bairro do Brás. Contudo ela me aplicou coisas que não esqueço jamais. Mas São Paulo não é mais aquela terrinha boa, aquela São Paulo antiga, toda cheia de garoa. Eu encontrei em setenta e seis, quando deixei a Leoa.” A Leoa, gente, é a Paraíba, para quem não sabe, a Paraíba. Dá o nome de leoa porque ela caminhou sempre junto de Pernambuco e Pernambuco é conhecido no Nordeste como Leão do norte.
P/1 - Podia cantar um pouquinho da UCRAN?
R - “Para o mundo da cultura, a nossa UCRAN investe, pois o seu objetivo, é trazer nosso Nordeste, com a linha cultural para esse meio Sudeste. Trazendo a cultura agreste, de sertão e cariri, um pedacinho das coisas do chão aonde eu nasci. Que aos poucos a gente está divulgando por aqui. Em São Paulo eu recebi o clarão de outra aurora, a virtude que em São Paulo, onde a mente se aflora. Que dá cobertura aos filhos e abraça aos que vem de fora. Em São Paulo toda hora se vê um taco de história, cada rua, cada praça, representa uma memória, de uma figura querida que foi tal palco da glória. A gente encontra histórias perto da Praça da Sé. O Largo de São Francisco quem ali coloca o pé, lembra da universidade, a grandeza que ela é. No Brás à Praça da Sé, lembrando a época passada, faz lembrar de Castro Alves, na caminhada malvada, aonde perdera o pé em uma triste caçada. Santo Amaro na jogada tem a estátua de Borba Gato, carrega uma espingarda, tem chapéu e tem sapato. E o dedão ainda aponta para onde outrora era a mata, mas é que o progresso ingrato, apresentou tudo de si, se Anchieta voltasse para essas bandas daqui, talvez chorasse com nojo do seu Tamanduateí.”
P/1 - Que beleza.
R - Que coisa, né?
P/1 - Está muito bom. Podia falar um pouquinho das Diretas, do começo das Diretas? O senhor falou que teve uma passagem bacana no começo das Diretas, lá no Anhangabaú.
R - “Naqueles anos oitenta, quando eu estive por cá, lá no Anhangabaú, e bom que lembrando vá, quando eu participei das grandes Diretas Já. Comício Diretas Já, naquele divino meio, político pra toda banda sem mostrar aspecto feio. Só sei que o Anhangabaú de sonhos estava cheio. Ô gente naquele meio eu gostei para chuchu, o grito de “diretas já”, em pleno Anhangabaú. Senti o Brasil em peso, me olhando a olho nu.”
P/1 - Muito bom.
R - É uma coisa que a gente jamais esquece. Naquele tempo era uma coisa séria, por exemplo, nos anos setenta eu cantava numa casa chamada Fulô da Laranjeira, do Saulo Laranjeira.
P/1 - Do mineiro lá, Saulo Laranjeira?
R - Na Alameda Santos. E a nossa cantiga lá, naquela época a gente participava de movimentos, setenta e seis, setenta e sete, largando a lenha. Era nossa maneira, era romântico fazer aquilo. Eu usava uma barba grande, era romântico aquilo, era muito gostoso. E numa dessas manifestações, ali dava muitos estudantes, repentista era o único que se sobressaía naquele campo. E mesmo já tendo a abertura com o Figueiredo, aquela coisa ali, não tinha jeito, vinha aquela ressaca do tempo dos militares. Eu estava cantando uma noite, eu e Quindingues, eu no primeiro piso, Elomar no segundo, aí a gente deixa o primeiro piso, Elomar desce para o primeiro piso e a gente sobe para o segundo. Eu estou lá cantando, largando a lenha, eu e o João, e tome pau, tome pau, “Pápápápá”. A figura que a gente mais gostava de esculhambar era o Delfim Moreira, a gente adorava, nós arrebentávamos com o Delfim. E nessa brincadeira, nesse período, o ministro era Murilo Macedo.
P/1 - Murilo Macedo, ministro do Trabalho.
R - É. E tinha aquelas guerras danadas lá no ABC, tinha havido um negócio das greves, prendeu um bocado de metalúrgico. E a gente está largando o cassete no ministro, “Pápápá”, e só via mulher, a mulher assim, apontando assim como dedo, assim. A mulher apontando com o dedo assim, mas o danado do salão era escuro, eu olhava e não via nada. E tome letra, tome letra, tome letra. Aí quando terminei, eu desço, a mulher corre e encontra: “Rapaz, você largando e o homem está lá no canto da parede, ali, na outra mesa do canto”.
P/1 - O ministro?
R - Sim. Eu subi para saber se era verdade, não acreditei não. Aí olhei de soslaio, não é que o cara estava bem no cantinho da parede. Não disse nada, ô susto danado, ô susto doido. Coisas que acontecem com a gente. Aí Saulo disse: “Ô medo danado”.
P/1 - Se quiser encerrar falando da entrevista e dos vinte anos do Museu da Pessoa.
R - “Eu agradeço ao Museu da Pessoa, por uma entrevista boa que eu fiz até agora. Nesse cenário de papo e de cantoria, coqueiro da Bahia. Quero ver meu bem agora, quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vamos embora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. A José Santos e à simpática Gabriela, nessa festa pura e bela, tenho que agradecer agora. Que alegraram com boa companhia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. Pois o Museu no seu quadro tão comum, a história de cada um, representa toda hora. Isso para a gente é mais do que alegria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. É em Pinheiros, Vila Madalena, onde se entra em cena diversos versos feitos na hora. Onde a viola no cenário denuncia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora.” Adeus e até outro dia.
P/1 - Que beleza.
Recolher