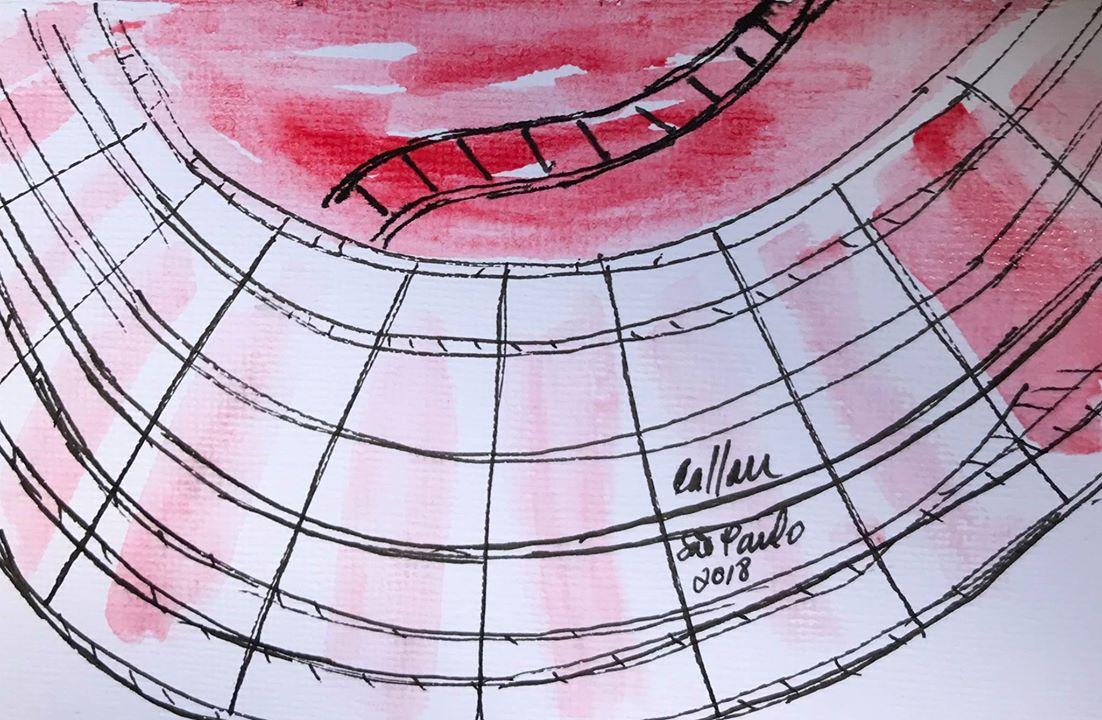Somos todos Blanche Dubois
Por Angelo Brás Fernandes Callou
Numa época marcada pela descrença nas instituições, pela violência e pelo cinismo, só mesmo o teatro para enfrentar o ódio circulante no Brasil de agora. O teatro, diz o encenador alemão, Thomas Ostermeier, “é um santuário habitado por uma força regeneradora.”
Foi catarse, não tenho outro substantivo para denominar o que aconteceu comigo e, possivelmente, com toda a plateia do Tucarena, São Paulo, durante a peça Um Bonde Chamado Desejo (Tennessee Williams, 1947), sob a direção do jovem Rafael Gomes. Todos, sem exceção, aplaudiram de pé ao final do espetáculo.
Catarse no sentido atribuído ao teatro, ou a certa compreensão do teatro, de que ele é capaz de expurgar sentimentos da audiência, quando confrontada com um drama. Nem o filme Dançando no Escuro (Lars von Trier, 2000) mobilizou em mim tantos sentimentos, os mais díspares, os mais recônditos, os mais belos, como em Um Bonde Chamado Desejo.
Enquanto me dirigia ao teatro, visitava minha memória. A única vez que havia assistido à encenação desta peça foi em 1991, no Teatro Barreto Júnior, no Recife. Ao me lembrar disso, quase desisti de comparecer ao Tucarena, embora informado de que a personagem Blanche Dubois seria encarnada pela extraordinária atriz Maria Luísa Mendonça. Explico esta incerteza.
Quando O Bonde estreou no Barreto Júnior, sentou-se ao meu lado o jornalista Alexandre Figueirôa, na condição de crítico de teatro do Jornal do Commercio. A certa altura do espetáculo, parte do cenário despencou. Rimos constrangidos. Figueirôa não poupou a direção realizada pelo experiente Milton Baccarelli, ao publicar “Um bonde chamado tropeço.” Foram demolidoras as observações que fez ao desempenho dos atores.
Com certa razão, pois a interpretação no teatro (há controvérsias, claro) é a pedra de toque dessa arte milenar. Não à toa, Antunes Filho se...
Continuar leitura
Somos todos Blanche Dubois
Por Angelo Brás Fernandes Callou
Numa época marcada pela descrença nas instituições, pela violência e pelo cinismo, só mesmo o teatro para enfrentar o ódio circulante no Brasil de agora. O teatro, diz o encenador alemão, Thomas Ostermeier, “é um santuário habitado por uma força regeneradora.”
Foi catarse, não tenho outro substantivo para denominar o que aconteceu comigo e, possivelmente, com toda a plateia do Tucarena, São Paulo, durante a peça Um Bonde Chamado Desejo (Tennessee Williams, 1947), sob a direção do jovem Rafael Gomes. Todos, sem exceção, aplaudiram de pé ao final do espetáculo.
Catarse no sentido atribuído ao teatro, ou a certa compreensão do teatro, de que ele é capaz de expurgar sentimentos da audiência, quando confrontada com um drama. Nem o filme Dançando no Escuro (Lars von Trier, 2000) mobilizou em mim tantos sentimentos, os mais díspares, os mais recônditos, os mais belos, como em Um Bonde Chamado Desejo.
Enquanto me dirigia ao teatro, visitava minha memória. A única vez que havia assistido à encenação desta peça foi em 1991, no Teatro Barreto Júnior, no Recife. Ao me lembrar disso, quase desisti de comparecer ao Tucarena, embora informado de que a personagem Blanche Dubois seria encarnada pela extraordinária atriz Maria Luísa Mendonça. Explico esta incerteza.
Quando O Bonde estreou no Barreto Júnior, sentou-se ao meu lado o jornalista Alexandre Figueirôa, na condição de crítico de teatro do Jornal do Commercio. A certa altura do espetáculo, parte do cenário despencou. Rimos constrangidos. Figueirôa não poupou a direção realizada pelo experiente Milton Baccarelli, ao publicar “Um bonde chamado tropeço.” Foram demolidoras as observações que fez ao desempenho dos atores.
Com certa razão, pois a interpretação no teatro (há controvérsias, claro) é a pedra de toque dessa arte milenar. Não à toa, Antunes Filho se dedica, há mais de 50 anos, à formação rigorosíssima desses seres estranhos, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT/Sesc-SP).
Estranhos porque atores não podem mentir para si mesmos e, portanto, para os outros, no desempenho desse ofício. O teatro é lugar da verdade, pois constituído de matéria viva – o ator no palco. Qualquer deslize na inteireza da verdade do personagem, que seu corpo mediatiza, quebra a comunhão entre este corpo e o público. Lembro-me de Antunes numa entrevista se referir a um ator que se emocionou no palco, ao interpretar um personagem: quer se emocionar, vá para a plateia, critica o diretor.
Atores bem formados para o sacerdócio atiçam, na audiência, todos os sentimentos humanos. Mesmo os mais vis, que não ousamos, nem em sonho, admitir que sentimos. Só os outros. Tristeza, rancor, loucura, abandono, covardia, tirania, inveja e ódio são sentimentos que estão, entre tantos outros, na arena do teatro – nosso grande espelho. Por isto, a arte teatral reivindica uma posição político-filosófica, pois nos leva a refletir sobre nossa subjetividade na realidade social concreta.
Tudo isso para dizer que há encenações em que vivenciamos a vida pelo teatro – seu sofrimento e gozo –, e, em outras, apenas assistimos ao espetáculo. Na montagem do Recife, lembro-me, perfeitamente, de ter apenas assistido Suzana Costa, no papel de Blanche Dubois. Depois se soube, pelo próprio diretor, que o espetáculo não estava, ainda, no ponto de estreia. Ao lado disso, eu tinha como referência a Blanche Dubois vivida pela atriz inglesa Vivien Leigh, que recebeu o Oscar de melhor atriz por este papel, em Uma Rua Chamada Pecado, filme de Elia Kazan (1951). Hoje, talvez, minha reação fosse diferente, porque mudamos nossos modos de ver e sentir, portanto, a nossa própria percepção na plateia do teatro.
Seja como for, estou às portas do Tucarena e nem imaginava o que iria me acontecer naquele bonde. Os atores entram em cena, ocupam o espaço circular. Os vagões simbólicos começam a ranger sobre os trilhos.
A protagonista da peça é Blanche Dubois. Uma jovem senhora atormentada pelo esmaecimento da juventude e pelas agruras que se abateram sobre ela e sua família: a perda da propriedade das terras, a morte dos pais e irmãos, sua viuvez precoce e a demissão da escola onde lecionava, por falta de decoro, devido ao seu envolvimento amoroso com um aluno de 18 anos, após a morte trágica do marido, igualmente jovem.
Quando Tennessee Williams escreveu essa peça, a América saía da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Período que provocou na sociedade americana alterações nas relações sociais, na mobilidade das pessoas, no papel das mulheres, na entrada de migrantes nos Estados Unidos, nos graves problemas socioeconômicos, como se refere José Carlos Felix. É nesse clima de “euforia e medo”, como sintetiza Isabel Vianna, que se situa a personagem Blanche Dubois, como representação das consequências econômicas, sociais e psicológicas vividas naquele país.
Sozinha, vilipendiada, destituída de bens, Blanche cai em desatino. Fantasia um mundo cordial, afetivo e generoso. Busca no outro, particularmente nos homens que leva ao Hotel Flamingo, espelunca onde mora, o sonho da felicidade não realizada: “Eu tenho de admitir que adoro quando os outros me dão atenção...,” verbaliza numa das cenas. Na verdade, Blanche busca encontrar o amor perdido com o suicídio do jovem homossexual com quem se casara, cuja morte se culpabiliza: “Desde então, a luz que vinha iluminando a minha vida apagou-se de repente. E nunca mais houve outra luz em minha vida que fosse mais forte que esta pobre luz de vela...” Por falso moralismo, esta mulher é expulsa do Flamingo. Sem ter para onde ir, desce do bonde Desejo, num bairro pobre de New Orleans.
Vai ao encontro de sua única irmã Stella, casada com Stanley Kowalski, filho de migrantes poloneses. No dizer de Blanche, um homem rude e primitivo. A partir do encontro de Blanche e Stanley, personagens contraditórios e sedutores, a plateia fica tensionada. Blanche presa à fantasia, às roupas, às joias (falsas) e à perda da juventude, por isto só permite ser vista à sombra, à meia-luz; Stanley é a vida em estado bruto, a realidade em carne viva, do migrante, da pobreza, da alegria sem poesia, sem arte, sem perspectiva de mudança. É a partir desse lugar que Stanley martiriza Blanche ao trazê-la para esta realidade, negada por ela, peremptoriamente, em delírios, cada vez mais acentuados, até atingir a loucura final, quando é estuprada por Stanley.
Não há como não abraçar a personagem Blanche Dubois, sua luta por uma vida mais digna, não propriamente só de bens, mas de afetos, ao buscar sair daquele fosso das ilusões perdidas. Por outro lado, não há como não odiar Stanley, com seu grande espelho cristalino a nos revelar a dura realidade dos despossuídos, dos becos sem saída, que tanto ele quanto Blanche estão acorrentados.
Saio do teatro tomado pela certeza de que somos todos Blanche Dubois num bonde chamado Brasil. Tomara que possamos saltar do vagão antes do desvario final. E com a mesma força que emana desta mulher.
Bairro de Campos Elíseos, São Paulo, 14 de março de 2018.
“... houve algum progresso no mundo desde então. Coisas como a arte, a poesia, a música, uma espécie de nova luz apareceu... Em algumas pessoas sentimentos mais nobres começaram a surgir... E são esses sentimentos que devemos cultivar. E fazer com que eles cresçam em nós, e agarrarmo-nos a eles, e fazer deles a nossa bandeira, nossa marcha escura, para onde quer que estejamos indo...” (Blanche Dubois) Texto da peça Um Bonde Chamado Desejo: http://asdfiles.com/1NoD Vide artigo de Thomas Ostermeier em: https://institutoaugustoboal.org/2013/05/06/para-que-serve-o-teatro/
Vide artigo de José Carlos Felix em: http://www.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/ColoquioLetras/josecarlos.pdf
Vide introdução da tese de Isabel Vianna em: http://www.humanas.ufpr.br/portal/letrasgraduacao/files/2014/07/Isabel_Vianna.pdf
Recolher