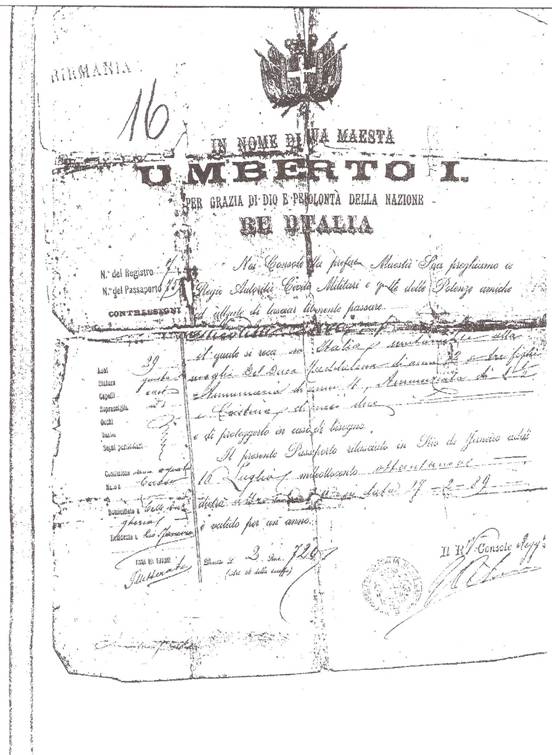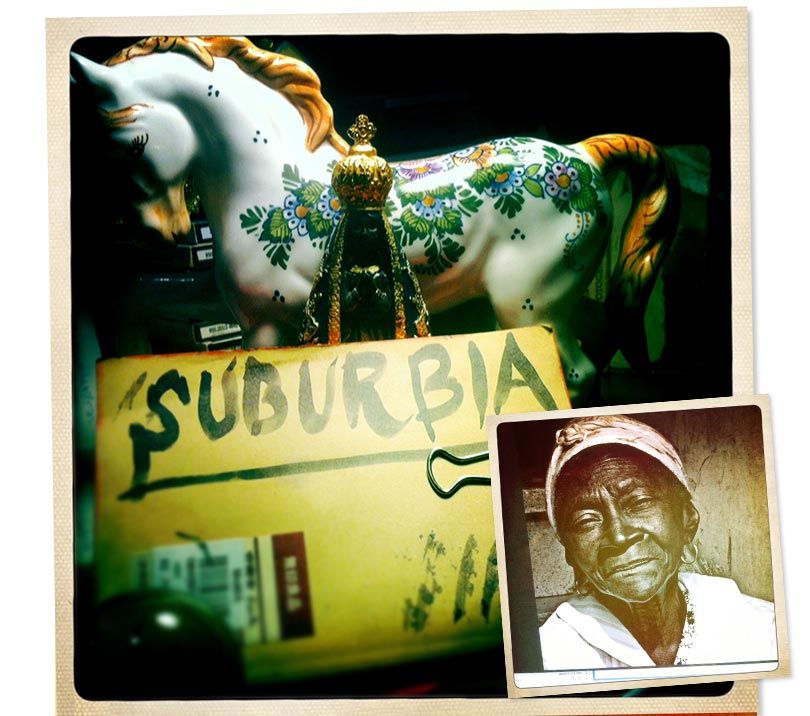P/1 – Você prefere que te chama como?
R – Guti.
P/1 – Meu nome complexo é Gotschalk da Silva Fraga. Eu nasci em Alto Garças, Mato Grosso, quase divisa de Goiás, na verdade. Filho de Maria e Joaquim.
P/1 – Você nasceu quando? Data?
R – Nasci em 15 de março de 52.
P/1 – O Joaquim e a Maria são de Garças, Mato Grosso?
R – São de lá. Não, minha mãe, acho que ela nasceu em Minas. Meu pai é de lá. Meu pai é de 1800 e tal, eu só lembro do meu pai velho. Quando eu nasci meu pai tinha 60 anos já, alguma coisa assim, porque eu sou o 21. Eu sou de uma família que meu pai... A minha irmã mais velha é mais velha que a minha mãe. Minha irmã mais velha fez 90 anos agora, o mês passado. É. Meu pai era doidão, né? (risos).
P/1 - E seus avós paternos e maternos são do Mato Grosso, de Minas?
R – Sim, paternos sim, mas eu não conheci, obviamente, né? E maternos, todos de Mato Grosso, do mato mesmo.
P/1 – Materno, mas a sua mãe não era de Minas?
R – Sim, mas ela foi Minas, sei lá, eles foram pra lá e ela nasceu lá, mas eles são...
P/1 – De Mato Grosso.
R – De Mato Grosso mesmo.
P/1 – Seus pais se conheceram lá?
R – Se conheceram lá.
P/1 – Você sabe qual era a atividade dos seus avós, maternos e paternos?
R – Lavoura, lavoura.
P/1 – Eles trabalhavam na lavoura.
R – O meu avô, da minha mãe, eu tenho uma lembrança dele, que mesmo ele trabalhando de lavoura ele trabalhava muito com... Com, como é que fala? Com folhas, de remédios, ele trabalhava muito com remédios naturais, sem compreender absolutamente nada.
P/1 – Você chegou a conhecê-lo?
R – Avô conheci, me lembro eu pequeno, obviamente.
P/1 – Seus pais, você sabe como seus pais se conheceram?
R – Não sei muito, não. Não sei porque é muito doido, né? Essa história de você nascer e ser o último, eu sou o 21 (risos), eu só me lembro do meu pai coroão, só me lembro do meu pai coroão, já. Eu nasci ele já era coroão. Aí, nunca viajei da minha mãe: ‘como é que vocês se conheceram’. Se ela falou também nem me lembro, não.
P/1 – Aí, quando você nasceu nessa casa, era qual casamento do seu pai?
R – O último.
P/1 – Ele tinha casado quantas vezes?
R – Ele tinha casado... Não, ele só casou uma vez, mas antes ele tinha essa, ele teve uma história e ele teve essa minha irmã mais velha, que é negra. A minha irmã é negra. E, depois casou, teve vários filhos e depois que casou com a minha mãe.
P/1 – Ele teve vários filhos com outra mulher.
R – Exatamente.
P/1 – Quantos foram?
R – Ah, não me lembro. São quatro, não, dois irmãos legítimos que eu tenho, pai e mãe, é eu e meu irmão, então você conta, 2, 3, 19 com a outra.
P/1 – 19 com a outra e com a sua mãe 3?
R – Com a minha mãe dois e um que foi a primeira, e Eurídice.
P/1 – E você conhece todos os irmãos, você conhecia?
R – Todos. Todos. Maior paixão. Eu não vejo essa minha irmã mais velha tem, sei lá, uns 25 anos talvez. Eu liguei pra ela na festa de 90 anos. Emocionante. Emocionante.
P/1 – E seu pai fazia o quê?
R – O meu pai, teve uma época, porque eu me lembro de fases que eu morei em fazenda, assim, tipo, se você me perguntar ‘o que você brincava quando criança?’, essa memória eu tenho. Eu brincava de vaquinha com manga, com frutas, botava paradinha, palitinhos, eram minhas brincadeiras, eram brincadeiras que a criança tinha nessa época. A gente morava numa fazenda. E meu pai, na sequência, virou escrivão numa cidade, nessa minha cidade chamada Alto Garça. Ele era escrivão. Mas era uma cidade doidona, tipo, nem luz tinha. Nem luz tinha.
P/1 – Ele era escrivão e sua mãe...
R – Minha mãe, doméstica e lavoura. Minha mãe sempre foi de roça.
P/1 – E seu pai escrivão.
R – Meu pai escrivão.
P/1 – Vocês moravam numa casa lá em Garças?
R – Em Alto Garças. É, morávamos numa casa.
P/1 – E os outros irmãos, os outros 19, frequentavam sua casa?
R – A maioria, a maioria frequentava minha casa.
P/1 – Como era a relação familiar da sua mãe com os filhos do outro casamento?
R – Tinha uma relação bacana, de respeito. Não de muito viquiqui. Não, de respeito. Eles não moravam com a gente, eles moravam em outra casa, eles já eram adultos, né? A faixa etária chegava muito próximo da minha mãe. Minha mãe era nova em relação a minhas irmãs mais velhas. Minha mãe atualmente está com 86 anos, e eu tenho irmã de 85, irmã por parte de pai, além da Eurídice de 90, então tem uma faixa etária aí, uma galera bem coroona já. Imagina, eu com 60 sou o mais novo! (risos).
P/1 – E como era essa sua casa, descreve ela.
R – A minha casa, cara, era uma casa simples, sempre muito simples, criava-se muita galinha. Tinha muito a questão da sustentabilidade, sempre foi algo que sempre teve em casa. Minha mãe sempre plantou o que a gente comia, praticamente quase tudo o que a gente comia minha mãe plantava, e criava galinha. Era uma casa muito simples, eu dividia meu quarto com meu irmão e minhas duas irmãs por parte de mãe, eu tenho duas irmãs por parte de mãe. E me lembro disso, nunca foi uma coisa hiperconfortável, era confortável, mas aquele papo de roça, era tudo meio roça mesmo. Imagina essa época, se você pensar, 1952, o que era Mato Grosso? Pra você ir de Goiás pra Mato Grosso você gastava três, quatro dias de ônibus enfrentando terra, atolava, era doideira. Era uma coisa isolada do mundo.
P/1 – Quer dizer, você tinha 23 irmãos?
R – 21.
P/1 – 19 do seu pai, 2 irmãs...
R – Não perdão, perdão. Eu errei o cálculo aí, verdadeiramente. Porque tem duas irmãs por parte de mãe, então são quatro, com cinco, cinco, menos 21 dá quanto? 16. Então meu pai teve 16 só com uma esposa.
P/1 – O cálculo era esse.
R – É, o total era esse.
P/1 – E como que era dentro da sua casa, quem que exercia a autoridade?
R – Ah, pai. Pai é que determinava as ordens. Essa época era, o machismo dominava tudo, né? Minha mãe foi morar com ele, acho que era uma determinação. Tenho lembranças, tenho lembranças, mas não tão forte assim em relação à relação deles muito. Era uma coisa de sobrevivência, era um cotidiano muito simples. Era um cotidiano tipo, quem dava as ordens pra mim era minha mãe, normalmente, não era o meu pai: “Moleque, vai pegar pequi”. Então a gente tinha que sair pro mato pra pegar pequi pra trazer pra comida, então tinha umas paradas meio assim, sacou? Não tinha, meu pai não vinha falar. Essa coisa doméstica, quem dominava era a mulher, eu me lembro bem disso, esse domínio era da mulher. E meu pai não, meu pai ficava na questão burocrática dele lá, que eu não me lembro nem bem como ele pegou esse esquema de ser escrivão na época lá.
P/1 – Você teve algum tipo de educação, formação religiosa?
R – Tive. Não em Mato Grosso, eu tive em Goiás, quando eu mudei pra Goiânia. Porque nós moramos esse tempo lá, eu me lembro que a minha mãe, com as dificuldades, as pessoas tinham muita fé e tal. Eu me lembro que na casa, que meu pai teve uma fase muito ferrada lá, que eu me lembro que ele ficou muito tempo sem ganhar dinheiro e a gente passou pindaíbas, ficou um tempo muito grande mesmo na pior. E eu me lembro que minha mãe uma vez fez uma promessa e fez uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida em casa. Hoje minha mãe é evangélica. Agora, em Goiás eu fui religioso uma época.
P/1 – Aí, com quantos anos você entrou na escola?
R – Se eu te disser que eu me lembro da escola só quando eu mudei pra Goiânia. Porque eu me mudei pra Goiânia em...
P/1 – Quantos anos você tinha?
R – Eu tinha, ia fazer oito anos. Eu mudei, ia chegar 60, quase fundação de Brasília.
P/1 – E por que vocês mudaram pra Goiânia?
R – Porque a minha mãe queria dar algo melhor pra gente. Nós morávamos numa cidade que acho que nem escola direito tinha. Não tinha luz, a cidade não tinha luz. E a minha mãe mudou pra lá pra uma aventura de abrir as possibilidades. Nós éramos, eu me sentia um índio lá em Goiânia quando eu me mudei (risos). Me sentia um índio. Você sai do mato, a nossa brincadeira era assim, tipo, eu me lembro de brincadeiras lá no Alto Garça que era tipo assim, os garotinhos falavam assim: “Pô, meu pai caçou um índio”. Como se índio fosse um animal, então tinha essa, porque todo mundo era criado ali no meio do mato. Normal eu estar assim e passar uma onça pintada. Imagens que eu tenho de estar em cima aquele bando de siriemas passando, entendeu? A gente fugia pra tomar banho no rio, então tinha um jogo doideira ali que era maneiro, era maneiro. Pô, eu banhava no Rio Araguaia, que era um rio perigoso. A gente, pô, fugia, ia banhar no Rio Araguaia, então tinha umas ondas maneiras que a gente tem. Eu tenho imagem de estar em casa assim, um dia, e uma cobra sair do chão, eu tenho essas imagens. Eu tenho imagem de uma vez meu pai botava a gente pra fazer certas coisas, tipo, eu pequenininho montei num cavalo, o cavalo disparou, eu não conseguia parar o cavalo, eu tenho essa imagem, pocotó pocotó pocotó no meio do mato assim. Um tio meu é que cercou o cavalo, eu não conseguia parar. Eu só tenho imagens disso, sacou? Eu tenho imagens que eu levantava cedão, é, eu levantava cedão, antes do dia amanhecer, e a minha função era, po, porque lá moía cana, então era pra fazer açúcar, era pra fazer essas paradas, né? Eu me lembro que eu me levantava, minha função, eu era pequenininho, pegava na frente do cavalo e ficava rodando no engenho, assim, pra moer cana. Morrendo de sono. Só lembranças assim, sacou? Doideira. E só pra lembrar porque daqui a pouco a gente vai sair de Alto Garças. Por que é Gotschalk? Porque eu fui com dez anos, né? Por que Gotschalk? Por que esse nome alemão lá em Alto Garças? Porque lá morava o Fritz, morava um médico alemão. Imagina, ele morava lá desde antes de 1950, 1940 e tal. Ele que sugeriu o nome do meu irmão, que se chama Gutemberg, e o meu, que é Gotschalk.
P/1 – Ele sugeriu.
R – Aí, depois de coroão agora que eu fui pensar assim: “Pô, deve ser porque devia ser um fugitivo lá do Hitler, da Alemanha”. Porque como que um cara desse vai parar láááá em Alto Garça, no meio do mato, da floresta, fechadona? O cara devia dever muito, cara. Ele não foi ali por idealismo, viver na natureza, não tinha isso maluco. Você não concorda? Eu fico pensando hoje. E eu tenho imagem do Fritz. Ele era careca, doutor Fritz. E era o único médico que tinha na cidade. Era o médico da cidade. Gotschalk. A pouco tempo atrás eu descobri, significa ‘abaixo de Deus, acima de rei’. Bonito, né? Mas aí é isso, ficamos lá e fomos pra Goiânia.
P/1 – E aí, como é que foi essa chegada em Goiânia?
R – Goiânia era uma coisa nova, né? Ver uma casa em cima da outra, isso me lembro muito, prédio, coisa que não tinha a menor noção, asfalto, luz à vontade, essas coisas todas. E a gente lá, foi maneiro, lá a gente estudando, comecei a estudar.
P/1 – Vocês foram morar aonde?
R – Nós fomos morar num bairro pobre lá em Goiânia, e eu estava, fazia, me lembro que eu frequentava igreja, fui coroinha. Eu me lembro que eu ajudava a missa em latim, não entendia absolutamente nada, mas ajudava a missa em latim. Era fiei à missa, era fiel à religião, sem compreender nada. Eu me lembro de hoje assim, se você perguntar sobre fé, essas coisas, a fé era uma fé impulsionada, não era uma fé que eu falava assim, ‘ah, eu tenho fé’. Não. Tinha um ritual que a gente tinha que fazer pra ser coroinha, tipo, você tem que filmar, você tem que saber mexer na câmera, então eu tinha que saber ser coroinha. Como é que é? Chegar tal hora, organizar, arrumar a roupa do padre, ajudar o padre a se vestir, era um escravinho do padre, no bom sentido, né? Segurar a parada na hora da comunhão. Eu me lembro disso, eu era muito fiel (risos). Muito fiel. E em latim. Para eu ser coroinha eu tive que aprender em latim. Até hoje não sei o que significava nada.
P/1 – O que você... Fala uma frase.
R – É... Vou chutar, hein? Dominus o bispo ad Deo gledifica juventute mia (risos). Acho que a única frase que me lembro, mais ou menos, acho que era essa. Mas era muito legal. E quando eu comecei a fazer, em Goiânia, eu comecei, aí a gente teve uma crise maior financeira, e essa crise maior financeira...
P/1 – Seu pai deixou de ser escrivão lá?
R – Meu pai entrou numa crise lá que ele não podia estar sendo escrivão. Não me lembro a burocracia qual era, e a gente ficou sem ganhar dinheiro nenhum nessa época. E aí, a minha mãe pagav o aluguel onde a gente morava, chegou uma hora que minha mãe não pode mais alugar. Aí, comprou um terreno na periferia da periferia. Que pra chegar lá, malandro, você tinha que atravessar um mato, era doideira, era doideira. Isso eu me lembro perfeitamente. Atravessava um mato grandão mesmo, pum pum, eu era garotinho novinho, malandro, eu me lembro que eu saía da escola, eu ia pra escola, chorava de medo porque eu estudava à tarde, eu chorava de medo de passar no meio do mato sozinho pra chegar na minha casa. E era muito doido porque era, essa fase trash mesmo, que a gente encarava a pobreza de uma forma muito doida, minha coroa sempre foi guerreirona, e meu pai, meu pai, de escrivão, nessa época que a gente veio pra cá ele ficou lá pra resolver as paradas, ficou lá em Alto Garça, e a gente ficou em Goiânia. Mas era uma coisa doida nesse processo...
P/1 – Eles estavam separados?
R – Não, não. Não tinha como ele ficar lá porque lá pelo menos tinha, porque no meio do mato, você pelo menos tem a sobrevivência natural, que é, você pode não ter dinheiro pra tomar a cachaça, mas você tem a comida natural que vem, de criação de galinha, toda família cria galinha, toda família tem ovo, as hortas que se plantam. Tinha uma tia minha que morava lá que plantava, então termina sendo isso uma coisa normal, essa questão da sobrevivência. Mas a minha mãe não, minha mãe foi encarar, foi costurar, foi fazer doideira lá em Goiânia, ela fazia isso. Eu não sei se é tudo isso também. Minha mãe fala assim, às vezes minha mãe fala assim: “Tem coisa que sua mãe já fez pra cuidar d’ocês que você nem sabe”. “Ah legal mãe, tá legal”. Ela fala umas paradas assim. Mas eu me lembro que a gente tinha uma coisa que era diferente, quando a gente relaciona hoje, talvez hoje por eu ter a vida que eu tenho em termos de Nós do Morro, e de relacionar com todas as classes sociais, talvez isso vem forte em mim, que é a questão, na época eu estudava em escola pública. E a escola pública era disputada. A escola pública era disputada, qualquer classe social. Então ali se juntava as pessoas e as pessoas se gostavam independente do financeiro, porque o intelecto era igual. Então isso, de alguma forma, veio e marcou profundamente a minha vida. Eu vejo que hoje a minha relação, a minha reação talvez venha muito dessa uniformidade social que tinha através da educação. Que hoje, qual o rico que estuda numa escola pública? Aliás, nem pobre, praticamente, quer estudar em escola pública. O pobre que pode sacrificar numa escola particular, ele vai querer fazer isso. E é melhor, é melhor. Eu tenho um filhote meu que tá fazendo aqui, o Ramon, eu que crio ele por exemplo, eu to querendo tirar ele da Escola da Rocinha. Não rola, ele estudava no Stella Maris, escola particular, era uma outra parada. Essa? Pô maluco, sinistrão, então eu to querendo. Vamos ver o que eu faço o ano que vem. Mas essa época, socialmente era lindo. E eu tenho coisas muito interessantes nesse período porque com tudo isso, a minha mãe, minha mãe radicalizava. Prioridade era estudo, prioridade era estudo. E eu, com todas essas histórias, assim por exemplo, eu nunca soube o que era Natal, nunca vivi Natal. Não tenho a menor ideia. Comemorava Natal pra quê? Por quê? Não tive essa criação. Caiu a ficha uma vez, do Natal, que eu tava engraxando, eu tava engraxando e vi uma movimentação enorme, as pessoas movimentando, movimentando, movimentando as casas, e eu engraxando nas casas, eu falei: “O que é isso?”. E foi nesse primeiro dia, que era dia 24, eu nunca esqueci disso, era dia 24 e ainda saí, e pra economizar peguei uma carona num trem, que eu morava no subúrbio, lonjão, e peguei uma carona num trem até chegar perto da minha casa, pra depois ainda andar um pedação pra chegar em casa. Quando eu cheguei em casa todo mundo já tava dormindo. Aí que eu comecei a entender a parada do Natal, que tinha comemoração, essa coisa toda, mas eu não tinha ideia do que era o Natal. Nunca tive assim a família se juntar pra comemorar, nem pra comer farinha, nem pra comer farofa, não se juntava pra nada (risos). Mas era tranquilo, mas a gente tinha uma relação de muito respeito, com tudo isso, com toda essa luta pela sobrevivência, a gente teve uma relação de muito respeito.
P/1 – Com quantos anos você começou a trabalhar?
R – Ah, foi logo que nós mudamos pra Goiânia, acho que eu tinha dez anos. Dez anos já era engraxate.
P/1 – Você começou como engraxate.
R – É. Exatamente.
P/1 – Como você fazia, onde você ficava? Como era esse trabalho?
R – Não, eu andava nas ruas oferecendo pra engraxar, mas eu sempre fui meio bobão, cara? Eu achava que eu era sempre menos que os meus amigos, sabe? Eu sempre fui meio contemplativo, acho que talvez por eu não ter abertura nas relações sociais, eu ficava contemplando, eu era meio contemplativo das ações das pessoas. Não era um cara que eu ia, que eu convivia, não, não era. Eu comecei a ter esse tipo de relação quando eu comecei a fazer ginásio. Não, mais na frente um pouquinho. Que aí eu já tinha uns amigos que a gente tinha mais envolvimento, entendeu? E aí, que a gente começava. E foi quando eu comecei a questionar. Porque com toda essa miséria que a gente vivia eu nunca questionei, eu nunca tive crise, nunca tive crise. Eu acho que as crises maiores vieram quando eu comecei a ter momentos, na minha vida, que era doidões. Assim, tipo, sair da escola, chegar em casa e o que tinha pra comer era uma farofa de ora-pro-nóbis. Caraca, você ficava o tempo todo na escola, chegava e tinha só aquilo pra comer e você comia, e aí eu percebi que eu comia pensando: “Por quê? Por que eu não tenho arroz?”. Eu acho que essa fase foi uma fase que eu comecei a questionar talvez, algumas coisas de diferenças de vida. E minha mãe, sempre a ótica dela era dar o estudo pra gente, assim, ela e o meu pai. Esse foco, eles sempre foram. Minha mãe é semianalfabeta. Então assim, acho que essas coisas vieram num jogo comigo assim mais ou menos. Mas eu nunca fui um idealista, de pensar, ‘eu quero ser isso’. Nunca fui isso. Meu irmão já era mais... Meu irmão, eu me lembro muito que a relação de criação, eu e meu irmão éramos mais fechados assim, mas mesmo mais fechado eu ainda era mais aberto que o meu irmão. Meu irmão, pelo menos, descobriu o prazer da leitura desde pequenininho. Eu não tinha o prazer da leitura nessa época, e o meu irmão tinha. Então, talvez ele se alimentava da leitura e eu me alimentava da contemplação, eu acho que a contemplação é o que me alimentava. Mas, final de ginásio, já mais garoto, eu tinha relações de amigos, e amigos que viraram amigos, que viraram amigos de verdade. E era muito engraçado, acho que isso também foi algo que tenha me transformado muito, em relação talvez, até, ao que eu sou hoje em relação a como eu vejo, talvez, a sociedade hoje. Porque neste momento eu comecei, mais ou menos, início de 70, eu comecei a ter uns amigos que eram uns amigos ricos. E era muito engraçado ter amigos ricos porque eu ia na casa deles, eles tinham uma fartura, né? E eram amigos ricos que não eram mais ou menos ricos, eu me lembro, tem três deles que são meus amigos até hoje. Tem um, imagina você, em Goiânia, a mãe dele era a única professora de socila, na época era chamada de ‘As dez mais elegantes’. Era a única escola de etiqueta que tinha na cidade. E esse meu amigo, olha que coisa mais linda, por isso eu tenho um lado que eu acredito muito na revolução burguesa, eu falo muito isso às vezes porque eu acredito mesmo, entendeu? Esse meu amigo era rebeldão, cara. Às vezes ele chegava de pijama na sala, a mãe dele quase morria, porque tava, as chiques, as dez mais elegantes, e ele chegava lá, ela quase morria. E esse meu amigo, como ele era escrachado dessa forma, ele tinha essa coisa forte contra essa questão tal social. E ele me chamava de Bostes, que meu nome é Gotschalk, ele me chamava Boschalk, era muito engraçado, ele me chamava Bostes. E ele chegava, às vezes eu ia almoçar na casa dele, ele me chamava pra almoçar na casa dele, eu ia almoçar na casa dele, e ele virava e falava assim: “Mãe, o pai do Bostes é embaixador na Alemanha, não é Bostes?” “É”. Sentado na mesa com aquelas elegantes, que elas nem sujavam o fundo do prato. E ele servia o prato pra mim, botava um pratão, ele sacaneava mesmo, botava um pratão desse tamanho assim. E elas mal sujavam, tudo olhando ali, mas respeitavam porque meu pai era embaixador da Alemanha. Só porque o nome era alemão, ele jogava esse 171, e elas embarcavam. Sei lá se embarcavam, mas acho que até embarcavam. Sei que ele metia esse pratão e eu pum-pum, matava. Eu tinha meus amigos. E esses meus amigos já começaram a ter uma relação diferente comigo que eles começavam, eles me davam carona pra minha casa. E aí começou as minhas descobertas nesse período. Era descoberta da bebedeira, que eu não bebia e comecei a beber. Comecei a, bonde de escola, às vezes matava aula. Tinha uma casa de uma amiga minha que era maneirona, que todo mundo ia pra lá porque a mãe dela era mãe de comunista, então, pô, tinha aquela problemática com o comunismo, e eu nunca entendia nada dessa porcaria de comunismo, entendeu? E aí, e a mãe dela agregava a galera lá, e a galera, pô, e a gente tomava todas, e a gente, pô, zuava. Então comecei a viver uma vida que eu nunca tinha vivido.
P/1 – Isso você já tá falando da adolescência.
R – Adolescência! Já, já tava na adolescência.
P/1 – E você trabalhava, você continuava como engraxate?
R – Não, nesse período, já do adolescente, eu já não tava mais de engraxate. Minha mãe bancava, ela costurava, trabalhava de doméstica, ela fazia tudo pra sustentar a gente, nem que seja pra comer a faroda de ora-pro-nóbis, né? E aí foi no caminho. E aí.
P/1 – Você trabalhava?
R – Não, nesse período, não. E aí, eu comecei. Até trabalhava, fazia uns biscates, eu fazia biscate, não trabalhava fixo. Ajudava em obra, capinava muito. Capinava o quintal dos outros, tinha essa parada. Eu nem chamava de trabalho porque capinar era tão normal, né? Pra mim era tão normal capinar porque nesse período, lógico, capibar era coisa normal pra mim. Mas essa fase foi engraçada. Mas nesse período terminou que eu conhecia um cara que fazia teatro, chamava Hugo Zorzetti, no período dessa parada toda.
P/1 – Em Goiânia?
R – Em Goiânia. Não entendia porra nenhuma de política, nunca fui envolvido com política, sabe? Nunca. E aí, comecei a fazer teatro com um cara, um cara que tinha um grupo de teatro chamado “Grupo de Teatro Exercício”. E o cara assim, comunistão, ele que escrevia os textos, ele dirigia, ele atuava, era aquela parada assim. E eu entrei nessa parada e me amarrei. Me amarrei.
P/1 – Ele te convidou? Onde você conheceu ele?
R – Foi uma amiga minha que me apresentou ele: “Aí, não quer fazer teatro?”. Eu nem sabia o que era teatro. Aí falei: “Jóia, vamos fazer, vamos ver qual é”. E fui e me amarrei. E me amarrei por que, será? Eu nem sei porque eu me amarrei. Eu hoje reflito que talvez tenha sido pela própria relação social que se envolvia, o teatro, por mais que seja isso ou aquilo, também ele é terápico, tem todo um jogo, você trabalha com um jogo o tempo inteiro, né? E o cara, esse diretor, ele falava muito do comunismo, falava muito da Rússia, falava muito dessa revolução cultural da Rússia, dessa revolução, essa coisa toda. O cara tinha essa parada, mas eu não me envolvia nessa parada política. Eu fazia meu teatro e tinha meu bonde da doideira, que era esse bonde. Que era esse bonde dessa menina, que era filha dessa comunista, era esse cara da high-society, e tinha um outro que era um mineiro que morava lá e que é meu amigo até hoje, que é do Rio. É muito engraçado, hoje lá no Rio ele tem cinco restaurantes na Zona Sul, cara. Mas o cara ralou. Aí a gente pegou e começou essa parada, comecei a fazer teatro. E aí o teatro, comecei a me amarrar na parada. E o cara era doidão, e aí a gente começou a fazer um teatro mambembe, ele tinha uma kombi, e ele arrumou uma parada de estrutura que botava e fazia tipo umas camas, e a gente tinha uma rounda, três refletores, e a gente viajava de cidade em cidade, acampava na beira de uma cidade, ia lá, tentava vender, conseguia uma grana pra ir até a próxima cidade, e assim foi uma escola de teatro importantíssima pra mim. Você tá cochilando, né? (risos).
P/1 – Não, eu só pisquei por causa da lâmpada.
R – É, tá ruim? Se tiver chato o papo fala aí, cara.
P/1 – Imagina, eu?
R – To falando porque de repente eu deliro.
P/1 – Imagina, to super atenta.
R – Aí cara, rolou essa historia e eu mambembei por muito tempo e foi maneiro porque eu conheci muitas vidas, porque eu mambembei pelo interior de Minas, São Paulo, Paraná, essas paradas todas. Viajei geral.
P/1 – Deixa eu voltar um pouco. Quando você encontrou o Zorzetti, como foi esse encontro? Eu não entendi como que dessa montagem dessa peça você já foi fazer...
R – Não, quem ia fazer teatro, mas eu fiz um ano de teatro antes do mambembe, antes de viajar.
P/1 – Fez um curso?
R – É, era grupo. Ele dava exercícios e partia pra montagens. Ele era doidão, cara, ele montava peça em cinco dias. Você se jogava, eu me jogava. Me jogava, mas sem compreender muito a estética da arte, tal. Às vezes eu penso assim, eu sou um cara, cara, que às vezes quando eu me vejo eu to na tormenta da parada, tipo tem uma enxurrada que te leva, ou sei lá. Eu tenho uma frase que eu acho muito parecida em alguns momentos que traz equilíbrio pra mim, é ‘não apresse o rio, ele corre sozinho’. Eu acho que talvez eu tenha uma parada meio disso, assim, sabe? Eu vou na parada, eu vou na parada. Eu ia, eu nunca questionei, eu não tinha cultura pra questionar, não tinha cultura pra questionar. Eu ia. Mas algo que me bateu, bateu bem. E a outra coisa que era importante.
P/1 – Mas até então você nunca tinha entrado num teatro?
R – Não, absolutamente, a menor ideia. E também, eu acho que a minha vibe bateu com a das pessoas do teatro, tinha umas pessoas, po, uma das meninas eu me casei com ela. Então assim, teve uma vibe maneira que a gente po, se batia maneira, era legal, entendeu? Tinha uma, acho que a questão adolescente de você ter os mesmos desejos, né? Sei lá, tinha as doideiras?
P/1 – O que sua mãe achava?
R – A minha mãe sempre foi a favor da busca do desenvolvimento, mesmo analfabeta, mesmo assim. Ela sempre achava que a gente tinha que estudar e criar uma forma de sustentabilidade, ainda evidentemente era uma época, como até hoje ainda tem famílias que acham que você tem que ser, se formar em médico, advogado, sei lá, porque é a única forma de você ter dinheiro. É uma doença isso, né? Uma doença. E não o que você deseja, o que você sonha? Vamos lutar praquilo que você sonha? Enfim, a minha mãe nunca foi de exigir nada. Mas de qualquer maneira eu pensei: “Pô, tá legal, vou tentar nessa parada, vou tentar ser médico, vou tentar ser uma parada dessas pra ganhar dinheiro”. Eu ficava pensando assim, que tinha que entrar na onda deles também, que ela puxava pra aí, meu coroa também, aí eu falava: “Então tá bem, vou correr atrás da parada”. Aí, pô, estudei, tal, terminei o segundo grau, e nunca parando de fazer teatro. Aí, eu falei: “Pô, vou fazer uma faculdade, prestar um vestibular”. Aí prestei um vestibular em Goiânia e aí passei pra Jornalismo. Mas aí a minha irmã, minha amiga que eu chamo de minha irmã, irmã Nadir, comunista, aquela história toda. O irmão dela tinha sido expulso do Brasil, aquela fuga, tal, foi pra Rússia e tal e ela falava: “Pô cara, vamos pra Rússia, a Rússia é maneira. Lá tem isso, lá tem aquilo”. Aí lembrava do que o cara falava da Rússia, né. Falava: “Pô, mas o que eu vou fazer na Rússia, cara?”. Ela falou: “Bom, eu vou fazer Agronomia”, eu falei: “Então já é, vou fazer Agronomia também, vê se rola uma bolsa, então, pra mim também, que eu vou pra fazer Agronomia na Rússia”. Aí, ela pô, no jogo com o irmão dela, então tava arrumando pra eu ir pra Rússia também. Aí eu fui pra um festival de teatro em Ouro Preto, não sei se você sabe que tem o festival de inverno de Ouro Preto. Isso foi em 74. Aí fui pro festival fazendo “Sonhos de uma noite de verão”, aí acho que foi uma das primeiras libertações que eu tive lá em Ouro Preto, porque aí eu não tinha meu bonde que me protegia, não sei o quê, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho, encontrando só maluco do Brasil, que era maluco do Brasil inteiro que ia lá. Era totalmente hippie, po, essa parada assim, 74, totalmente, pô, tal. Mas eu era ‘pô, tal’, mas não fumava maconha, não tinha essa parada, não. Eu sempre fui meio caretão, sempre fui tempo atrás em relação a essa doideira. E lá, eu me lembro até sexualmente eu era uma anta. Eu era uma anta. Eu me lembro que eu tava, eu posso falar besteira?
P/1 – Claro.
R – Eu me lembro (risos), pô, vai todo mundo ouvir isso no site, cara. Mas eu me lembro que eu tava com uma mina lá, eu peguei uma mina, uma gatinha lá e tal, eu tava com ela, sarrando, em Ouro Preto todo lugar é alucinante pra você, dá vontade de tudo, né? Eu me lembro que eu tava sarrando com ela num lugar lá, tudo lindão ali, pá, maneirão, eu só me lembro que quando eu comecei a chupar o peito dela, a garota ficou doida, gozou e desmaiou, cara. E eu fiquei enlouquecido, cara! Um trauma que eu fiquei daquilo, ‘caraca, o quê que eu fiz de errado?’. Fiquei numa parada que eu fiquei, caraca. A hora que eu cheguei no quarto, eu com meus amigos, eu falei: “Cara, bicho”, e eu fazer essa menina voltar ao normal, pô, seminua, e eu caramba, maluco. Eu contei pros amigos meus e eles falaram: “Pô, ela que deve ter algum problema, gozar e desmaiar, maluco”. E aí foi minha primeira aventura trash de sexo que eu comecei, na verdade foi em Ouro Preto. Eu tava em Ouro Preto fazendo “Sonhos de uma noite de verão”, de Shakespeare. E aí foi maneiro, conheci uma mulher maravilhosa que era do Actor Studio, Aide Bittencourt, a mulher, essa história. E ali a minha cabeça deu uma voada, quando de repente eu recebo o recado da minha amiga, não era telefone...
P/1 – Aquela sua amiga de...
R – A de Goiânia. Falando que tinha dançado a minha bolsa pra Moscou. Pô, me deu uma deprê maluco, me deu uma deprê. Aí, eu saí, como eu tava em Ouro Preto, meu amigo lá, também, o Leo tava lá, e tava em Viçosa, ali pertinho. Não, aí minha amiga falou assim: “Pô cara, aí, eu to indo pra Moscou, mas eu to indo, a minha bolsa saiu. Mas assim, o Alan, meu irmão, tá indo pra Argentina cara, lá dá pra tentar viver, o que você acha?”, não sei o quê, tal. Eu falei: “Po, já é, já é”. Aí voltei pra Goiânia, falei: “Mãe, pai, negócio é o seguinte. Eu to querendo ir pra Argentina que eu vou estudar lá, eu quero fazer Medicina”, não sei o quê e tal. Aí pra fazer Medicina o pai vendia a cueca, né, pra você fazer. E aí, foi, chamei meu amigo, esse meu amigo também lá de Minas, eu falei: “Léo, vamos pra Argentina, cara, vamos estudar lá. Lá é legal”, não sei o quê e tal. Ele pegou e foi comigo. Aí fomos três amigos pra lá, pra Argentina, e fomos, doideira maluco, 75 indo pra Argentina, nunca tinha saído de Goiânia, minha vida foi até Goiânia, fui pra Argentina, São Paulo, de São Paulo pra Foz do Iguaçu, chegamos lá, fui morar em Rio Quarto, em Córdoba. Caracaaa, que doideira, Rio Quarto, aquele lugar, aprender, tinha que estudar espanhol. Que lá era maneiro, lá era maneiro. Você fazia História Argentina, você fazia Geografia Argentina, fazia umas paradas lá, se você passasse, fosse um bom aluno, você podia escolher o que fazer. E aqui no Brasil você se matava pro tal de vestibular. E aí eu falei: “Caraca, maluco”.
P/1 – Mas seu pai que tava bancando?
R – Meu pai bancava.
P/1 – Seu pai já tinha saído de Garça e já morava...
R – Já tava em Goiânia e já tinha um dinheirinho, não muito legal, mas já tava menos pior.
P/1 – Já trabalhava.
R – Trabalhava. Trabalhava, não, se aposentou, e ganhava um dinheirinho. Ele mandava, eu me lembro, eu ganhava cem dólares por mês. Só que cem dólares por mês nessa época na Argentina, pô, show de bola. Porque o dólar na Argentina engolia. Nessa época, aquelas variantes que a gente teve. E aí, na Argentina, eu dei uma enlouquecida. Aí foi legal, foi maneiro, fiz, passei, tal. Aí, pá, enfim, tivemos um problema e de Rio Quarto fomos pra Mendoza.
P/1 – Que problema?
R – Ah, foi problema de faculdade mesmo, que a gente passou, e tal, aí não dava pra nós três ficarmos lá, aí lá não tinha muito Medicina, tinha mais Veterinária, não sei o quê, eu falei: “Então vamos pra Mendoza”, porque lá tinha Agronomia, meu amigo queria fazer Agronomia, eu queria fazer Medicina. E o outro também queria Agronomia, e fomos pra Mendoza. Chegou em Mendoza, falei: “Caraca, a cidade mais linda do mundo”. Até hoje eu ainda acho que é uma das cidades mais lindas do mundo. Po, chegava a cidade lá, primeiro que era a terra do vinho, qualquer mendigo não almoçava sem vinho. Ó! E a gente doido, começando na doideira total ali. Tomava vinho a vera, só almoçava com vinho, né? Olhava pra cima, neves eternas, quase divisa do Chile, passava praticamente um túnel e tava em Vina Del Mar. Caraca, maluco! O bicho é aqui mesmo. E a gente começou lá, ficamos lá, aí me matriculei na faculdade, aí eu fui doidão. Aí eu matriculei na faculdade de Medicina, fazia Medicina de manhã, aí eu queria também, os caras lá me zoando, fui fazer Agronomia com eles, fazia Medicina de manhã (risos), Agronomia à tarde.
P/1 – Você passou e começou a fazer Medicina...
R – Não, fazia Medicina de manhã, Agronomia à tarde e teatro à noite. Teatro eu sempre fiz, nunca deixei de fazer teatro onde eu tava, isso era uma coisa meio doida na minha vida. Nunca deixei de fazer teatro. E aí eu fazia. Aí teve o golpe militar na Argentina. Quando teve o golpe foi punk. Foi punk porque, como todo golpe é punk, né? Você ia na esquina, a polícia ‘po, pá, parado’, revistava, tal, prendia, ficava uma hora com a mão pra cima, duas horas com a mão pra cima. ‘Corta o cabelo!’. E eu era hippão. Eu era o único na faculdade de Agronomia, todo mundo pra fazer prova tinha que fazer de terno cara, era uma coisa assim tradicional, que a educação na Argentina era top de linha na América Latina, e tinha que fazer de terno. E a gente, como era de fora, eles deixavam. Eu era totalmente hippão, cabelão, paz e amor, eu sempre fui meio assim, doidão, né? E aí, po, aí foi as descobertas, aí era lindo. Pô, no hotel era lindão, a gente não podia sair e as festas tinham que ser no hotel, aí era doideira, aí começava a comprar desodorante, ia correndo na farmácia, que era do lado, comprava os desodorantes de lá que era loló, e a gente, pô, cheirava aqueles desodorantes, ficava doidão. E aí, nós éramos cinco homens que moravam num quarto só e uma mulher. E aí não podia sair, não podia pegar mina nenhuma. Aquela história, e aí a gente foi criando uma vida bonita, diferente, social. Aí a gente convenceu Regina a fazer um strip pra gente, era lindo! Aqueles beliches, a gente ficava no beliche assim, e convencemos a Regina a fazer strip, aí a gente convenceu a Regina a bater uma siririca pra gente ver, e a gente punhetando na cama. A gente...
P/1 – Os cinco?
R – Os cinco e ela... E aí, quer dizer, fomos ganhando porque a gente não podia sair, o golpe ali, a polícia ali, não podia fazer mais porcaria nenhuma, maluco! Pode falar isso, cara? É muito íntimo falar isso, né? Eu já falei também, quase tudo...
P/1 – É pra falar o que você quer...
R – Porque agora foi, e aí foi. Aí chegou uma hora que a Regina, a gente começou a comer a Regina... Era lindo. Todo mundo comia a Regina. Que foi um processo, em um mês todo mundo comia a Regina. E aí era sexo explícito. Eu não, eu me lembro que eu era a chepa, eu só comia a Regina no banheiro (risos). Era o máximo, eu nem sei porquê, porque acho que tinha os mais tarados ali, né? Que queria ir logo pegar a Regina. E a Regina era ótima, foi uma pessoa realmente marcante na nossa vida. E aí, rolou uma parada que, com o golpe a pressão era muito forte e resolvemos voltar pro Brasil. Depois disso... Não, primeiro eu cancelei minha faculdade de Medicina no dia que realmente não bateu. “Não, Medicina não é minha praia”. Tava num ponto de ônibus, teve um acidente, e um carro pegou um cara, quando eu vi o cara com a perna pendurada assim, só na pele, cara, eu falei, “Não é minha praia”. Aí fiz só um ano e parei. Aí tava só na Agronomia, Agronomia já era maneiro, tava amarradão, tal. Aí voltar e larguei Agronomia também. Aí fui pra Goiânia.
P/1 – Voltou pra Goiânia.
R – Voltei pra Goiânia. Chegou em Goiânia eu falei: “Pô cara, não é mais a minha vibe aqui, eu sempre quis ir pro Rio, eu acho que vou pro Rio”, não sei o quê, tal. Aí meus amigos, “Po cara, vai não, maluco”. Eu falei: “Po, eu vou, cara”. Aí tinha uma menina que eu conhecia lá do teatro, tal, a Gal, terminou que eu me casei com ela. Era uma baiana, maneira, show de bola...
P/1 – Uma baiana que você conheceu em Goiânia?
R – É, é. Aí, a gente se casou, um casamento lindo...
P/1 – E os outros amigos, a Regina, e os outros?
R – A Regina morava no Rio, o outro menino no Rio e os outros três são de Goiânia. E...
P/1 – Todo mundo voltou.
R – Todo mundo voltou. E aí eu me casei, um casamento lindo, inesquecível...
P/1 – Você estava com quantos anos?
R – Não sei, cara... Tenho que fazer as coisas, eu não sei. Eu sou de 52, bota aí 75, não sei, tenho que fazer as contas, não sei. Casamento lindo, inesquecível. Ah, foi lindo! Casei na beira do rio, eu era maluco, né cara? Casei na beira do rio, o altar era um tronco, muitas abóboras morangas e tangerinas, tomates decorando tudo. Porque o cara lá do sítio onde eu casei era desse meu amigo que morava comigo na Argentina. E aí, casei na beira desse rio. Eu tenho essa túnica até hoje, casei com uma túnica branca. A minha mulher, a Gal, casou descalça, um vestido branco aberto, era um visu maneirão, foi a maior onda. A gente casou e vazamos, fomos pro Rio. Chegamos no Rio, cara, foi muito doido. Chegamos em 75, final de 75. Chegamos no Rio morei um mês em Copa e já fui direto pro Vidiga. Vidigal era uma doideira.
P/1 – Você chegou em Copacabana e foi morar... Como foi sua chegada no Rio? Você já tinha vindo pra cá?
R – Não, não, não conhecia nada.
P/1 – Como foi?
R – Foi fantasia. Fantasia. Pô, nem sei se eu to no Rio, tipo assim, sacou? Mas também já tinha minha doideira, né cara. Eu já tinha ido pra Argentina, na Argentina eu tinha ido muito a Buenos Aires, já tinha todo um jogo de vida que você já tinha mudado a minha cabeça bastante em relação, conhecer o Rio pra mim não era também assim, “Óó”, era “ó” porque era o Rio, pô, mas não era mais, Buenos Aires também é Buenos Aires, né, tem uma história na América do Sul, América Latina, a importância. Primeiro metrô da América, essa história toda, então tem uma história, obelisco, tinha ido já no teatro municipal, tinha assistido ópera em Buenos Aires, tinha umas paradas doidona assim que eu fazia, que já não era mais tão bicho de sete cabeças. E aí, aqui no Rio eu morei só um mês em Copa e um amigo meu: “Pô cara, tem um lugar maneiro ali, só que é numa favela”, não sei o quê, tal. Eu falei: “Pô, vou morar lá, vamos ver se a gente aluga pra morar junto” “Já é”. Aí fomos pro Vidigal. Não sei se você conhece o Vidigal. O Vidigal tinha uns duplex que só moravam artistas. No meu prédio morava todo mundo, morava Gal Costa, morava Claudio Marzo, Arlete Salles, Roberto Pirilo, Lima Duarte, muito artista plástico, produtores, enfim, morava todo mundo, Danilo Caymmi, Ednei Giovenazzi, morava um bonde.
P/1 – Você foi morar com a Gal.
R – Fui morar com a Gal e dois amigos. Dois amigos que moravam juntos. Os duplex são dois quartos. A gente morando lá. E aí Vidigal era show, Vidigal era doideira porque você descia o morro, tá na praia. Era um lugar que você alimentava gueto porque se você quisesse, você não saía de lá pra porcaria nenhuma. E como eu tinha passado no vestibular em Goiânia, em Jornalismo, eu arrisquei a transferência, com esse tempo todo que eu fiquei fora e eu consegui transferência pra UFRJ, e fui fazer Jornalismo na UFRJ. E fui fazer Martins Pena, escola de teatro Martins Pena. Na época era Klauss Vianna e depois foi o Amir Haddad que foi diretor dessa época. E aí minha vida virou, UFRJ, fazia faculdade, era o primeiro centro acadêmico aberto pós-revolução, após essa história toda, e tinha a faculdade, tinha dois bondes, o bonde dos politicamente correto e o bonde dos odara, dos doidão, e eu, claro, sempre pertencendo ao bonde dos doidões. Enquanto eles: “Politicamente pegava...”. Eu, com o meu bonde, a gente falava: “Pô cara, a gente tinha que ter uma sala aqui na faculdade que a gente pudesse fazer sexo sem ter que ir pra outro lugar”. A gente pregava uma outra forma de vida, de liberdade, tudo doideira (risos). E jornalisticamente falando, eu tive sempre problemas, porque aí eu comecei a morar no Vidigal, e comecei a, eu fui um dos primeiros elos da não favela ir para a favela. Porque a minha vida sempre foi isso, eu nunca tive problema de relações sociais, eu sempre fui um pobre ferrado, favela pra mim, é minha língua, minha vida, normal, era a pobreza que eu já vivi a minha vida toda. E era muito engraçado perceber isso e comecei a viver isso, os meus primeiros amigos no Vidigal, na praia, eram da favela. Então eu comecei a ficar íntimo dos meus amigos e de vidas, e eu comecei a perceber... Porque quando você mora num lugar desses, essa miséria que eu passei, não era muita gente junto nessa miséria. E no Vidigal não, era muuita miséria junto. E eu comece ia perceber isso, uma coisa doida, a vida como era, a não assistência que as pessoas não tinham, essas coisas todas, e isso começou a me incomodar um pouco. E eu como tava começando a ler mais coisas, aí já tinha embarcado um pouco no Paulo Freire, e o Paulo Freire virou uma referência pra mim, em termos metodológicos, essa coisa toda, ele chegou a influenciar no meu próprio jornalismo. E eu comecei, um dia, eu morava, antes de eu me separar, e eu pedi, tinha um centro espírita em frente e eu pedi ao cara se eu podia dar uma aula de apoio escolar, que eu conhecia já muita gente, vizinho, tal. E eu via que eles não faziam tarefa de casa, não sei o quê, taltal, eu pedi, o cara deixou e eu comecei a dar aula de apoio escolar buscando uma metodologia que não existia, pensando no Paulo Freire. Aquela velha história, eu nunca ia falar ‘o carro do meu pai é vermelho’, que carro? Nunca tinha entrado nem num carro, então, buscava elementos próximos deles. E aí esse caminho veio me dominando, e eu fui gostando da parada, ia criando formas, talvez pelo caminho teatral, eu criava formas expressivas de ensinar, que não era nada convencional, não era sentado, escrevendo, era com exercício, era com movimentos, e aí era interessantíssimo. Aí, a igreja acabou e eu perdi o lugar, não pude mais dar aula. E na faculdade de Jornalismo comecei a ter crises, daquela forma que eles ensinam, mas isso... Crise mas era de bobeira, hoje eu acho que era doidão nessa parada, tipo assim: “Pô cara, não tem que usar essa linguagem jornalística assim tão careta”. Eu achava que tinha que usar uma linguagem mais coloquial de rua. Claro que era estupidez da minha parte, e aí eu fundei no Vidigal um jornal, eu era bolado com isso e falei: “Ah é? Então vou fazer meu jornal do jeito que eu acho que é”. Aí já tinha meus amigos no Vidigal, tal, e tinha um garoto que tinha um barraco onde ele morava, em cima do barraco dele, lá no pico do morro, ainda era mato lá no Vidigal, imagina, tinha árvore pra caraca lá. E eu tinha uma máquina de escrever que eu tinha arrumado, e a gente fez lá tipo redaçãozinha de jornal. E aí eu batia e ficava no carbono, e a gente pegava o carbono e pregava em três lugares da comunidade. E era maneirão, e eu não censurava, nem nada. Eu só provocava a pauta e a gente, os garotos, as pessoas escreviam, qualquer pessoa pedia pra escrever, tinha as coisas mais trash, e eu colocava lá. E funcionava. E as pessoas acostumaram a descer pra ir trabalhar e ler. E era maneirão. E aí eu já fiquei feliz com o meu jornalismo que não era o jornalismo da faculdade, que era burrice minha, eu podia ter feito isso tudo normal. E aí terminou que em 80 eu me formei em Jornalismo, não colei grau, acredito que esse ano eu venha colar grau, a Helô Buarque quer muito que eu cole grau esse ano, porque na época eu, dentro da minha doideira, estupidez e rebeldia, talvez, não sei se era estúpido ou não, eu acreditava naquilo. Eu queria que quando chamasse meu nome, na hora da colação de grau, eu queria sair da plateia, não como todo mundo, entendeu? Queria sair da plateia falando Drummond: “Precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos louvar”. Enfim, eu queria sair falando esse poema do Drummond. E eles não toparam, eu falei: “Então não colo grau com vocês”. E não colei grau.
P/1 – Eles, os outros alunos?
R – É. Não colei grau. Tem 32 anos. E talvez esse ano eu cole grau, dá até um curto, colar grau agora, e eu poder falar um poema inteiro (risos). Aí cara, não colei grau, mas aí pintou um trabalho maneiro, pro Pasquim, o Pasquim era um jornal top, maneirão. Aí 1980, Papa ia no Vidigal, e o Pasquim me ofereceu a capa do jornal, tinha uma outra jornalista que formou comigo, Helena Caroni, falou: “Pô, vamos ganhar a capa do jornal, maluco, do Papa, vamos fazer o jornal, já é, já é, já é”. Vamos fazer. Aí eu falei: “Po, vou ganhar dinheiro agora como jornalista”. Tenho meu jornal no Vidigal, mas vou, vou pro Pasquim, um jornal de admiração de todo mundo, único jornal de esquerda, pancadão mesmo, e fui cara. E aí, era maneiro que a nossa matéria, a nossa manchete, era assim: “O Papa nas Bocas”. Que era a primeira vez que o Papa vinha com blindagem, tal. E o Papa passava na frente de três bocas antes de chegar na capela. E a gente, pô, fez uma matéria maneira. E no meu jornal também tava uma matéria maneira, as pessoas falavam coisas, tipo ‘Pô, pra que calçar o caminho do Papa, se nunca calçou pras donas de casa passarem com suas latas d’água na cabeça’. Tinha umas paradas assim. E tinha umas paradas também que a gente falava meio doideira lá também, no Pasquim. E aí o Vidigal entrou numa festa homérica, entrou em festa homérica o Vidigal, ninguém dormindo, todo mundo organizando festa porque o Papa ia chegar às sete da manhã. E realmente um líder desse, quem é que não vai vibrar, né? Independente se você é católico ou não, pô. E eu apaixonado por essa ideia. Aí peguei, “Não, vamo, já é”. E eu peguei e comecei: “Vamos passar a noite no Celeste”, uma birosca que tinha lá. “Ah, já é” “Vamos passar a noite bebendo”. E a gente pum-pum-pum, bebendo, bebendo, bebendo. Chegou sete da manhã, foi todo mundo pra Niemayer esperar o Papa, todo mundo emocionado, todo mundo nervoso. E aí, cara, o Papa veio, que emoção generalizada, o Papa foi, tal, voltou. Quando o Papa foi todo mundo “vamos embora, vamos tomar a saideira!”. Aí voltamos pro Celeste. Aí tamo lá. Quando tamo lá tomando a saideira, cara, que eu falei: “Celeste, dá uma cerveja aí!”, eu vi que um cara tinha parado de carro, um carro branco, o cara veio. Quando eu falei: “Celeste, dá uma cerveja aí!”. O cara veio, bateu no meu braço, aí falou assim: “Isso aqui é pra você jornalista filho da mãe”. Puf. Deu um soco no olho, pegou o revólver, quando ele pegou o revólver, pá, saí vazado, e fiquei escondido atrás de uma caixa d’água, fiquei escondido atrás da caixa d’água quatro horas. Fiquei quatro horas, e a polícia me procurando. A polícia... não sei se é a polícia, deve ser a polícia. Bandido não ia andar de carro nessa época. Desculpa esses micos, que tem umas coisas que você emburaca...
PAUSA
P/1 – Você tava na saideira e chegou esse cara, provavelmente seria um policial.
R – Com certeza, não tenho dúvida, mas não posso afirmar porque ele não falou: “Eu sou policial”.
P/1 – O cara apareceu do nada?
R – Não. Parou um carro. Porque o que acontece? Eu não contei uma coisa. Antes do Papa chegar, uma coisa que eles fizeram foi tirar todos os meus painéis de jornal. Eram compensados que eu tinha comprado, entendeu, botava pé neles e colocava nos lugares. Arrancaram todos os meus paineis de botar o jornal, entendeu? E aí, quando aconteceu isso eu fiquei quatro horas atrás de uma caixa d’água, refleti minha vida nessa caixa d’água, cara. Numa laje. Porque como eu sabia os esquemas, morava por ali, sabia os esquemas, consegui fugir, os caras vieram atrás de mim e não me pegaram. E aí, cara, eu, nessa caixa d’água mesmo eu pensei, e pensei, pensei. Falei: “Pô, já era, já foi. Não quero porcaria nenhuma com Jornalismo, dane-se o Jornalismo, não quero mais essa porcaria. Onde que eu vou fazer uma parada que eu não possa me expressar?”. Eu sei que isso bateu na minha cabeça e eu falei: “Não quero mais, acabou”. Saí de lá mudado. Saí de lá mudado, não quero mais, e nunca mais escrevi nenhuma linha, nunca mais escrevi nada, não sei escrever uma abertura. Se você falar assim: “Escreve um prólogo”. Não escrevo. Não que eu não escreva os meus delírios, mas eu não tenho estética, formal jornalística pra escrever, não tenho. Não tenho desejo também, né? Larguei. Quer saber de uma parada?. Um pouquinho antes disso eu tinha me separado da Gal, e estava morando sozinho.
P/1 – Vocês não tinham filhos?
R – Não. Não tivemos filhos. Não tinha como ter filho nesse período. E aí a gente se separou, eu fui morar sozinho, tinha que me sustentar sozinho. Mas nesse período de faculdade também eu me sustentei sozinho, eu fazia perfuminhos e vendia na faculdade. Como a praia era ali, eu ia lá, recolhia conchinhas, decorava vidrinho, fazia aquelas essências de perfume e vendia na faculdade. Dava pra pagar aluguel e comia uma vez por dia, tava lindo, né? Mas, quando foi em 80 que aconteceu isso eu falei: “Não quero mais saber, vou focar minha vida no teatro, não quero mais saber”. E aí, não sei quem que eu conheci que me levou, que o Domingos Oliveira estava fazendo um trabalho, um grupo novo, não sei o quê, e fui trabalhar com Domingos. Foi um dos melhores momentos da minha vida porque foi uma cura. Eu tava muito doente, eu tava muito enfermo nesse sentido, e era uma enfermidade que não tinha como eu dividir com ninguém. Como é que eu vou dividir isso com a minha mãe, e como é que eu vou dividir isso com minha família? Como é que eu vou dividir isso comigo mesmo? Era incompreensivo você estudar a vida toda, se formar e de repente você não quer mais nada disso, né? (risos) E aí, o Domingos foi um momento muito show na minha vida, muuito show na minha vida. Porque era uma experimentação teatral que ele tava fazendo, e era um mergulho, era exercício de mergulho, e era uma galera que mergulhava na proposta, em experiências novas, tal. Lindo! Um dia, a gente tava lá, me chega pra assistir o nosso exercício a Marília Pêra. A Marília chega, e essas coisas acontecem. Olhar e achar que é, que tem a ver. E a Marília mandou me chamar, me convidar pra trabalhar com ela, se eu gostaria de trabalhar com ela, que ela ia montar uma peça com Domingos, que foi Adorável Júlia. Eu falei: “Como não, minha flor?” “Mas eu gostaria que fosse como ator e diretor de cena”. Eu falei: “Puxa, já é”. E fui, comecei a trabalhar com a Marília, e minha vida mudou. Aí foi, caminhos inesquecíveis, escola que eu não tinha frequentado. Porque a Marília é de uma escola de arte que é de uma importância muito grande porque ela é muito disciplinada, muito organizada. Muita gente diz assim: “Olha, trabalhar com ela é muito difícil porque ela é muito chata”. Cara, nunca vi isso na Marília. Ela é assim, a cadeira tem que estar aqui, a sua função é botar a cadeira aqui, por que a cadeira não está aqui? Cadeira tem que estar aqui. Acho que isso é relação profissional, tem que ter. E aprendi muito com ela. Ela foi uma pessoa que abriu muito toda a sabedoria com ela, uma pessoa muito importante na minha vida, como várias pessoas foram muito importantes na minha vida desse processo que eu peguei, Amir Haddad, Klauss Vianna, mas o Domingos foi demais... Mas a Marília eu vivi com ela, eu convivi com ela, nós éramos tão íntimos que quando ela foi fazer Mixed Blood nos Estados Unidos, um filme, eu que fiquei tomando conta da casa dela. A Pêra, a Esperança, a Nina eram pequenininhas. Ricardinho virou meu melhor amigo. Eu comecei a virar baixo Leblon, só tinha baixo Leblon. Pô, o bonde dele era o bonde do Cazuza. Aí, era outra vibe. Pô, era a primeira vez na minha vida que eu tinha comprado um carro, nunca tinha tido isso. Nunca tinha frequentado restaurantes maneiros. Aí já tava numa vida que era uma outra parada. Era aquele sonho de quem vem de fora e quer chegar no Rio, e encontrar a classe artística, e tudo e tão. Apesar que eu nunca fui dessa vibe, eu sempre fui de uma vibe de viver o que eu to vivendo. E viver intensamente. Sempre fui meio assim. Mas a Marília foi algo que me despertou e que mudou muito minha vida. Meu conhecimento. O ser humano, eu aprendi com ela, o ser humano, às vezes você tem tanto talento, mas às vezes é tão necessário e você não sabe que você, mas você tem certezas, e às vezes é necessário alguém virar e falar assim: “Nossa, como você tem um olhar bonito. Nossa, como você cruza os braços bem”. Às vezes você precisa de uma afirmação pra te fortalecer, pra te fazer acreditar. “Pô, legal, eu sei cruzar os braços bem”. Legal. Não, eu sei que eu sei cruzar os braços bem. Às vezes você precisa de afirmações. Não existe esse ser humano que não precisa de um: “Nossa, como esse cara opera bem essa câmera”. Antes, ele podia achar que ele era um cocô, ou outras pessoas já podiam até ter falado isso pra ele, mas às vezes a gente precisa de uma, de uma afirmação de vida, que você tá caminhando, que isso é legal, que você tá caminhando por um caminho legal, um caminho profissional legal. Às vezes é necessário isso. E a Marília vem me passando isso, vem me passando isso. E eu convivendo, vivendo intensamente. E de repente, vamos fazer a temporada em São Paulo, ‘caraca, São Paulo!’. E aí já comecei a viver o chão Rio-São Paulo, o sonho de qualquer artista. Frequentava antiquários, eu frequentava restaurante Pica das Galáxias, entendeu? E foi, malandro, caraca, que vida que eu quero? Aviãozão, São Paulo. São Paulo eu não ficava em hotel, eu alugava kiti, apartamento. Morei na Brigadeiro, morei não sei onde, po, morei até no Copan. Quem mora no Copan vira paulista, né? E pô malandro, tinha uma vida, eu tava vivendo uma vida, mas, quando eu comecei a ter esse vôo da minha vida, eu comecei a ver meus amigos do Vidigal presos. Presos. Meus amigos todos que eu convivia, caraca, eram meus amigos, meus irmãos, talentosíssimos, cara. Eu chegava de São Paulo, encontrava com eles: “Pô maluco, e aí? Pá”. A gente sentava, ficava na esquina enchendo a cara e tal. Pô e tem um lugar de visu, né cara? O Vidigal tem o maior visualzão. A gente parava e ficava lá, e olhava. Pô, e o papo ficava assim: “Po, e aí, maneiro?” “Maneiro, tal” “Pô cara, amanhã vai dar a maior lua” “É, pode crer, amanhã vai dar a maior lua”. A gente ficava assim, e o papo não tinha argumento. Os argumentos eram situações do Vidigal, e a situação dessa, você ficava doidão ali, e a doideira ficava nisso. Não tinha argumento. E quando eu comecei a expandir mais a minha vida, minha cabeça, eu comecei a ver novamente que eu, novamente tendo oportunidades e essas coisas dessa galera não tinha oportunidade. Vagabundo ali, nem descia pro Leblon, cara, só se era emergência e tinha necessidade. Porque praia tava ali, ninguém ia em cinema, ninguém ia em teatro, ninguém ia em porcaria nenhuma. Ali, ali, estudava ali, sobrevivia ali. Essa era uma realidade. Mas isso me antenou por tudo o que eu já tinha feito no Vidigal, essa coisa, ‘caraca maluco, tá todo mundo preso, todo mundo ali tem que ter seu direito também de viajar, são garotos talentosos’. Isso começou a me bater, eu falava: “Caraca, maluco. Você precisa sair daqui um pouco”. “Mas como fazer o quê?” “É, fazer o quê?”. Aí passou, Adorável Júlia veio brincando em cima daquilo, brincando acima daquilo, ia trabalhar também como ator, depois virou só um monólogo, mas ao mesmo tempo era muito doido porque a Marília contracenava num monólogo quando estudava comigo fora de cena, eu fora de cena, ela pá pá. Era muito doido. Uma das maiores escolas da minha vida, a Marília. E aí aconteceu uma coisa fantástica, a Marília foi pra Nova Iorque, foi fazer então o Festival Latinoamericano lá, e fomos pra Nova Iorque. Chegando em Nova Iorque, cara, caramba, todo mundo, ‘musical da Broadway’, não sei o quê Broadway, Broadway. Eu falava: “Caraca”. Chegou na Broadway malandro, quando eu desci no aeroporto eu nunca esqueço, desci no aeroporto, passou um carro, tinha um negão dirigindo, mó playboy, em Nova Iorque, né? Pois é. Chegando em Nova Iorque, meu primeiro choque em Nova Iorque foi quando eu cheguei e foi esse visu que eu falei, né? “Pô, caraca, tô na minha praia! Eu falei, é a minha praia!”. E fui ficar, e fiquei num hotel, também nunca esqueço disso, fiquei em um hotel em frente ao Madison Square Garden e tava tendo um festival de coral. 99% dos hóspedes eram negros. Caraca, aquilo ali me alimentava porque a minha relação com negro sempre foi muito forte nesse sentido de nunca tive diferenças, e o negro americano, que já era solto no sentido do se arrumar, não era como o negro brasileiro, tudo com cabelinho de massa, aqueles negócios. Tinha umas coisas mais doidas, eu falava: “Caraca! O Brasil tem que chegar nesse ponto de criar o seu visual, o seu próprio visual”. Aquilo era lindo, eu ficava apaixonado vendo aquelas coroas, aquelas pessoas com aqueles visu alucinante ali. E um dia foi todo mundo pra Broadway e eu fui pra Broadway também. Cheguei na porta eu falei: “Não vou entrar”. Eu tinha visto um grupo tocando Blues numa praça, falei: “Não vou entrar. Galera, não vou entrar, vou ficar aqui. Eu quero ver Blues na praça, eu quero ver as negadas daqui, tal”. Eu me lembro que todo mundo foi pro teatro e eu fiquei na porta e me lembro que chegou um negão me oferecendo droga, eu sempre achava assim, ‘não, não vou dar bandeira’. Porque malandro é malandro e mané é mané, isso é malandragem é universal, mas eu não tinha vivido essa coisa da malandragem universal, eu achava que se eu falasse ‘no’ ninguém ia sacar que eu era gringo, né? Hoje é que eu saco, você falar ‘no’, é a mesma coisa do gringo falar ‘náo’. Eu me lembro que o negão chegou: “Do you like a drug”. Eu: “Não”. Aí ferrou. Ele: “Do you like a hashi, do you like a coke”. Ficou em cima de mim que eu comecei a ficar com medo, um negão de três metros, comecei a ficar, terminei comprando. Claro que era orégano. Mas vacilou, vacilou. Aí, eu falei. Ninguém tinha coragem de sair à noite com medo, ninguém tinha coragem de pegar metrô à noite em Nova Iorque, entendeu? Todo mundo só de táxi à noite, tal. Aí eu falei: “Ah, não. Eu vou”. Eu era roqueiro, e todos os meus lados, que era um lado que ninguém se amarrava. Se amarrava, mas todo mundo queria ver os teatrão, musicalzão da Broadway, tal. E aí eu comecei a andar de metrô, tinha aprendido a malandragem, que eu também fui rejeitado num show de rock que eu fui, que eles não tinham muita paciência pra gringo. E aí nesse dia eu falei: “Já era, já sei como fazer”. Aí fui, metrô, aquelas malandragens todas, eu aprendi a fazer aquele corpo local.
P/1 – Você falava inglês?
R – Não! Por isso que me dava mal, pô. Mas aí eu aprendi aquela parada, fazer aquele corpão local, aquela cara boladona, sem ficar, entendeu? As pessoas chegavam: (fala enrolado e rápido) e eu (barulho). Não respondia, aí aprendi isso cara, aí eu andava em qualquer, eu fui pro Harlem, fui pra qualquer lugar que você pensar. E cheguei a ter situações terríveis. No Harlem, quando em desci do metrô, jogaram sanduíche em cima de mim, eu era o único branco, era o único branco. E aí, cara, eu comecei a ir nos off, off, off, do Village, ao Soho, ao Harlem, eu ia, ia naqueles teatrinhos desse tamaninho aqui, ó, aí eu entrava, assistia, cabia dez pessoas, oito, que eu olhava, ficava assistindo. Cara, um capricho no figurino, uma luz, uma interpretação, começava a ver, comecei a ficar apaixonado pelo off-off-off. Quando eu vi aquilo, eu comecei a ver que aquilo, era aquilo que podia estar no Vidigal. Que aquilo podia mudar. Aquilo veio em mim e começou a me dominar. E começou a me dominar. Eu tinha uma história com Nova York também, fora essa história toda, que a melhor amiga da minha vida, ela já se foi, ela foi do Actor Studio, veio, dava aula no Tablado, e ela virou a minha melhor amiga no Brasil e ela foi uma beatnik, então ela me contava a história de Nova York, eu conhecia Nova York como ninguém. Ela foi uma beatnik e morava no Village antes de ir pra Woodstock, quer dizer, essas transições, eu conhecia na palma da mão, na palma da mão. Então assim, uma virada. Eu me lembro que o último espetáculo que eu assisti, primeiro eu tive uma emoção quando eu tava no Soho, não tinha nem tantas ligações com artes plásticas, mas eu fiquei tão emocionado no Soho, de sair de uma galeria e entrar em outra, sair e entrar em outra, que eu falava: “Não acredito que eu mereço isso”. Sabe esse tipo de coisa assim? E isso mexeu comigo, eu falei: “Cara, a minha vida mudou. Minha vida mudou”. Eu falei: “Vou parar com tudo”. Vou largar tudo. E vou fundar um projeto no Vidigal. Aí fiquei pensando nisso. “Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso”. Quando eu cheguei no avião, entrei no avião já determinado. “Mas como eu que eu vou fazer, como é que eu vou dizer isso pra Marília?”. Aí fui, chegando no avião a única coisa que eu fiz foi o Fred sentou perto de mim, que era o iluminador da Marília, eu falei: “Fred, se eu fundar um projeto no Vidigal, assim, assim, assado, com uma ideia filosófica, cuidando da qualidade, tal, você toparia me dar um apoio?”. Ele parou, pensou e falou: “Claro”. Eu falei: “Então já é”. Aí fui embora cara, fui pro Rio, até eu chegar lá e realmente definir minha vida. Eu sabia que ia acontecer uma transformação, todo glamour que eu tinha conseguido na minha vida ia morrer, eu ia voltar a comer uma vez por dia, óbvio. Como é que eu ia fazer? Aí cheguei, foi uma dor inesquecível dizer pra Marília que eu não ia mais trabalhar com ela, foi uma dor porque Marília também tinha em mim como uma das pessoas da maior confiança da vida dela, eu era uma pessoa fiel do lado dela, eu cuidava das coisas dela, era uma pessoa assim, nós éramos unha e carne. Foi uma dor muito grande na minha vida. Nossa Senhora. Como várias decisões são difíceis na vida da gente, né? E aí, cara, sofri muito pra fazer isso. E aí, tivemos um afastamento com isso, mas eu fundei o “Nós do Morro”. E eu comecei, mas eu não queria abrir simplesmente um projeto de teatro, eu queria um projeto de teatro caminhando junto com uma filosofia de vida. Dentro dessa sacação que tava dentro da minha cabeça, eu falava assim: “Puxa, eu quero um projeto com filosofia, onde tivéssemos uma ideia da base, do coletivo, da ideia multiplicadora”. Da mesma forma que você cria uma oportunidade, se você tem essa oportunidade você também repassar essa oportunidade pra quem deseja, é criar com esse grupo também a possibilidade da solidariedade, a solidariedade já tava vivendo uma coisa que a solidariedade, às vezes as pessoas burocratizam tanto a solidariedade, às vezes ela é tão mais simples, a solidariedade às vezes é te olhar, uma forma de cumplicidade eu to sendo solidário. Às vezes um toque, eu to sendo solidário. A solidariedade, ela não tem uma forma, de você ter que ter aquele tempo para isso. Então eu queria que dentro disso a gente pudesse criar uma forma de convivência nesse sentido. Juntando com o que a Marília me ensinou muito, a disciplina, a organização, a responsabilidade, lembrando que isso não era caretice, era a única forma das coisas funcionarem, eu aprendi isso com ela. E dentro dessa ótica da minha convivência de Vidigal, o ‘com licença’, ‘por favor’, ‘muito obrigado’, não jogar papel no chão, dar o lugar pras pessoas mais velhas sentarem, passarem. Essas questões éticas que independente de classe social, você percebia que já estava sumindo e eu fazia questão que essa transformação, se pudesse ter essa transformação, viesse com esse conjunto. Então isso pra mim foi básico quando eu fundei o Nós do morro, com essa ótica. Sabendo que eu ia comprar uma briga de esteriótipo, por ser um grupo numa favela, sabia que ia comprar essa briga. Todo um jogo doido que eu sabia, ia ser teatrinho, ninguém queria saber se eu to lá misturando Stanilawski com Boal ou com a Marília, ou com o Amir, Violis Polis, sei lá o quê. Ninguém queria saber se eu estou buscando um caminho novo, metodológico. Não, é o teatrinho da favela. Eu sabia que eu ia comprar essa briga, que a sociedade é complicada, a gente sabe disso. Aí eu comecei a fundar, fundei esse projeto, chamei as pessoas que eram essas pessoas que eu já acreditava, já percebia esse talento, foram as primeiras pessoas que eu consegui. Primeiro e tinha planejado um projeto da comunidade para a comunidade, que era uma forma, a minha ideia era assim tipo, sabe assim, nós estávamos numa fase de teatro, onde o teatro amador era tido como um teatro ruim, ninguém queria ver teatro amador. Mas tava surgindo o teatro experimental, que tinha uma contemporaneidade, Bia Lessa, acho que antes do Gerald Thomas chegar no Brasil. Enfim. E eu queria uma forma de seduzir a comunidade era trabalhar textos que falassem sobre a comunidade, e eu intercalaria com clássicos da literatura brasileira. Isso foi uma ideia inicial que eu tive que era uma forma da pessoa ir no teatro e não falar assim: “Ai que chato, pô, saco”. Não, quando você vai e você se identifica, você fica cúmplice daquilo, então foi isso que a gente começou. Meu primeiro trabalho lá foi isso. Então a gente começou sem apoio de ninguém. Comecei num centro de um padre austríaco-alemão, que Dom Eugênio odiava dele, a própria associação não gostava porque era uma associação ligada à diocese, só não gostava porque ele gostava de uma negona, só por isso. Eu, como nessa época não era ligado a religião, nem partido político, nunca fui, a religião já fui. Mas aí já tava morrendo, eu já não frequentava mais nada. E foi até os Irmãos Karamazov que me fez acabar de vez com a minha religião (risos). Quando você vai estudar um pouco sobre isso, aí você diz: “Puxa, bagulho é doido”. Aí, o padre, fui lá, falei com ele, ele: “Não, já é”. Aí fui trabalhar lá. Comecei a trabalhar dando aula do lado de fora, aí chovia e não podia dar aula. Ele não podia celebrar missa. Aí depois de seis meses eu tava montando um espetáculo, e o Fred trabalhando com Ribaltinhas, latinhas de leite ninho pra fazer a luz, a gente não tinha dinheiro porcaria nenhuma. E aí que a gente tava com o espetáculo quase pronto. “Padre, o senhor não está celebrando missa na capela, padre. Será que a gente não poderia fazer a peça lá?” “Ah, mas...” “Padre, mas não tá celebrando missa, quanto tempo, já tem mais de seis anos a capela? Ninguém vem aqui nem rezar, padre”. Aí, ele deixou a gente usar a capela. Eu falei: “Padre, será que a gente pode aumentar o altar, só um pouquinho, com madeira? Eu vi que o senhor tem umas madeiras ali, o senhor não arrumaria pra gente?”. Ele, com muito sacrifício, deixou a gente aumentar o altar, que tava transformando em palco. A sacristia: “Padre, será que a gente não pode usar a sacristia como camarim?”. Fui seduzindo o padre, e ele foi vendo que o trabalho era sério e deixou. E a gente estreou nosso primeiro espetáculo que se chamava Encontros. Eu busquei um caminho de onde mais tinha situações, onde as pessoas mais se encontravam dentro da comunidade, situações pra ter esse jogo de identificação e foi o máximo. Era escola, praia, casa, enfim, tinha várias situações assim. E aí o primeiro espetáculo foi extasiante. As pessoas iam, iam de novo e queriam ver de novo. E na estréia nós ficamos seis meses em temporada com Encontros. Nunca fizemos nenhum espetáculo, dentro do Vidigal, com temporada menos de seis meses.
P/1 – Quem era a plateia?
R – A plateia? Era a comunidade. E nós íamos pessoalmente na casa da pessoa, porque a pessoa que não é ligada a sair de casa para ir a alguma situação cultural, ela tem que se sentir importante também, como culturada e valorizada. Então chegava e convidava: “Olha, a senhora, nós viemos aqui pra convidar a senhora pra ir assistir ao nosso espetáculo, está aqui o convite, a senhora é nossa convidada especial”, ia de casa em casa.
P/1 – E como é que vocês financiaram essa atividade?
R – Não tinha financiamento. Não tinha financiamento, nunca. Na sequência, fiquei lá no padre e aí o que acontece? Vem, bombou e todo mundo querendo fazer teatro, e eu só trabalhando com adolescente. E a criançada, a criançada, a criançada buscando, querendo, e eu não, não. Aí fiz Martins Pena. Os Dois, ou O inglês maquinista. E tinha uma cena que eu chamei uma mulher de frente, que nem fazia teatro, pra ela fazer uma escrava. Ela é negra, pra ela fazer uma escrava. E tinha uma menininha que enchia o saco, ficava na porta, era um portão de ferro ali, querendo: “Deixa eu fazer...” “Minha filha, não estamos trabalhando com criança” “Mas minha mãe vai fazer”. Essa menina chama Mary Sheila de Paula, não sei se vocês conhecem, é uma atriz. Toda assim. “Minha filha, nós não estamos trabalhando”. Até que um dia eu enchi o saco, porque o irmão dela, eu tinha botado uma cena ótima pro irmão dela e ela tinha ficado chateada, com razão, né? O irmão dela eu botei um escravo levando uma cesta pra uma sinhá, chega lá, aprontava o cesto, quando a sinhá abria, era o irmãozinho, era o negrinho que ela ganhava de presente, que era o que se fazia na época. E ele tinha um solo, ele cantava: “Ô boa noite pra quem é de boa noite”. Ele pequenininho, George. Lindo. E a Mary Sheila e eu: “O que eu vou fazer com essa menina me enchendo o saco? Meu Deus do céu”. Aí tá, tinha uma cena, uma cena que a mãe dela só entrava lá e ficava lá de escrava, encostada, e depois a sinha virava e falava: “Venha”. Ela pegava, saía e ia embora. A única coisa que eu fiz eu falei: “Quando a sinhá falava ‘venha’, que a sinhá saía, eu botei a mãe dela passando no palco, em câmera lentra, botava uma música do Philip Glass, aquela música viajante, e botei a Mary Sheila, filha da escravinha lá segurando na saia da mãe. E ela atravessava o palco em câmera lenta. Essa foi a primeira cena dela (risos) no teatro. E foi um hiper sucesso também, ficamos oito meses com essa peça lá no Vidigal. E a criançada querendo muito. Depois dessas duas crianças no palco todo mundo queria, eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, aí criei um programa de auditório infantil chamado “Show das Cinco”. Que aí, eu tinha um grupo de pagode de crianças, eu era o apresentador, as Gutetes todas criancinhas, botei todas umas criancinhas que eram dançarinas, bailarinas, e eu fazia como se fosse um programa de televisão, um cara fazia a câmera, que era a câmera de isopor, e eu contracenava com a câmera e com a plateia. E aí bombou. E aí bombou, a maioria das pessoas do Nós do Morro hoje, que faz cinema, tudo começou criancinha no Show das Cinco. Era programa de criança, que era um absurdo! Eu me lembro o “Nós do Pagode”, o grupo chamava “Nós do Morro”, já. O Nós do Pagode, que era o grupo que me acompanhava, que fazia as vinhetas, que eu virava pra câmera e falava assim: “Um minuto de comercial”. Aí, eles: (cantando) “Um minuto de comercial, Vou tomar uma cerveja pra ficar legal”. As crianças cantavam isso, pô. Mas eles é que propunham e eu deixava. E aí vem vindo, e um dia no final disso, uma menina, uma amiga maravilhosa, virou pra mim e falou assim: “Guti, vamos mudar isso, cara. Vamos montar aqui, fazer isso daqui a melhor escola de teatro. Vamos dar uma. A minha amiga Lia é secretária do Secretário de Cultura, vamos pá, vamos bombar”. Eu falei: “Já é, vamos lá”. Aí foi. Primeira coisa que ela fez quando eu fiz a parceria era tirar eu e minha equipe do projeto (risos). Aí eu falei: “Isso é incrível, isso é incrível”. Eu falei: “É? Então tá bom, então tá bom! Vou pegar as coisas todas que eu consegui até aqui, vou botar na sua, vou chamar a imprensa, e vou botar ‘A Cultura queima a Cultura’”. Isso, aí veio a rebeldia lá das escolas. Aí, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, não quero saber. Até que a Zezé, que é uma das diretoras do “Nós do Morro” falou: “Guti, não faz isso, cara. Ó o tanto de criança que quer te acompanhar, que não quer te deixar, não faz isso” “Eu vou pra onde?”, não sei o quê. Aí, minha cabeça mudou, eu já tava um pouquinho melhor de situação. Nessa época eu fazia bolsas pra fotógrafos com um cenógrafo que era o Fernando Melo da Costa, eu ajudava a fazer bolsas pra fotógrafos. Eu cortava e ele costurava. E era lindo porque podia trabalhar de sunga, na hora do almoço eu ia pra praia, dava um mergulho, sempre foi meio essa linha. E aí eu fui pra uma escola lá na Niemeyer, chamada Diogo Maranhão, comecei a trabalhar lá, e lá foi uma aula pra mim muito importante porque eu comecei a trabalhar e tinha uma dificuldade, que as pessoas faziam cocô na porta, era um lugar abandonado. Muita ratazana, muito tudo isso. E eu, todo dia tinha que tirar esse cocô e fui ficando bolado. Aí quando passaram alguns meses eu percebi que a gente abria a porta e não tirava o cocô. Eu comecei a descobrir um pouco a relação humana, né, a vida do ser humano, você vai acostumando. Você acostuma com tudo, você acostuma com a dificuldade, você acostuma com a miséria, você acostuma com cocô, você acostuma. E quando eu notei aquilo eu falei: “Bicho, não dá, tá errado, não dá pra ficar aqui”. Mas tudo bem, eu ia lá, fiel, dando aula. Até nessa época só eu dava aula ainda, isso foi já 90. Aí quando, um dia eu cheguei lá, as crianças estavam todas assim. Eu falei: “O que é isso?”. Quando eu olhei, uma ratazana tinha parido, eles levaram linha, amarravam no pescoço dos ratinhos e ficava assim, os ratinhos como se fossem... Eu falei: “Aí não dá, bicho, aí não dá. Para, para, para, vamos sair daqui, não dá mais”. Era o cocô, era o rato, daqui a pouco a gente tava morando com eles lá normal. Eu falei: “Não tá certo. Chega”. Aí fomos pra escola, arrumei com a diretora lá, diretora maneirona, a gente tomava uma beer junto, tal. Falei: “Pô, será que não dá pra gente chegar pra cá, à noite?”. Não tinha aula à noite, ela pegou e liberou o espaço à noite. E aí eu fui pra lá. Como eu ia recomeçar lá? Recomecei com o programa de auditório baseado no Show das Cinco, chamado “Show das Sete às Oito em Ponto”. Era esse programa de variedades que eu também apresentava, a gente montava. E aí fazia como exercício de teatro eu montava, pega um tema, improvisava com os atores, e apresentava. Aí já era legal, aí começou a bombar, malandro. Aí juntava oitocentas, quinhentas pessoas por programa. Por programa. Era um programa de variedades e bombava. Até que depois de dois anos de sucesso, aí lancei vários MC’s, vários de funk, Júnior e Leonardo, po, Mascote, um monte de pessoal do funk hoje, que puxa já é coroa, começaram todos no Show das Sete às Oito em Ponto. Eu falei: “Tá na hora de voltar pro teatro. Mas onde?”. “Diretora, será que não dá, a gente tá botando as coisas debaixo da escola lá no Bar dos Pelotis. Será que tem como a gente fazer uma paredinha, só pra deixar as nossas coisas lá?”. “Olha, Guti. Eu vou liberar, mas a Cre não pode saber” “Pô, valeu Marcinha. Você é show, cara”. E a gente pá, foi no comércio pedir ajuda ao comércio, pedir ajuda, tudo de graça, cara. Ninguém nunca me ajudou em nada. Aí foi, fizemos um cômodo, fizemos as paredes pra deixar as nossas coisas de teatro. Aí botamos o nome de “Castelo de Grayskull”, lá virou o Castelo de Grayskull, e no meio tinha uma pedrona. Aí, quando eu entrei na parada de querer continuar, isso era 92, passaram dois anos, de voltar pro teatro mesmo, eu queria montar, eu tava lendo muito Machado de Assis e tal, e queria montar, tava na fase do gerúndio, fase que cada um tem nas suas doideiras, eu tava na fase do gerúndio. Então eu pensei assim, “Machadiando”. Eu tava lendo as histórias, aí eu escolhi três histórias do Machado de Assis, e comecei a ensaiar. E aí a Rosane Svartman, quando apareceu a Rosane Svartman e o Vinícius Reis querendo fazer um documentário sobre o Nós do Morro. Eu falei: “Po, já é”. E terminou que eles conseguiram um apoio pra fazer o documentário, e tinha uma micrograninha que eles podiam dar pro Nós do Morro. Eu falei: “Márcia, Diretora, será que não dá pra gente puxar só duas paredinhas descendo aqui pra gente fazer tipo como se fosse um teatrinho?”. Ela pá, liberou, “Mas a Cre não pode saber”. A gente pegou e fez essas paradinhas, parede, tal. Aí não tinha janela, não tinha porta, não tinha madeira, e aí vai eu de novo no comércio, e pedir e consegui tudo de novo, fizemos, estreamos, Machadiando, três histórias de Machado de Assis. Nesse período, do Machadiando, antes de estrear, foi uma fase muito doida. Uma fase que eu não gosto muito de comentar. Porque, se você pegar desde o início pra cá, nós estamos falando de vida, nós não estamos falando só de teatro. Você não faz um tipo de trabalho desses sem dividir vidas. E eu dividia minha vida com essas pessoas todas, de verdade. Dividia o meu pão de cada dia. Sempre foi assim. Desde que eu entrei nessa vibe foi assim. E desses 26 anos do Nós do Morro, é incomparável a quantidade de ganhos, é incomparável os divisores de águas. Mas, eu tive muitas perdas. Perdas que eu não tenho palavras pra falar. Assim, tipo, uma vez que tenha mais mexido comigo. To falando porque estou falando da estreia do Machadiando, né? Quando eu tava prestes a estrear, um menino meu que era, talvez, um dos mais queridos dessa época, e acho que de minha vida porque eu amava muito, a gente se amava muito. Todos nós nos amávamos muito, era muito forte a relação de vida que a gente criou. Mas esse era mais porque ele era largadão. Era largadão, mas era fiel demais pra mim, era uma coisa que eu nunca tinha tido. Tipo assim: “Vamos ali”, ele pegava meu boné pra carregar. Sabe, uma pessoa fiel? Bom, nunca tive uma fidelidade assim. Às vezes eu tava triste, porque me dava umas deprês, não tinha dinheiro, tinha dia que não dava nem pra comer, e você, sabe aquela coisa assim doido, né? Aí ele falou, um dia ele falou assim: “Guti, vou lá pra sua casa”. Eu falava: “Não, não, não, quero ficar sozinho” “Não mano, não vou te incomodar, não, eu fico no cantinho lá”. Esse garoto era assim, puxa, mas era demais. Claro que eu também virava pra ele um porto seguro também, era um garoto criado sem pai, só com a mãe, com três filhos, cada um de pai diferente, aquelas coisas que a gente sabe que a maioria é assim. Mas esse virou de uma fidelidade fora do normal. E a nossa vida com o Show das Sete às Oito em Ponto, ele foi maravilhoso. Eu dirigi muito ele, a gente criou muito código. E o cara, tinha uma babaca lá, que tava na boca, e um dia ele seduziu esse cara, esse meu querido, e ele entrou pra boca. E eu quase morri. Eu quase morri. Porque é um investimento de vida, né cara? Você cria uma opção de vida pra pessoa, é uma pessoa, talvez foi uma das pessoas que eu mais tive intimidade na minha vida. E aí, ele entrou pra boca e eu tive uma depressão. Eu falava: “Cara, eu não quero viver isso, não quero viver isso”. Tive uma depressão enorme, falei, ‘cara o que eu faço, o que eu faço?’. Falei pra ele, mandava falar pra ele: “Pô Flavinho, fala pro Flavinho que eu vou morrer do coração, cara! Pra ele sair dessa porcaria!”. Mas o cara envolveu ele, envolveu ele, envolveu ele. Aí um dia ele manda falar pra mim que tá saindo. E eu, faltando 15 dias pra estrear, cara. Garoto com papel, numa história, eram três histórias, ele protagonizava uma das histórias. Ia me matar desse jeito, o que eu vou fazer? Aí falei pra ele voltar, aí ele falou: “Não, não, eu vou sair”. Ele encontrou com uma pessoa muito próximo a mim, do grupo e falou: “Não, eu to saindo. Terça-feira eu to saindo”. Quando eu soube, o filho da mãe matou ele. Matou ele e foi fogo porque não acharam o corpo dele. Os caras pegaram ele. Na verdade encontraram ele três dias depois numa lixeira, na Barra. Aí eu quase pirei (choro). Eu quase pirei, porque, não sei, sabe quando você vê seu mundo cair? E quando pegaram ele, já tinha que enterrar porque tava fedendo, tava podre. Aí eu saí correndo, cara. Eu me lembro que quando me falaram isso, que ele ia chegar no cemitério pra ser enterrado às três horas, isso devia ser uma da tarde. Eu saí correndo, me pegaram já chegando no Leblon (choro). Mas eu só tenho imagem, o cara empurrando o caixão, um cemitério, e a máscara por causa do cheiro e só eu abraçado com o caixão (choro). Aí foi uma perda muito grande na minha vida, assim porque é uma cria, né cria? Uma cria. E morreu de uma forma que é uma pena, uma pena. E aí o caminho tinha que seguir. E eu tive que substituir ele 15 dias. E aí, talvez, nesses 15 dias, também tenha sido os 15 dias mais sofridos da minha vida. Eu, eu dirigi o resto do espetáculo, praticamente onde ninguém me via porque eu chorava o tempo inteiro, o tempo inteiro eu via ele (choro). E aí estreamos, estreamos o Machadiando, foi uma peça que talvez, onde ele estiver, ele tenha iluminado. Porque foi uma peça que foi um grande divisor de águas, assim, tipo foi a primeira vez que a Bárbara Heliodora foi a uma favela, uma crítica de teatro foi a uma favela. Não tem como não mexer na emoção, desculpa gente, tá? A Bárbara Heliodora foi lá, ficou encantada, fez uma crítica linda. Foi o primeiro prêmio Shell, foi o primeiro prêmio, que até então a gente era um Zé Ninguém. Acho que o prêmio te traz uma identidade, como se aí você virasse um cidadão. Ah, e também Machadiando teve uma história bonita, que foi quando eu conheci a Cicely Berry, lá Royal Shakespeare Company, que é uma mulher diretora do Royal Shakespeare há 45 anos. Uma pessoa que também veio pra minha vida pra ficar minha vida toda, minha vida toda. Foi uma pessoa assim, que realmente, tem me iluminado até hoje, com certeza. E aí o Nós do Morro começou esse novo momento, e nunca tivemos apoio de ninguém, porque todos que vinham pra dar apoio era com interesse, e a gente nunca quis vender a alma ao capeta, nesse sentido, entendeu? Tudo era jogo de interesses, daí não rolava. E aí, fomos seguindo, viemos caminhando e fomos ampliando o Nós do Morro, aí formando turmas, já tava começando a trabalhar com pequenos multiplicadores, e foi ampliando a turma, e tinha um menino, pequeno, logo nessa sequência, não, na sequência do padre ainda, mentira. Eu não me lembro quando foi que o Luiz Fernando fez a primeira minissérie dele, lá no Ceará, em Fortaleza, que foi o primeiro trabalho da Letícia Sabatella? Eu me lembro que foi o primeiro trabalho forte do nosso ator do Nós do Morro. Quando a gente fez, e o Luiz convidou esse menino, era um papel muito maneiro e eu fui com ele pra lá, foi quando eu conheci o Luiz Fernando. E é muito doido assim, eu tenho um jogo de relação humana que eu acredito muito, assim, quando a sua vai debate de alma, tipo eu to te conhecendo agora, te vejo agora, e a gente passa dez anos e vai se encontrar a nossa vibe de alma vai estar na mesma atmosfera, né? E o Luiz Fernando foi uma pessoa assim comigo, na minha vida assim, que era o começo dele nesse momento, ele até brinca: “Po, eu também sou meio fundador do Nós do Morro”, e não tenho dúvida que é, acho que cada um com a sua participação, cada um com o seu somar, né? A vida é soma. E aí foi o primeiro trabalho que a gente fez assim, de visibilidade, de criar novos caminhos, e a gente começou a inserir no mercado de trabalho algumas pessoas que começou, e começou com o Luiz Fernando, com essa minissérie. E aí, começamos a caminhar, começamos a caminhar, já aí fomos ganhando outros prêmios, Menção Honrosa da ONU, Unesco, foi criando umas paradas, fizemos uma coisa maneira. Aí essa história de 26 anos, maluco, é uma outra história porque aí muita coisa aconteceu nesse período. Eu percebi um pouco mais a questão de universalização que foi muito importante. Um intercâmbio que a gente fez em cinema, só com a rapaziada da Alemanha, França, Portugal, Colômbia e Brasil. Eles vieram pra cá, a gente fez 70% do filme aqui, 30% em Lisboa, e aí conheci essa rapaziada. E você cria, ainda tava naquela fase assim, que tecnologicamente não tava tão desenvolvido, então tinha aquela coisa de terceiromundismo, né, que hoje nós não temos mais essa parada de terceiromundismo, não rola. E aí a gente começa a aprender mais essa questão do sentimento universal.
P/1 – Essa época que você conheceu o Luiz Fernando você fez depois algum trabalho pra ele, logo nessa sequência?
R – Não. Foi só essa. Mas foi muito intenso. E o Luiz é a mesma pessoa, dentro da minha visão, do meu sentimento.
P/1 – Nesse tempo você já tinha feito televisão?
R – Eu tinha feito. Eu sempre. Assim, eu tenho um período, esse período também, eu comia e pagava o meu aluguel, maioria, graças aos meus amigos que eram produtores de elenco da Globo. Puxa meu aluguel venceu, como eu vou pagar? Caraca. “Fulano, brother, to ferrado!” “Guti, vem fazer uma participação”. Eu ia fazer uma participação porque eu não podia trabalhar direto porque eu tava nessa parada. Aí vem vindo, cara. Aí vem vindo, vem vindo.
P/1 – Quais são as participações?
R – Vixi, cara, nem lembro. Acho que de Vila Madalena à América, a não sei o que lá, muito antes disso. Eu sou da época da Globo na Lopes Quintas, pô. Pra você ter uma noção (risos). Sou da época da Globo os estúdios todos na Lopes Quintas, sacou? Aí cara, mas aí, começam os divisores de águas. Esse foi importantíssimo, essa galera nossa ir pra Portugal conhecer essa rapaziada, aí já cria um outro nível, cria uma outra universalização, sacou? E aí as pessoas também já se circulavam, aí rolou aqueles programas, ‘Gente que faz’, não sei o quê, já vem essas paradas, matérias em jornais, e tal. E tudo vai mudando, e tudo vai mudando. E aí, nesses 26 anos são muitos divisores de água. Sei lá, Cidade de Deus foi um grande divisor de água por eu ter feito a base do filme, fui eu que fiz toda a preparação. Foi a única vez em 26 anos que eu fiquei fora do Nós do Morro, que eu fiquei direto na Fundição Progresso, trabalhando com mil pessoas, eu fui a duzentos e cinquenta parece, por aí. E trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Foi a Kátia Lund que me apresentou o Fernando Meirelles, foi uma vibe maneira, foi inesquecível na minha vida. Essas paradas me trouxe possibilidade de dar workshops até fora do Brasil, né? E também quando a gente começou o primeiro trabalho que a gente fez fora dessa parada Clássicos da Literatura Brasileira com textos feitos pelo nosso dramaturgo, que é um menino que começou no Nós do Morro como assistente lá, ele virou dramaturgo, hoje é formado, um dramaturgo maneirão, o Luiz Paulo, que também é diretor do Nós do Morro. Po, muita coisa. E aí a Cicely Berry uma vez me convidou pra ir à Stradford. Eu falei: “Quem sou eu, maluco, pra ir lá na terra do Shakespeare, malandro?”. Terminou que eu fui pra lá, depois voltamos, depois fomos convidados, até hoje foi o único grupo brasileiro a apresentar em um festival de obras completas de Shakespeare, que normalmente é feito só pelo Royal Shakespeare Company e aí, essa época convidaram quatro países pra apresentar, foi quando nós fizemos Os Dois Cavaleiros de Verona. Foi muito importante viver essa vida e descobrir que a nossa vida é normal, que a nossa arte é normal, que era lindo você estar numa cidade onde a economia é teatro, e você vê, foi lindo a gente ter workshops direto, aula direto com o pessoal, com os mestres do Royal Shakespeare. Ao mesmo tempo, tanto algumas pessoas do Royal Shakespeare quanto uma rapaziada de Birmingham, também vieram pra lá, eu poder coordenar um workshop com eles, lindo, tenho imagens lindas onde Shakespeare está enterrado, eu botei todo mundo lá no meio daquela sepultura, decorando texto. A gente tem coisas maravilhosas que vão acontecendo na vida. Mas só em 2001 que nós tivemos o primeiro patrocínio, que foi a Petrobrás. Começamos em 2001. E o Nós do Morro veio crescendo, quando chegou em 2001, eu cheguei a uma conclusão o seguinte, que a gente não pode ficar achando que é só a gente que tem que sair desse gueto aqui e invadir Leblon, invadir Ipanema. Chega uma hora que eu acho que a gente tem que abrir a cabeça pra essa fusão sociocultural. Porque tem muita gente de Ipanema e Leblon que também quer vivenciar e viver essa arte intensa, e experimental da nossa forma contemporânea de viver, de ser, de trabalhar, né, porque a gente experimenta o tempo inteiro. O grande barato é esse desafio diário. E até mesmo essas questões filosóficas, tem muita gente que quer esse tipo de envolvimento. Quando a gente pegou e abriu pra ter essa fusão, que hoje em dia o Nós do Morro tem gente do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Tem gente que vem de qualquer lugar do Brasil pra fazer Nós do Morro, né? Tem gente que vem equivocada, achando que é um trampolim para a TV Globo, que eu odeio. Falo: Lá é pra quem quer viver a arte, o resto é consequência, o resto é consequência, né? E aí vai indo cara. Depois já fizemos temporada também lá em Londres, no Barbican, que é um dos maiores centros culturais do mundo. Estreamos o nosso Gorki, Pequenos Burgueses, estreamos lá em Lisboa, temos parcerias que a gente hoje tem mais um jogo...
P/1 – Quantos são hoje?
R – Ah, nós atendemos mais de quatrocentos pessoas. Mais de quatrocentos. Mas assim, muito sofrido. A política cultural ainda é muito punk. Eu acho.
P/1 – Vou ter que dar um pulo assim, depois a gente volta, só pra dar uma encaminhada, né? A gente pode até marcar pra depois...
R – Já é, porque falar de 26 anos de Nós do Morro, malandro, é trash.
P/1 – Não, eu acho que merece, sim. Nós do Museu da Pessoa, eu acho que a gente tem que marcar mais um...
R – É, porque se você pegar Nós do Morro hoje, todas as pessoas que estão no mercado de trabalho é outra história, sacou? (risos).
P/1 – Mas acho que o Museu da Pessoa tem interesse em continuar. Eu queria perguntar como é que foi o convite do Luiz Fernando, ou quem te convidou pra fazer a Subúrbia?
R – Ai caramba, vou te contar uma coisa você não vai acreditar. Esse ano é um ano muito doido, um ano que eu comecei um ano, a gente começou o ano ensaiando a nossa peça, que tá em temporada, que tá voltando pro Rio agora dia 15, lá pro Vidigal mesmo, que se chama Bandeira de Retalhos, que é uma peça do Sérgio Ricardo, que é um cara maravilhoso, é um cara que mora no Vidigal desde a época que eu morava já, e é uma peça que tem muito a ver, que fala sobre a ameaça de remoção da favela na década de 70, então isso foi um grande presente. E em março eu fiz 60 anos, e nesse ano eu to fazendo 40 anos de profissão. Sabe quando pluf, dá um clique e cai essa parada? Eu to tendo crises, tem uma hora, porque eu sou ator e to muito envolvido, só envolvido com cotidiano, com a peça que tem que montar, não é pra ficar assim, se liga, e brincando com o hospício da preparação e tal, dos atores, cuidando, muito envolvimento e eu, eu to sem alimentar, sem me alimentar como ator há muito tempo. Sei lá, o último trabalho que eu fiz foi uma minissérie que conseguiu conciliar porque foi na TV Brasil, Natália, fazia um pastor, um ex-alcoólatra, todo pastor é ex-alcoólatra. Mas fiz aquilo. Foi maravilhoso e aquilo ficou no meu gosto, aquele desejo, e aí cara? Falei: “Pô esse ano eu quero trabalhar, cara, como ator. Tem uma peça que eu tenho vontade de montar que ainda é do cara, do Hugo Zorzetti, lá que eu comecei a fazer, quero adaptar aquela peça, queria fazer, tal”. Aí, cara, sem mais, nem menos, me liga uma menina da Globo: “Guti, o Luíz Antonio quer falar com você” “Ah?” “O Luiz Antonio queria falar, que dia ele pode ir?” “Como assim?” “Não, ele quer bater um papo com você sobre uma minisérie que ele vai fazer”, não sei o quê, não sei o que lá. “Caraca!” Aí já era o Luiz Fernando Carvalho! O meu amor sempre foi o mesmo, mas nesse ponto, nesse período, quantas poesias que ele não escreveu, né? Porque eu sempre vejo os trabalhos do Luiz como poesia, porque é um cara que tem coragem e faz o que ele acredita, do jeito que ele acredita, e uma pessoa que faz isso, pra mim isso é um poeta. Apaixonado pelas coisas que ele faz, sempre assim, sabe quando você fala: “Pô, me orgulho de gostar dessa pessoa?”. Isso que eu acho que é maravilhoso, né cara? Eu adoraria me orgulhar assim de políticos, pena que a gente não se orgulha assim, né? E ele pra mim sempre foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, assim. Aí quando ele falou comigo eu pensei comigo: “Pô, ele deve vir aqui pra ver se tem algum ator”, como sempre, como todos os diretores, como todos os produtores de elenco, vão no Nós do Morro, alguns amigos até hoje, de vez em quando até me convidam pra fazer uma participação porque sabe que eu não tenho tempo, que eu não posso. Então vem num momento mais de chave, tal. Eu falei, legal. Aí ele chegou. Quando ele chegou eu esperei ele lá na porta, foi uma coincidência, porque os meninos, esses moleques, eles têm um bonde chamado Panteras Negras e Pérolas Negras, os meninos, e eles estavam ensaiando embaixo, eu tava vendo o ensaio deles, um pedacinho, quando o Luiz chegou. O Luiz chegou eu já mostrei os meninos que estavam ensaiando: “Olha aqui, o pessoal tá ensaiando aqui”. Aí fomos conversar, e eu tava no meu horário de ensaio também, da peça. A gente subiu foi pra minha salinha lá em cima, no Vidigal. Foi lá, e lá ele me fez o convite. Eu falei: “Eu não acredito!”. Não é esquisito? Presente de 40 anos e de 60 anos?
P/1 – E ele logo de cara te contou da minissérie, falou do personagem?
R – Contou. Falou: “Olha, tem um personagem assim que eu to pensando em você”, que não sei o quê, que a minha relação com você, com a história do Nós do Morro. Aquilo que é, aquilo que não é, mas eu acho que, sabe tipo assim? Cara eu to num momento da minha vida que eu to precisando renascer, eu to reclamando esse ano o tempo todo, “preciso renascer”. E eu acho que a gente só renasce quando você faz aquilo que você gosta, eu precisava trabalhar como ator, eu to precisando.
P/1 – Aí veio o convite.
R – Aí veio o convite! Eu falava: “Cara, eu não acredito!”.
P/1 – Qual o personagem?
R – Eu faço o Eder. O Eder, que é o gerente do posto de gasolina. E foi uma coisa mais trash que ele fez comigo é que uma vez, a dez anos atrás, eu fiz um clipe do Rappa, o Salto, foi a primeira vez na minha vida e eu raspei a barba e a cabeça pra fazer. Quando eu olhei: “Caraca! Esse sou eu!”. Pelo meu jeito de ser e tudo, eu falava: “Esse sou eu!”. Me encontrei, e aí virei esse cara, carecão, sacou? Pô, sou tão assim que eu não olho no espelho pra fazer barba e cabeça, não. Estou debaixo do chuveiro, pego o barbeador, mas normal, sou acostumadão, dez anos. Quando o Luiz vira pra mim e fala assim: “Deixa a barba e o cabelo”. Eu falei: “Já é” (risos). Eu falei, cara, preparação, não acredito! Eu acho que eu tava carente, eu tava precisando. Você sabe que pra você seguir a vida, pra você seguir seus ideais, pra você seguir, você precisa se realimentar como uma planta, que você planta, se você não regar, se você não adubar, ela para, ou morre. Porque com tudo isso que eu te falei, é o que eu to te falando, quantas turbulências que não tem? Se você não se alimenta, como é que você se fortalece? Como que você? Que álibi você tem pra fortalecer?
P/1 – Aí, você começou a gravar...
R – Não, aí eu comecei a deixar a barba crescer, e eu falei assim: “Bom, como vai ficar minha vaidade se minha vaidade toda é careca, é o meu jeito, sou eu?”. E eu tive uma coisa fenomenal, cara, que eu tenho graças aos deuses da arte, que é, nunca nesse período eu olhei no espelho assim, e falei: “Nossa, como eu to”. Caraca, porque eu nem sabia que minha barba era branca, lógico dez anos atrás não tinha nem cabelo branco. Eu olhava assim, uma coisa muito sinistra, que aconteceu comigo. Eu olhava assim e falava: “Caraca. O Eder tá chegando”. Passava a mão, “Caraca, o Eder tá chegando”. Só foi acontecendo isso comigo. A minha entrega, o primeiro dia que teve preparação, eu não acreditei como eu precisava daquilo, que eu deitei no chão, que abaixaram a luz e botaram a música e falaram: “Fecha os olhos”. Eu falava: “Eu não acredito nisso”. Era como uma massagem, sabe assim? Sabe, era como uma massagem na alma cara. E eu sinto que o Subúrbia pra mim tá sendo um renascer, tá sendo um renascer. Eu agora, por exemplo, nessa sequência, to te falando, parece mentira. Nessa sequência do Subúrbia me vem Faustini, com Luiz Eduardo Soares e me convida pra fazer um monólogo que é o último livro do Luiz Eduardo Soares, que é um livro pancadão. E eu falei: “Cara, eu não acredito que eu estou merecendo isso!”. Talvez acho que tipo tá botando combustível, to precisando de combustível. Porque, veja você, cara, eu to no Nós do Morro, nesse período agora, nós estamos há três meses sem patrocínio. Você sabe o que é três meses sem patrocínio? Como é que a gente vai pagar a luz no mês que vem? Nós vamos montar a peça lá agora no Vidigal, vamos cobrar cinco reais, ou dez, inteira e cinco meia, ou dez pra quem é de fora e cinco pra comunidade. Mas a gente vai ter que pagar a luz. A gente vai estar refazendo esse patrocínio com a Petrobrás, mas vai sair lá pra novembro! E eu tenho que cuidar de tudo isso, tenho que ver tudo isso. Sem contar o embate que se tem de quatrocentas pessoas, as quatrocentas pessoas têm ego. As quatrocentas pessoas têm ego.
P/1 – Vou só voltar um pouquinho pro Subúrbia. Como eu te disse a gente quer fazer... Como é que, o que tem o personagem? Tem semelhança o personagem com você? Como é que essa história?
R – Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu sou um cara, eu sou um artista que eu busco muito encontrar caminhos assim. O Luiz é um cara, que eu to tão apaixonado, sempre fui, mas assim, eu to apaixonado pelo meu momento dessa minha volta, e ele é um cara de ator. Não um cara técnico, simplesmente, que você tem que sentar aqui, e tá, e favorece, e joga pequeno, e joga mais. Não é. Um cara que trabalha com ator, ele provoca o ator (risos). É maravilhoso esse sentimento. Mas eu, quando eu comecei a falar do cara, eu como eu vou pra Saquarema toda semana porque eu tenho uma multiplicação do Nós do Morro lá, e minha mãe mora lá, eu fui prum posto de gasolina, chamei um gerente, conversei com ele. E comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E comecei a criar formas, caminhos simples, de gerente de um posto, buscando o olhar de cada um, como que cada um tem o seu olhar em relação a esse administrativo, pra chegar no Eder. A composição do Eder foi de uma forma muito simples, muito, sem muita tramóia. Foi o Carnevalli que é um rei, que tem um código com o Luiz como ninguém, e dá liberdade pro ator propor de uma maneira incrível. Então, esse caminho meu veio por essa busca nesse posto, veio por esse caminho do Carnevalli, e do Luiz. A vontade que eu fiquei, em nenhum momento eu tive grilo de fazer a linha ‘to nervoso porque é o Luiz Fernando Carvalho’, nunca. Eu acho que isso é uma coisa que ele tem, que todo mundo, os meus meninos estão apaixonados por ele, pela liberdade de criação. Quem que não fica feliz com a liberdade de criação? Quem que não se apaixona pela liberdade de criação, né? E todo mundo tá com esse encontro com ele. E eu, pra mim, to vivendo isso. Eu to, eu busquei o Eder nesse caminho. Ele é um cara muito ligado no ator. Eu tenho um momento nessa gravação, que eu te diria que eu nunca esquecerei na minha vida. Nunca esquecerei na minha vida. Um momento que o Cleiton chega com os amigos dele, eu to no escritório, e ele me esculacha, atira, pápápá pó, aquela situação toda, e eu vou pegar a arma na gaveta, o cara vem e me ferra, me ferra de verdade. Que ele meteu o pé na minha mão de verdade. Inchou minha mão. E eu, o cara veio em mim, me cuspiu na cara, esfregou o meu catarro na minha cara. E eu pós essa cena, eu tinha um texto pra falar, que eu ligava pro juiz pra contar o que aconteceu e o que o cara falando que ia comemorar no baile, que ele agora era o dono do morro, da parada. E eu tava tão mal, tão mal, porque o cara me esculachou tanto, que quando o Luiz falou: “Valeu!”, que quando falou: “Valeu”, eu falava: “Como que eu vou sair desse êxtase, entre ódio e humilhação, pra fazer essa ligação com a mão machucada toda, de verdade? Como que eu vou sair desse êxtase, parando, mudando a luz, tal, tal, como é que eu vou conseguir?”. E eu fui direto, peguei o telefone e fiz a cena que seria a próxima. E ele foi. E o Luiz foi. Quando eu terminei ele falou: “De novo”, ele falou “De novo”, ele falou “Valeu”. Eu nunca vou esquecer disso. Se eu escrevesse um livro da minha vida como ator, eu jamais deixaria, acho que é um dos pontos mais importantes. E acho que é um exemplo, um exemplo pra diretores perceberem melhor isso. O Luiz tem uma coisa que também tem muito a ver comigo como artista, como diretor talvez. Não sei se é talvez, não sei se eu diria sim, se dentro da cabeça tem como isso, não é trabalhar com o erro, mas eu gosto, no teatro eu trabalho às vezes com o erro. O erro às vezes me traz verdades muito mais do que essa verdade preparada, entendeu? Teve um dia também de uma cena, trash, que o cara chega, que o bacana tá lá de moto, que eu chego e falo: “Puxa cara, segura tua onda!”. A cena ia só até aí, ‘segura tua onda’, e o cara foi, e eu fui segurando o cara, e o cara foi e eu falando ‘segura a tua onda, puxa!’. E o cara vai e encosta no bacana. A cena terminava ali. E o bacana sai da moto, e sai na porrada com o cara. Tudo valendo. E a cena acabava lá atrás. E o bacana com o pai e eu não tava dando conta de segurar os dois, e eu tentava segurar e ele não falava ‘corta!’, e ninguém falava ‘corta!’, e os dois saindo na porrada de verdade e eu tentando segurar. Até que caiu a ficha que eu tava com a arma. Quando eu peguei o revólver a cena parou. Foi a única forma. É um outro momento também que eu não esqueço. Quer dizer, pelo amor de Deus!
P/1 – Nós vamos marcar uma volta sua aqui, que acho que vocês estão com horário da barca...
P/? – São 10:20. É, em 15 minutos pra sair da tua barca...
P/1 – Nossa, pra gente conseguir encaixar ele tipo segunda ou terça, se ele estiver por aí, eu gravaria com ele.
P/? – A gente conversa com a Michele.
P/1 – Mas se topar mais meia horinha com a gente na próxima. Uma hora.
P/1 – Bom, Guti. Eu acho que a gente, não sei como retomar, mas (risos), eu acho que a gente passou muito rápido nessa passagem do seu trabalho. Você falou bastante dele, mas você não falou do desenvolvimento de como ele está agora, e que culminou agora, recentemente, nos atores que vieram também trabalhar na minisérie Subúrbia. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho mesmo.
R – Tranquilo. Porque é muito doido você falar de 26 anos de vida, né? E nesses 26 anos tem coisas muito assim, marcantes. Tanto de um lado, eu falo muito isso às vezes assim, tanto de um lado positivo, quanto negativo. Eu to aprendendo no meu caminhar a deletar os negativos e tentar buscar pra minha vida, pro meu caminho, os lados positivos. É porque é complicado, se você ficar alimentando as coisas negativas da vida, eu acho que você termina atrapalhando o renascer, o recomeçar, que a vida dá essas oportunidades o tempo inteiro pra você fazer isso, né? Então assim, porque quando fala de Nós do Morro a gente fala de gerações, a gente não fala de geração.
P/1 – Não fala de geração.
R – Não, é de gerações, né? Se você pensar assim, por exemplo, outro dia, outro dia não, foi o ano passado, se não em engano, por exemplo. Porque quando a gente pensa nessa coisa da revolução cultural, do que pode transformar o ser humano através da cultura, às vezes você não tem parâmetros. E ela acontece realmente. Ela não acontece a curto prazo, ela acontece no decorrer da vida. Talvez nas lembranças, nos pensamentos e isso vem podendo dar alguma transformação na vida de cada pessoa. Porque quando eu comecei o Nós do Morro em 86, a quantidade de pessoas que cresceu e que tem uma filtragem natural da vida porque a prioridade são as necessidades pessoais de cada um, a sobrevivência. Eu falo muito disso porque a sobrevivência, ela é o seu guia, e às vezes você deseja muito estar fazendo teatro, mas a necessidade de sustentabilidade não te permite você seguir fazendo isso. Eu tenho um exemplo até de pessoas que conseguem, dentro do Nós do Morro, que está desde o início praticamente, consegue atravessar todas as impossibilidades e realizações de verdade. Eu pegaria, por exemplo, o Luciano Vidigal tá fazendo uma participação aqui no Subúrbia. Ele virou um cineasta, cineasta hoje importante. Pra mim é de uma importância muito grande, não só por ele ter feito, ser o diretor de 5x Favela, tava até falando pro Cacá, eu assisti agora 5x Pacificação e me deu um orgulho tão grande de ver. Primeiro que me emocionei muito, me emocionei por você perceber que um caminho da democracia, e um caminho de uma postura política em relação ao país, em relação ao Rio de Janeiro, você ter essa abertura dessa posicionamento é realmente uma conquista única, principalmente um posicionamento de dentro pra fora. Quando eu vi aqueles garotos todos se posicionando perante ao Estado, dando opinião sobre as UPPs, sobre esse caminho novo que o Rio de Janeiro tá vivendo, eu de repente me vi com esses meninos dando uma opinião pro país, uma opinião respeitável, uma opinião que hoje, que as transformações acontecem mesmo, verdadeiramente, quando você passa a ter opinião. Quando você passa a ter opinião, você se torna realmente um cidadão, você se descobre como cidadão. Eu pego o Luciano Vidigal que é um menino que eu também tenho uma emoção enorme de falar dele, um menino que quando ele entrou no Nós do Morro ele tinha dez, 11 anos de idade, a mãe muito pobre, com três irmãos e ele trabalhava de ajudar as senhoras a carregar as sacolas na feira. Essa era a sustentabilidade dele. Durante muitos anos, o que permitiu ele fazer teatro foi ele estar fazendo esse trabalho. E uma coisa bonita que eu acho que a gente tem dentro do Nós do Morro, que a gente sempre falou é a sustentabilidade não é padrão de você falar assim: “Olha, eu sou tal coisa, eu sou ator” “Tá, eu sou ator. Você sobrevive como ator?” “Não” “E aí, como é que fica?”. Acho que viver essa aparência é uma burrice. E desde o início que eu sempre batalho essa tecla de que o importante é você sobreviver não importa de quê o seu trabalho, mas importante que você trabalhe, que você tenha sua honestidade, que você trabalhe. Isso é importante. Não importa o que você faça, talvez até pelo meu caminho, que eu vindo, as coisas, eu não me esqueço que eu tava falando pra você, quando eu fazia faculdade, eu sobrevivia como? Eu fazia essências. Então, “Pô, o Guti fica de bob na praia”. Ficava de bob na praia mesmo, fazia Jornalismo de manhã, voltava do Jornalismo e ia pra praia. E na praia eu ficava de bob, mas eu ficava pegando conchinhas, pequenininhas, entendeu? E com essas conchinhas que eu decorava os vidrinhos, tudo lá, claro, aquele bonde, tal. Mas isso aí eu pegava e vendia, eu não tinha grilo de vender isso pros meus colegas, meus amigos, pra eu poder pagar meu aluguel e pra eu comer uma vez por dia. Isso pra mim sempre me deu dignidade. Depois disso, quando eu fundei o Nós do Morro eu já tava mais legal, eu não fazia perfuminho, eu fazia corte de bolsas pra fotógrafos. Um amigo meu era cenógrafo, também ainda não conseguia viver muito como cenógrafo. E eu como ator não conseguia viver como ator, então eu ajudava ele, eu cortava as bolsas e ele costurava. A gente fazia bolsas pra fotógrafos, mas era maneirão, tinha uma liberdade, não abria mão da minha liberdade, estudava de manhã, não, já tinha formado. Mas na hora do almoço do corte das bolsas eu ia na praia rapidinho, dava um mergulho, voltava, às vezes ficava sem comer pra dar tempo de dar um mergulho, era viciadão em praia. Enfim, as opções. Mas quando eu fundei o Nós do Morro as coisas foram mudando, eu já não podia mais me entregar ao tempo de fazer bolsas pra fotógrafo, eu fui passando por uma vida difícil, mas me realizando muito interiormente. Esse período, eu acho que eu já falei, não sei até onde eu falei do Nós do Morro, enfim...
P/1 – Falou.
R – Eu falei. O início, ali, eu sei que eu falei.
P/1 – Você falou.
R – Eu acho que eu falei do início, falei do Djalma Maranhão e falei até do Show das Sete, quando nós começamos o Show das Sete às Oito em Ponto, aquele programa de auditório, né? Falei até aí mesmo, me lembro que falei até aí quando a gente fez Machadiando, três histórias de Machado de Assis, foi quando conseguimos levar a Bárbara Heliodoro no Vidigal, e também foi quando eu conheci a Cicely Berry, a diretora de voz do Royal Shakespeare Company, aliás, ela tá sendo homenageada agora, nessa semana, lá em Londres, e eu mandei um valor da importância da nossa vida com ela, né? Fenomenal, hoje eu tava vendo as fotos que eu nem acredito. E, e aí viemos caminhando, ainda conseguindo intercalar textos que falasse sobre a comunidade intercalando com clássicos da literatura brasileira. Não nos vendemos nesse período, realmente, depois da decepção de uma pessoa que ia nos ajudar, lembra, eu acho que falei disso, né? Que a primeira providência dela quando a gente terceirizou pro Estado era tirar eu e minha equipe, quer dizer, a gente vai aprendendo na vida. Falei isso, e pãm, falei também do nosso intercâmbio com Portugal, França, Colômbia.
P/1 – Falou?
R – Não falei, não? Então vamos chegar lá. Aí o que acontece? O Nós do Morro foi indo, sempre trabalhando com a ideia ‘da comunidade pra comunidade’, isso era fator porque a gente queria trabalhar essa culturação da comunidade. É isso que eu tava falando no início, de pessoas que estão recebendo esse teatro na sua comunidade, ele vai indo, ele não percebe a mudança, a mudança acontece. Não é ‘eu mudei meu estilo porque eu to vendo teatro’. Não, mas isso vai acontecendo, aculturando naturalmente na sua vida. Principalmente quem faz teatro, que faz teatro desde 86 e vai, de repente, quantas pessoas que fizeram Nós do Morro que se casaram e que tiveram filhos, e os filhos com certeza vão pro Nós do Morro, isso é transformação de uma sociedade. Isso a gente vem vivendo. Mas em 2008 ou 2009 a gente começou essa parceria com o Chapitô. Chapitô é um processo sociocultural de Lisboa. Esse projeto foi um projeto muito importante, acho que eu cheguei a comentar sobre ele. Foi um projeto muito importante porque a gente encontrou com a rapaziada, era a rapaziada de mais ou menos a mesma faixa etária, da Alemanha, França, Portugal, Colômbia e Brasil e a gente ia fazer um filme falando sobre estereótipos. Então era muito interessante. Primeiro que foi a primeira vez, a primeira largada de um Nós do Morro de um projeto criar abertura pra uma universalização maior, essa coisa da universalidade que se falava tanto e a gente sempre muito humilhado até então, do terceiromundismo, né? “Ah, é do Terceiro Mundo”. Quando fala assim do Brasil só pensava em índio, não sei o quê. Uma coisa completamente absurda, né, mas existia esse faz de conta, que na verdade a gente percebe hoje que quem pensava isso lá nos Estados Unidos ou na Alemanha, na verdade eles que eram burros, porque não ter esse tipo de conhecimento do que é o Brasil, do que era o Brasil nessa época, realmente é papo de burrice. E a gente vê e percebe também esse jogo também quando a gente falava de estereótipos, era muito importante sobre o que a gente pensava sobre estereótipos desses países, que esses países pensavam sobre o estereótipo do Brasil. Essa troca foi uma troca muito importante. E nós, esse pessoal, essa rapaziada veio pra cá, pro Rio, foi um encontro maneiro, importante, porque a gente começou a trocar vidas, e trocar vidas é muito importante.
P/1 – Eram jovens, eram estudantes?
R – Era toda rapaziada mesmo, de coroa tinha mais era eu mesmo, o organizador lá de Portugal, o resto era tudo rapaziada. E você conseguia perceber nessa rapaziada, independente do ofício técnico do cinema, que o ofício técnico do cinema é universal, a gente já começava por aí. Mas você percebia que todos os jovens tinham a mesma vibe. Por quê? Porque a gente aprende isso na vida, isso eu tenho aprendido muito no meu caminhar, cada dia mais, que a gente pode ter todas as diferenças, mas a gente pode estar juntos em prol de objetivos comuns. Isso foi um exemplo mais maravilhoso que aconteceu na minha vida, e a partir daí, mais do que nunca, eu peguei isso fortemente.
P/1 – Mas era o que, workshops? Vocês iam pra lá, eles vinham pra cá?
R – Primeiro nós fizemos aqui no Brasil workshops e fizemos roteiro, fechamos o roteiro e começamos a filmar aqui, filmamos uma parte aqui no Brasil, depois fomos todos pra Lisboa, ficamos lá durante um mês em Lisboa.
P/1 – Todos quem?
R – Todos rapaziada do Brasil, do Nós do Morro que fez. A do Nós do Morro eram muitos envolvidos, mas viajar só viajaram seis, e seis dos outros países também. Aí fomos pra Lisboa, Lisboa já foi uma experiência linda e maravilhosa, eles alugaram um prédio de três andares e botou todo mundo junto lá e não podia ficar gente do mesmo país no mesmo quarto. Então era interessantíssimo essa descoberta, essa busca, esse encontro, essa vivência. E foi uma descoberta muito grande no sentido dessa culturação, dessa limitação que nós achávamos como país de terceiro mundo. Você perceber rapaziada que era francês, mas que morava na Alemanha, ou português que morava na Holanda. E você percebia que a necessidade dessa rapaziada, por exemplo da Alemanha, não tinha nada a ver com as necessidades dos jovens sobreviventes de um Vidigal, sobreviventes no sentido de querer fazer uma arte e impossibilitado pelas dificuldades. Era uma das primeiras aberturas que se tinha, Nós do Morro foi um dos primeiros projetos a abrir a possibilidade de um sonho mais amplo. Imagina, qual pobre que vai nascer e vai falar: “Mãe, quero fazer teatro” “Ah é”?
P/1 – Quais eram os requisitos, o que precisava pra se inscrever no projeto?
R – No Nós do Morro o requisito era simplesmente você estar estudando. Você estar estudando, começando a ler já podia fazer Nós do Morro.
P/1 – Tinha gente do tráfico, alguma coisa assim, que procurou?
R – Nós nunca entramos na vibe de tirar ninguém do tráfico. Eu acho que a gente sempre entrou com o jogo do desejo. Quando você deseja você insere normas estabelecidas, isso é com certeza. Mas, nós nunca fomos um projeto de falar “ah, vamos tirar pessoas do tráfico”. Nunca, nunca. Isso, se aconteceu, foi por desejo, mas nunca fomos fazer a cabeça de ninguém. Claro que você podendo chegar junto você chega, como a gente chega junto em várias situações, várias situações. Até contei a história do Flavinho, mas isso não foi uma situação que a gente chegou, quando aconteceu, foi uma coisa definida, já tinha acabado. Mas a gente chegou a interver em situações que eram possíveis. Mas nesse período, foi um período muito importante porque deu uma abertura na cabeça de todos nós, inclusive no meu desejo, minha cabeça mudou muito, ampliou muito. Eu nunca entendia porque eu fiz o Nós do Morro, quando eu fiz o Nós do Morro, quando eu fundei o Nós do Morro, quando rolou essa parada de rolar o Nós do Morro, eu falava assim: “Pô cara, eu vou ficar uns cinco anos, tal, vou continuar com meu trabalho”. Mas não rola, foi uma parada doidona que eu falo assim, muito assim, eu não sei se eu já falei isso, eu dou muito esse exemplo. É pegando uma onda, pegou um tubo, quando você vê, malandro, é um túnel sem volta, porque nunca rolou de eu voltar, nunca rolou. Nunca rolou. Por que que não rolou? Porque a relação vai se criando muito, vai se aumentando. O desejo das pessoas vai aumentando. Isso foi crescente. Eu, você me falou pra falar dos meninos, das crianças. Aí, essas crianças, quando eu falei do Luciano Vidigal, eu falo de uma geração, na época deles, que quando eu contei no início que a Mary Sheila entrou no Nós do Morro que ela ficava enchendo o saco pra entrar, e a gente não tinha, quando eu fundei o Show das Cinco, esse Show das Cinco era um programa de auditório que toda galera era criança, só tinha eu de coroão na parada, e viajava na vibe deles, que era a única forma de eu ter as crianças, eu não tinha como dar aula de teatro pra todos eles, não tinha estrutura, eu fazendo tudo sozinho, só eu que dava aula. Não tinha multiplicadores ainda, eu não tinha nada disso, só tinha eu na parada. E eu doidãozão inventava parada e falava: “Vamos fazer isso”. Programa de auditório tem que ter uma câmera, então como não tinha câmera de verdade era uma câmera de isopor. A gente contracenava legal. Se você pegar ali Cíntia Rosa, que hoje é uma atriz importante, legal, né. Sabrina Rosa. A Roberta Rodrigues foi depois. Luciano Vidigal, uma galera. Pablo Sobral, uma galera que veio nesse bonde. Aí eu montei um bonde de crianças. Aí, com as que eram fixas no programa eu comecei a dar aula pra eles, e pros adolescentes que eu já dava aula, então tava montando ali duas gerações, que era muito doido. Mas esse bonde que eu sempre montei, sempre foi um trabalho do faz tudo, aqui todo mundo faz tudo. Nunca foi chegar e encontrar sala limpa e você fazer. Sempre foi todo mundo faz de tudo. E sempre trabalhando o estimulo à leitura, a importância, pá, mas não virar obrigação, descobrir o desejo, descobrir o prazer. Porque a obrigação, eles já viviam a obrigação da escola. “Você tem que estudar! Fez a tarefa?”. Era tudo na obrigação, não é no desejo, eu tenho que fazer minhas tarefas, ou eu desejo, eu tenho que ler A Moreninha porque vai cair na prova, isso não tinha. Então um fator que eu achava muito importante era batalhar essa parada do desejo. E aí foi caminhando. Quando foi que a gente fez em Lisboa, que a gente voltou, eu comecei a perceber, eu falava muito, eu sabia desses esquemas de comprar briga com estereótipo, por eu ter trabalhado com a Marília Pêra, por eu ter trabalhado em outras coisas, outras peças e tal. Então eu sair e largar tudo isso, sonho de qualquer jovem ator, ou jovem migrante, e eu largar tudo por um teatro de um conhecimento que eu tinha, tanto de escola de teatro quanto de vivência do teatro mambembe, com vivência da Marília, de Domingos Oliveira, essa vivência toda que eu tinha, e eu encontrar essa metodologia, que eu disse, inspirada no Paulo Freire, por que não eu pegar a metodologia do Freire e buracar junto com Stanislavski, com Boal, com Bock, com a Amir Haddad, sei lá, com a Marília. E aí você cria um caminho próprio, acaba criando um caminho próprio. E era muito interessante, com essa briga do estereótipo porque você encontrava com as pessoas, ia pro baixo Leblon: “E aí, Guti, tudo bom?” “Tudo bom” “E aí, como é que tá o teatrinho lá no morro?”. Teatrinho. O cara que trabalha a vida todo no teatro, busca, busca caminhos que nem eu sabia que caminhos eram. Mas essa confiabilidade foi Marília Pêra quem me deu, eu não achava que eu tinha capacidade pra isso. Eram as formas, os elogios dela que me davam autoafirmação. Eu acho que o ser humano, às vezes ele precisa. Ele precisa de um elogio, precisa de um toque, precisa. É necessário você se perceber capaz. Então eu encontrei esse caminho, buscava essa metodologia forte. E aí foi, caminhou, passou, década de 2000... Chegou uma hora que eu achei, e a gente aí quando ganhou o primeiro prêmio, a gente virou cidadão, prêmio da Unesco, da ONU, e outros prêmios também. Mesmo antes de 2000 ganhamos prêmio também de Coca-Cola, indicação de melhor ator, melhor espetáculo, aí a gente já começou a virar circuito, foi final de 1990, quase 2000 que a gente fez a nossa primeira abertura pro circuito profissional, que foi no Teatro Laura Alvim, que a gente apresentou três espetáculos, um espetáculo era adulto, era um Machadiando que a gente guardou ainda na memória, era “Abalou - um Musical Funk”, escrito pelo nosso dramaturgo, o Luiz Paulo, que também tá comigo desde o início, também é fundador do Nós do Morro. Que a história dele é linda, ele era um estudante simplesmente, e eu provoquei ele a escrever no jornal Mural, aquele jornal que eu tinha, tal, então ele vem daí. E ele nunca foi de atuar, ele sempre veio na dramaturgia, até fazer faculdade de Literatura, de Português, tal, e hoje ele é dramaturgo, um cara maravilhoso realmente, importantíssimo pro Nós do Morro, e acho que pro Brasil, não tenho dúvida que é importante. Mas aí, eu tava falando lá do prêmio, tal. Aí chegou um momento, cara, que a gente achou que era necessário não só ser da comunidade pra comunidade. Tinha um cara que foi em 90 que o Cacá tinha pedido muito pra ele fazer cinema no Nós do Morro, o Gustavo Melo, que hoje é cineasta também do Nós do Morro, que ele era lá do subúrbio, tal. Não é Subúrbia, não, é subúrbio. E ele era de lá e o Cacá pediu muito, tal, e a gente deixou ele entrar. Foi quando começou a bater na cabeça da gente da gente começar a trabalhar essa fusão sociocultural, que era importante também pra gente desmontar gueto, porque gueto não se monta só em um lugar, não é independente de classe social. A gente não pode só o Vidigal querer descer e abraçar o Leblon, infiltrar em Ipanema. Mas por que não as pessoas que desejam de Ipanema, do Leblon também, infiltrar dentro do Vidigal, e absorver esse caminho filosófico, esse caminho de arte que a gente propunha, e que as pessoas, muitas gente se amarra, que às vezes tem grupos de teatro que simplesmente são descartáveis, ou grupos de teatro que foca determinado caminho. E são pessoas que de repente se simpatizam com o caminho que a gente tem. E aí foi o momento que a gente começou a trabalhar e abrir pequenas vagas, e foi exatamente quando começamos a ser patrocinados pela Petrobrás, que foi 2001. A gente começou a abrir pra ter essa fusão de pessoas de outros lugares, não só de Ipanema e Leblon que tava falando, mas desde Nova Iguaçu, Cantagalo, Pavão, de todo lugar. Rocinha, óbvio. Então a gente começou a abrir esse caminho pro Rio de Janeiro inteiro, e aí começou essa fusão doida. E começa a ter conflitos. Começa a ter conflitos porque você trabalha com crianças, com qualquer adolescente, com qualquer idade e você vai, a questão filosófica, sete horas, não é sete e um. Sete horas você tem que estar pronto pra começar. Aí quando gente que mora em Nova Iguaçu vira e fala: “Ah, o ônibus” “É que moro na Ilha Grande”. Bicho, não quero saber do ônibus, malandro. Hora é hora, então vai adaptando sua vida. Cria-se caminhos doidos. E indiscutivelmente cria-se fusões de pessoas que acham que é simplesmente um caminho pra televisão, e a gente abnega isso, né? Chegou uma época, eu me lembro, falando do infantil, né? Falando e lembrando de algumas pessoas que hoje estão na mídia e tal, me lembrei do Thiaguinho, Thiago Martins, não sei se você conhece ele. É um menino que faz essa novela das oito, ele faz muito cinema. Ele é muito bom. Eu me lembro dele, por exemplo, antes dele entrar, antes dele fazer o Proibido Brincar, esse espetáculo que era só com crianças, foi em 2001. Eu me lembro que o irmão dele já fazia Nós do Morro. E a mãe dele viajava muito. Ele é criado só pela mãe e o irmão mais velho. E a mãe uma vez viajou muito pro Nordeste, essas mães nordestinas, a maioria dos meninos é criada sem pais, 90% são criados sem pais. E a maioria não tem acompanhamento em casa, então a gente termina virando um pouco família, não tem como não virar! (risos) Não tem como não virar! Se o menino não tem um acompanhamento escolar em casa, cara, você tem que chegar e falar assim: “Como é que tá? Deixa eu ver esses cadernos”. Esses meninos que estão aqui eu faço isso.
P/1 – Faz isso?
R – Faço isso, não tem como não fazer. A gente não tá dividindo a aula de teatro, a gente tá dividindo a vida. Não é isso, entendeu? O Thiaguinho, eu me lembro dele. Eu adorava curar ressaca num botequim lá no Vidigal, eu adorava curar ressaca aos domingos, eu levantava totalmente bêbado, ia pra um botequim lá do lado do Barba Branca, um botequim que tem lá, o Barba Branca, e a dona Zenira fazia um pastel maravilhoso de manhã. Então assim, po, só curava a ressaca ali com Coca-Cola e pastel frito da dona Zenira. E eu ficava ali, cara, e quase toda vez o Thiaguinho passava com a tia, que a mãe tava no Nordeste. Passava com a tia. Eu nunca esqueço dessas cenas. Ele passava e a tia pegava na mão dele assim, passava, e ele olhava pra trás e a tia puxando ele, e ele olhava pra trás, olhando pra trás, querendo falar comigo, eu sei que querendo entrar pro Nós do Morro. Até que um dia a gente convidou ele, ele veio fazer inscrição a gente aceitou, ele veio pro Nós do Morro. E era muito engraçado porque o Thiaguinho tem coisas muito engraçadas, muito interessantes. Ele pequenininho, como ele ia todo domingo pra igreja com a tia dele, ele já tinha um talento que tava guardado ali, que ele cantava na igreja. E era lindo. Eu não esqueço. E todas as pessoas, a equipe, não sei o quê, vai visitar o Nós do Morro. E eu sempre fui meio hospício, botava uma pessoa assim, em cima de um pé de... Lá tem muita árvore no Nós do Morro, botava em cima, saindo de trás de uma pedra e falando uma poesia. Alguém sai de cima da árvore e fala um poema, ou fala um texto. Eu sempre fiz essa loucura pra alimentar mesmo a loucura, senão não interessa, o teatro não pode ser careta. Então tem que abrir essa liberdade da loucura, eu adoro fazer isso. Aqui o microfone, canta uma música pra mim. Se ele fala: “Ah...”, já era, não passou no meu teste. Meu teste é quando pega o faz de conta e canta, aí já passa, já tá no pré-hospício. Meu olhar é meio assim, eu sou observador o tempo inteiro. E o Thiaguinho cantava uma música que era maravilhosa. Se você chegar nele hoje e perguntar sobre essa música você não vai acreditar. Eu me lembro que era: (canta) “Grande é Jeová/ O senhor eterno o nosso Deus / Grande é o que domina em nossos corações (cantarola) Símbolo da Paz / nana ni na nina”, sei lá, enfim. Ele cantava esse hino, mas era lindooo ele cantar esse hino porque ele cantava com a alma. Além dele ser afinado, ele cantava com a alma. Era a coisa mais linda. Eu me lembro, o Sérgio Brito uma vez fez um programa com a gente, aquele programa que o Sérgio Brito fazia, e ele terminou com o Thiaguinho cantando. Isso tá guardado, é lindo. E ele foi um menino que foi de uma vibe, de aprendizado, de fazer tudo o que o hospício pedia, entendeu? Tudo o que o hospício pedia ele fazia, então [poxa], o cara que tem um caminho aberto, não tem como. E assim é qualquer um, isso é qualquer um. E aí, esse bonde, a gente montou esse bonde dessa criançada. É uma criançada que tem, dessa criançada, desse primeiro espetáculo só com crianças que a gente montou, profissionalmente, tem Thiaguinho, tem o Micael, que é Rebeldes, Micael Borges, tem o Marcelinho que está nessa novela das seis, Marcello Melo Júnior, nessa nova que começou, tava na outra e tá nessa agora. Tem um bonde. Tem um bonde que se deu bem.
P/1 – Como começou? Os diretores, eles vão até lá, como é que faz?
R – Não, sempre a gente arrisca o nosso Departamento de Elenco. Mas aí, a gente caminha por caminhos tortuosos. São caminhos que vêm vindo, a gente vai descobrindo. A gente sempre tentou ter um Departamento de Elenco. Legal. Eu sempre sonhei.
P/1 – O que é um Departamento de Elenco? Um banco de atores?
R – Ter um banco de atores. Eu sempre pensei, na minha vida eu sempre pensei na sustentabilidade. A gente é vitorioso em coisas, mas fracassados em outras. Em relação do Departamento de Elenco eu me sinto fracassado, me sinto fracassado por quê? Porque tem muito oportunista. Tem pessoas, olha, eu tenho atores que saíram de lá, que a gente se dá até hoje, obviamente, se ama, mas que agentes que foram lá e pegaram sem nem chegar e falar: “Oi Guti, tudo bem? Nossa, quantos anos que eles estão no Nós do Morro? Há 20 anos, há 18 anos? Nossa, que legal. Agora tudo vai ser meu, tá? Agora toda porcentagem é minha, tá? Agora eu que vou levar ele, tá”. Nunca, nem isso, nem nesse tom teve. Não vou citar nomes porque eu não sou de dedurar esses babacas que tiveram esse tipo de tom. Porque é uma pena, a gente criando uma sociedade democrática. E o meu sonho era assim, eu sempre sonhei com uma coisa assim, que legado que eu vou deixar? Daqui a pouco eu tô vazando, claro. Tô vazando pela idade. Daqui a pouco já era. Que legado você tá deixando? Que caminho de sustentabilidade que você tá deixando? Por que eu não posso, por que eu não podia ter trabalhado melhor esses meninos pra que eles mesmos tivessem a opção de falar assim: “Não agente, deixa eu ficar aqui, mesmo arcaico, mas quem sabe a gente não vai conseguir fortalecer mais isso aqui pra isso aqui ser mais grandioso, pra que isso aqui possa existir”. Mas infelizmente eu não consegui, eu não tive ajuda suficiente pra ter uma agente bacana que tivesse dentro do Nós do Morro, uma infraestrutura. Que por um lado, também, eu não discordo deles também não porque às vezes a pessoa alça voos, quer voos maiores do que você pode dar. Mas não era o meu sonho, meu sonho era que as possibilidades do sucesso fossem as possibilidades da auto sustentabilidade de departamentos pra que, até, por exemplo, como agora, a gente tá sem patrocínio. Como que a gente vai pagar a luz do mês que vem? Ainda não sabemos se a gente vai fazer um workshop fechado, o que a gente vai fazer. Não sabemos. Você tá ligado? A parada é essa.
P/1 – A Petrobrás continua patrocinando?
R – Mas daí entra o jogo...
P/1 – Dá os gaps, né?
R – Dá aquela vala entre um patrocínio e outro. E até aí morreu neves. Aí é a Política Cultural do país, né? Mas enfim. E aí, nesse período, cara, foi muito maneiro porque esses meninos foram de um momento muito importante, de você ter crianças sobressaindo em trabalho. Porque a primeira criança que sobressaiu do Nós do Morro foi o Pablo Sobral, que também fez uma participação aqui, e que foi o meu primeiro conhecimento com o Luiz Fernando, foi quando ele fez aquele trabalho lá no nordeste, foi o primeiro trabalho da Letícia Sabatela. E o Pablo foi. E nessa época eu que acompanhava a galera, ainda era uma galera mais reduzida, tudo era eu que ia com eles, não tinha essa onda. Eu que ia com eles, pegava, ia e ficava lá, e fui pra Fortaleza com o Pablo, ficamos lá, e foi quando eu conheci o Luiz, que foi essa relação de vida, de vida, né, porque não tem outra palavra pra dizer. Engraçado que eu falei, acho que eu até falei isso aqui, cara, mas eu repito. Eu tô aprendendo, eu fiz 60 anos e to aprendendo isso hoje e reaprendendo amanhã. Porque eu levo susto quando eu reencontro pessoas, quando eu tinha, sei lá, 20, 30 anos, ou quando eu fazia faculdade. De repente eu encontro e olho, e olho dentro do olho, assim, você percebe que o amor é o mesmo, você percebe que a admiração é a mesma, que a relação é a mesma. Que o tempo passou, mesmo as nossas evoluções, as nossas transformações, nossas mudanças, mas esse querer é o mesmo. E o Luiz Fernando foi uma pessoa assim na minha época lá. Eu até falo assim, tem uma cena que toda vez que eu encontro com o Hercio Capri a gente fala dessa cena, né? Nunca esqueço, nós dois sentados lá, e tava gravando embaixo, eu mais o Hercio, o Hercio esperando pra entrar em cena, a gente sentado conversando ali, pôr do sol, uma cidade, microcidadezinha completamente seca, e a gente viajando naquele visual, e a cena acontecendo. E o Luiz nessa mesma vibe de direção, ele sempre foi poeta, desde essa época, que foi quando eu o conheci?
P/1 – Que trabalho foi esse?
R – Não me lembro o nome, foi o primeiro trabalho da Letícia Sabatella, acho que foi uma das primeiras direções dele na Globo sozinho, se não me engano. Eu só sei que aí foi o começo desse trabalho com crianças. E as crianças. Sem contar que eu também já tava começando a entrar num caminho de que buscar atores do Nós do Morro tinha que ser pra fazer bandido, negros, era uma briga também que eu sabia que eu ia comprar, eu sabia que ia comprar. Por que vai chamar um mocinho pra fazer no cinema? Jamais. Então aí começou. O Thiago, o Thiaguinho começou uma vez, foi fazer uma participação de final de ano da Xuxa com uma galera, uma criançada. Fizemos uma mensagem de final de ano da Globo também, o Pablo protagonizando, e mais dez crianças, tem a Mary Sheila, tem um bonde tudo de criançada, criancinha ainda. Eu fui com eles uma vez em Brasília, cafonamente mas eu fui. Eu fui cafona, cafona, cafona. Mas pra falar a verdade eu não me arrependo. Por mais cafona que seja. Era Collor, subir a rampa. Bicho, ah [dane-se], mas em compensação eu tava com dez crianças que entraram dentro do Palácio. Era bom eles verem a engrenagem interna, sacou? Eu achei que valeu a pena. Não tem partido político, não tem religião, entendeu. Enfim, foi lá. Mas foi maneiro, foi maneiro. A gente passeou, eles conheceram Brasília, foi maneiro. Aquela cagadinha lá foi, mas o resto foi maneiro. Ficar num hotel com eles, era tudo maneiro, entendeu? E aí, a gente pegou e continuou trabalhando, e aí rolou esse primeiro convite pra ir pra Stratford, que eu fui a primeira vez conhecer o Royal Shakespeare Company, e pra mim foi um divisor de águas muito importante. Foi muito importante, sim. Nunca imaginava na minha vida, jamais imaginava que eu ia ser tão íntimo do Shakespeare assim, sabe? Íntimo mesmo. É brother porque você é amigo de todas as viúvas, de todas as viúvas, de Bárbara à Cicely Berry. Dos feras, dos feras lá do Royal Shakespeare, assim, impressionante, você pode pega aquela cidade deste tamanhinho, economia é teatro. Você pega aquela rapaziada que mora na Inglaterra inteira, todo mundo é obrigado, é obrigado a ir lá. Então quando você vê aquilo lá você fala: “Pô, existia a possibilidade da gente ir lá, e apresentar A Tempestade, de Shakespeare. Mentira, Sonho de Uma Noite de Verão. Aí, a Cicely Berry veio ao Brasil, viu o elenco, mais ou menos, quem estava, convidou a gente pra ir pra Stratford com esse elenco mas não era aquela peça. Quando ela viu a peça que a gente tava fazendo ela achou que tava meio fora do caminho, enfim, e aí a peça, ia ter uma mostra de obras completas de Shakespeare, onde somente três países eram convidados, e um deles era o Brasil, e nós fomos convidados pra representar o Brasil. E o resto, quem ia apresentar as peças de Shakespeare, todas as obras de Shakespeare, era o Royal Shakespeare. E aí fomos a primeira vez com esse elenco pra conviver com o Royal Shakespeare, com a companhia shakesperiana, ficamos um mês lá dentro e foi lindo. Foi lindo porque se viveu realmente essa história de uma hora é uma hora, uma hora de almoço não é: “Ah, to terminando”. Não é isso. Daqui uma hora é começando. Então, aí todo mundo aprendeu a, faltam 15 minutos, o prato tá cheio? Deixa metade no prato, tem que vazar porque tenho que estar lá. Então isso foi importante. E foi importante também porque foi uma fusão com a rapaziada que tinha um projeto também em Birmingham, que eles saíram de lá e foram pra Stratford, e foi maneiro porque também não foram só os mestres do Royal Shakespeare, eu também dei um workshop com eles, e também foi maneiro. Como eu já trabalho com o hospício há muito tempo e a gente nunca sabe o que fazer, né, eu fazia coisas maravilhosas naquele cemitério do Shakespeare, criei cenas maravilhosas lá. Onde ele tava enterrado eu botei a garotada tudo ali decorando texto no meio das sepulturas, aquilo, eu falava: “Cara, isso é pra não sair nunca da gente”. Sabe aquela coisa assim que você óaaaa, você joga aquela energia, assim? Eu viajava de verdade nessa parada. Eu viajo até hoje. E aí, eu achava que a gente tava meio abençoado por Shakespeare ali, e de alguma forma tava, né, porque é um privilégio único. Daí a gente saiu de lá, voltamos pro Brasil e montamos The Two Gentlemen of Verona, Os Dois Cavaleiros de Verona. E foi um trabalho que realmente, medo danado porque a questão de concepção, por mais que você tenha um processo de trabalho, deles já conhecerem o nosso caminho, tal, Shakespeare a gente pensa nele de uma forma tradicional, você tem medo do seu contemporâneo, e apresentar dentro da cidade de Shakespeare, se apresentando um contemporanianismo em cima, como vai ser isso, eles vão enlouquecer, o que eles vão fazer com a gente, vão pichar a gente, o que eles vão fazer, não sei o quê. Mas a gente pegou o trabalho também, como a gente já tem essa parceria, esse casamento mesmo com a Cicely, a gente pegou e fomos pra lá antes, um mês antes, pra estar ensaiando junto com a Cicely. E essa inspiração veio muito, eu lá no Royal Shakespeare na minha primeira viagem que eu fiz, comprando os cartõezinhos, e a inspiração de montagem vem em cima disso, das roupas que eles usavam por cima. E a gente acabou trabalhando um trabalho bem contemporâneo, fazendo um poço de roupa onde os atores ficaram em cena e eles assumiam os personagens quando ele pegava sua roupa, ele assumir seu personagem. Então foi um trabalho muito legal que a gente não só fez lá, o sucesso foi tão bacana lá, e foi assim, o Graça que era da Funarte e conseguiu passagem com a gente, acho que ele fico assim e tal e foi com a gente pra Stratford, assistiu a gente.
P/1 – Foi?
R – Foi cara, eu quase morri do coração, eu quase morri do coração lá porque o teatro, mil e 400 pessoas, lotado, e eu lá, nervoso, na coxia, quando me chega a diretora de palco e fala: “Tá aqui o seu ingresso”, e eu: “Como assim?” “Seu lugar na plateia”. Lá não tem essa coisa do diretor ficar ali pela janelinha olhando, não, cada um tem suas funções dentro do teatro e todo mundo tem que ser respeitado dentro de suas funções. Nunca tinha assistido a peça pela plateia, lá vai eu pra plateia chorar no meio daquele povo lá, e lágrima caindo assistindo a peça. É muito doido, foi muito doido. Emocionante na minha vida, inesquecível na minha vida.
P/1 – Em português?
R – Em português, com legenda. E tinha um bonde maneiro, tinha a Roberta Rodrigues também, que a Roberta Rodrigues entrou pro Nós do Morro no início da década de 90, foi 99 que ela entrou. Roberta Rodrigues também foi uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito amada, muito querida. Eu só sei que esse Shakespeare, depois disso, a gente voltou e fomos convidados pra fazer uma temporada no Barbican em Londres. E também foi muito interessante, experiência para o Nós do Morro, experiência pra mim então nem se fala. Me chamaram pra dar um workshop em Londres, me chamaram pra dar, o pessoal do Theater Centre me chamou pra dar um workshop em Londres. Quando eu cheguei no teatro lá pra dar o workshop era um teatro lotado de pessoas que faziam teatro em toda Inglaterra. Como eu vou dar um workshop de duas horas? Daí aprendi um negócio chamado workshop show, né, só podia ser isso. Como você vai dar um workshop com 120 pessoas, um teatro de 120 lugares lotado, com gente de todos os lugares. Pô, malandro, aí é doideira.
P/2 – Como a crítica viu e documentou o trabalho do Nós do Morro? O que escreveu-se sobre isso, o que comentou? Esse lance de Brasil, de juventude, de negritude. De que se...
R – Falou de grupo de teatro, que tinha superado essa passagem. Não um grupo de teatro de coitadinho, entendeu? Porque sempre era assim, no começo é a fase do coitadinho, né, ahhh... Não é isso, nós estamos lá, estamos encarando bilheteria no Barbican. Então críticos, críticos de teatro, como aqui a crítica Bárbara Heliodoro.
P/1 – Mas saiu aqui na época, vocês lá. Aqui foi noticiado?
R – Fooii... Claro que foi, lógico, lógico. Foi lindo, imagina, os meninos, todos nós visitando o Globo Theatre, o primeiro teatro do Shakespeare, quando ele foi morar em Londres, depois de conhecer toda a história. E a peça que estreou no Globo Theatre foi Os Dois Cavaleiros de Verona. Ah não, isso é eterno na vida deles. Por acaso do destino, hoje eu tava vindo pra cá, peguei um CD que não sabia o que era, quando eu olhei, uma foto, um CD de fotos do pessoal lá em Londres e Stratford. Momento lindo, momento lindo, acho que encontros inesquecíveis da vida, esse intercâmbio, intercâmbio é muito importante.
P/1 – E esse workshop?
R – Esse workshop foi um workshop show. Workshop show, porque como é que você vai fazer com 120 pessoas? Eu chamei 20 pessoas pro palco e os outros assistiram. Uma coisa muito doida, mas a gente vai passando por essa avaliação, por esse processo, que quando os meninos lá, a Roberta era muito conhecida lá porque tinha passado Cidade de Deus. Cidade de Deus foi um divisor muito forte na nossa vida, né, muito muito muito, muito, nossa senhora. Todo interior da Inglaterra conhecia o Nós do Morro por causa do Cidade de Deus. Termina que o Nós do Morro é conhecido hoje por várias situações. Cenas, assim, tem 300 milhões de cenas que eu contaria pra vocês, encontros inesquecíveis. Eu me lembro do Diabo a Quatro, o filme, não sei se você conhece esse filme. Foi muito engraçado porque eu tive o prazer, em alguns encontros eu tive o prazer. Eu fui fazer O Diabo a Quatro como ator também, e com o Jonathan, essa cena eu falo, não sei porque eu tô falando dessa cena também, tem umas coisas que a gente não tem o que falar e a gente termina falando.
P/1 – Memória é assim.
R – É, memória é isso, provoca, né? Eu me lembro que eu mais o Jonathan, a gente tava meio mal, e a gente tava filmando junto. E tinha uma cena muito doida, uma cena que era a última cena. Ele no Posto 6. Porque olha o que é a vida, a vida dá esses presentes pra gente, né, de você terminar contracenando com pessoas que você criou desde pequeno, essa história toda. Porque o Jonathan comigo também tem uma história doida de filho e pai também.
P/2 – Jonathan, que fez um dos personagens da Cidade de Deus?
R – Não, não. Jonathan Haagensen, é um dos personagens, é. Ele foi como um filho também, criado só pela mãe, então eu tinha uma relação de pai muito forte com ele, tanto que a filhinha dele hoje me chama de vô, não tem saída. Mas era uma história muito doida. A gente tava brigado, eu tava bolado com ele. Brigado, a gente fala bolado, eu tava boladão com ele. A gente tava meio assim, estremecido. E tinha uma cena terrível, que eu batia no ombro dele assim ó, e falava com ele pa-pa-pa-pa-pa. Só que a fala do personagem era tudo o que eu queria falar. E fez uma, e fez duas, e fez três, fez quatro. Quando a diretora falou: “Valeu”, ele vira pra mim com os olhos cheio de lágrimas: “Você falou de verdade, né?”. Eu falei: “Foi cara. Foi”. E aí a gente se abraçou, a gente chorou e ali acabou o problema. Porque tem essa terapia, no meio dessa história toda tem essa terapia, né, não tem como não ter, imagina, quantos trabalhos que já fiz com eles, cinema. O Thiaguinho, fizemos juntos, Era um vez, eu fiz o dono do quiosque, então tem várias situações. Aí a gente chega aqui, pulando uns buracos aí, chega aqui no Subúrbia, por exemplo. O Subúrbia tem o Luiz que foi meu frentista, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, foi maravilhoso trabalhar com ele, foi de um emburacar como nunca, como a gente trocou, como foi lindo eu poder trocar com ele. A gente, às vezes, pegava ônibus no Vidigal pra ir gravar, a gente encontrava com os meninos, com o Cleiton, ali no centro, ainda pegava carona com ele ou então o Carnevali, a gente saía já na vibe. A gente já saía na vibe, a gente tem um trabalho muito doido que a gente já saía na vibe de concentração, de busca, de texto, e discutindo aquele assunto e tal. Porque esse é o grande barato, é você poder viajar no mesmo sonho, sabe assim? Isso é muito bom. E esse com o Luiz foi um dos mais fortes que eu tive assim, de viagem mesmo, da gente estar viajando o tempo inteiro, entendeu? Foi muito, muito rico. Enfim, mas aí voltando de Londres, a gente foi lá e voltou aqui, depois vocês editam porque...
P/1 – Você tava lá no workshop...
R – No workshop. Aí depois disso a minha cabeça mudou muito quando eu fui pra, pra onde gente está os Beatles, lá no... Liverpool. Liverpool. Foi uma época aí que Liverpool, a minha cabeça mudou muito em relação à Liverpool. Era um encontro, Liverpool estava sendo a capital da cultura da Inglaterra. Então todos os grandes eventos, tudo tava em Liverpool. E a gente foi convidado pra ir pra lá, eu fui convidado pra dar um workshop, pra dar uma palestra. E eu só podia ir acompanhado de um jovem do Nós do Morro. Achei interessante. Fui com o Renan, que tá nesse espetáculo também, que é um garoto também, tá desde pequenininho também, é um filho.
P/1 – Ele tá onde?
R – Ele tá nesse espetáculo agora, o Bandeira de Retalho, nosso último espetáculo, é do bonde desde a época do Thiaguinho, desde a peça infantil, ele era criança também. Ele é um multiplicador do Nós do Morro. Ele faz televisão, mas ele é um dos que não abre mão da raiz. E eu levei o Renan pra Liverpool. E Liverpool abriu muito a minha cabeça porque tinha gente da Europa inteira, Ásia, África, Estados Unidos. E se for um seminário forte, além dos grandes eventos, um seminário forte sobre o jovem estar mais atuante nas decisões, de tudo. Porque culturalmente, e caiu em cheio dentro de meus desejos, culturalmente, você pega uma Secretaria de Cultura, um Ministério, você conta nos dedos se tem jovens, você conta nos dedos. Em todas as decisões, as grandes decisões do nosso país, você conta nos dedos onde é que tem jovem. E eu vim de lá doente com isso. Porque lá eu fiz isso, vi todos os eventos que tinham jovens, e eles questionavam essas questões todas, batalhavam nessas questões todas, e foi muito doido. Eu também dei um workshop que me enlouqueceu porque tinha diretores famosíssimos lá de Londres, eu ‘caraca, o que eu vou fazer, workshop pra diretores de teatro de Londres, caraca!’. Mas foi delicioso a entrega, eu venho aprendendo nesse caminho de nunca querer fazer o que eu não sou. Sempre ser autêntico com o que eu sou. Claro que você vai mudando essas coisas de acordo com o time que você tem pra jogar. Às vezes não dá pra você preparar muito uma parada, de repente chega o time, o time não tem nada a ver com isso que eu preparei, aí vai jogar uma outra parada, entendeu? Então eu aprendi muito isso, e Liverpool foi uma escola pra mim, isso.
P/1 – Quanto tempo você ficou lá?
R – Nós ficamos 20 dias.
P/1 – Você e o Renan?
R – Eu e o Renan. E aí a gente veio pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi criar um legado jovem do Nós do Morro. Um legado jovem, onde as decisões, todas as decisões pudessem ter a opinião desses jovens. E eu tentei puxar isso em secretarias, em lugares onde as pessoas pudessem se envolver com essa ideia, mas ainda é muito fraco nesse sentimento, entendeu? É complicado, eu não sei dizer muito sobre isso, é complicado, é muito fechado ainda. Eu particularmente hoje eu acho que o jovem tem um talento grande e a gente deve acreditar, e a gente tem que acreditar nessas mudanças. Eu acho que nessa fusão, a mudança não vai ser nem mudança, acho que fusão. Eu debato com um garoto hoje, eu não debato com idade, eu no Nós do Morro, a minha relação com um por um é assim: “Oi, como vai, tudo bom?”. Olha no meu olho, aperta minha mão direita. O primeiro toque de cidadania pra mim acho que é isso, aprender a olhar, aprender a apertar a mão, esse é o primeiro toque. E eu não tenho idade pra fazer isso, todas as idades eu faço isso, qualquer um deles. A gente vem caminhando.
P/1 – Aí quando você voltou...
R – Quando eu voltei eu tentei em outros lugares, não deu certo, mas dentro do Nós do Morro hoje a gente tem um legado jovem que participa realmente de tudo que a gente faz.
P/1 – Na outra entrevista, só pra retomar, e eu acho que é um gancho também, não sei, fica à vontade. Você disse que estava fazendo 60 anos, e que você tava, você não usou a palavra crise, você falou alguma coisa do gênero, ou se repensando, vendo novos caminhos. Novos não, tentando se reinventar. Não, você não usou essa palavra, apaga tudo o que eu disse. Você disse que estava num momento repensando a sua trajetória. E eu fico pensando assim, porque você lá atrás você tava com a Marília Pêra também numa carreira, aí você vai pro Nós do Morro e fica esses anos todos como você tá, e esse trabalho de raiz bastante forte. E a sua atuação, você enquanto ator? Como ficou nesse processo?
R – Ficou uma vala. Fica uma vala.
P/1 – Nossa, dei uma volta pra falar uma coisa tão simples... Fiquei tentando retomar a entrevista. Vocês esquecem, vocês nunca façam na entrevista, vocês estão aqui pra aprender, ó. Isso aqui vocês não contam, que vocês viram Rosana Miziara fazendo isso, por favor, olha hein?
R – Porque o negócio é o seguinte, como eu tava te falando, até brinquei falando da era Collor das crianças.
P/1 – Mas não teve um lance assim?
R – Sim, teve. Eu vou até contar essa história. Eu tava na era Collor com as crianças lá e tal. A vida dá umas voltas muito doidonas na vida da gente. Eu tenho Ramon, meu filhote que tá fazendo aqui o Suburbia, Ramon Francisco. Ele fez o primeiro clip do Rappa, ele fez o primeiro clipe do Rappa, o Minha Alma. Ele tinha quatro anos de idade. Óclinhos fundo de garrafa. A história dele foi essa. Foi quando, com três anos, ele tinha três anos, já era meio cria minha porque a mãe dele virou minha secretária. A mulher que manda em mim até hoje. Ele é meu filho, eu crio ele, de verdade. Eu que cobro estudo, ele é meu filho, de todos é o que eu crio mesmo, a educação quem dá sou eu, é o meu herdeiro, vamos dizer assim. E ele fez o primeiro clipe, foi quando eu conhecia Katia Lund, foi quando eu conheci o Fernando Meirelles na sequência, que veio Cidade de Deus, toda essa história. E a história do Ramon tem uma história muito bonita porque o Rappa uma vez foi na casa dele, a casa dele era toda de tábua, barraco de tábua, e eles deram a primeira casa de alvenaria. Não fizeram grandes coisas no sentido de “Ó”, mas botaram as paredes de tijolo e uma laje onde era telha de Eternit. E o Ramon, depois do clipe do Rappa foi lindo. A primeira grana dele, que ele foi fazer uma novela ainda pequenininho. E foi fazer uma novela. E quando fez a novela, porque O Rappa quando fez o barraco dele, ele tirou a madeira, a da tia dele era encostada, parede com parede, ainda era de tábua, e estava quase caindo. Então eu cheguei e falei: “Ramon, filhão, da mesma forma que você teve oportunidade dos meninos botarem alvenaria na sua casa, vamos pegar o seu primeiro salário e vamos botar uma laje pra sua tia”. E ele topou, sem entender [porcaria] nenhuma, mas topou. E isso foi importante pra vida dele. Ele até hoje é assim. É um menino muito cuidadoso disso. Tanto que eu vou falar aqui pra vocês, o primeiro salário dele aqui no Suburbia foi trocar a geladeira da mãe dele. Não tem preço, né bicho? Não é qualquer um, não. E a geladeira tava assim: “Pega uma coisa na geladeira”, você pegava a porta e botava do lado pra tirar, depois empurrava e botava uma coisa pra segurar. Quer dizer, tava [fogo].
P/1 – Quantos anos ele tem?
R – Ele tem 17.
P/1 – 17. Figura, hein?
R – É, 17. E, então to contando isso pra falar do meu trabalho como ator. O último clipe do Rappa, eu trabalhei como ator. E foi um dos trabalhos mais fodas da minha vida. Porque justamente aí vem Era Collor, olha como é a vida. Era Collor, não sei se você já viu esse clipe dele, O Salto. Era Collor, pós-Collor, eu fazia um porteiro, o cara, a mulher morria, o cara ficava com o bebê, ele perdeu o trabalho de porteiro, foi morar numa pensão na Lapa. Chegou lá, pensou que ia arrumar trabalho, não arrumou, e o cara foi pra rua com ele, com o bebê, e era muito trash, que era com câmera escondida, maluco. Eu pedi dinheiro em sinal, eu peguei comida pro garoto no lixo. Eu pirei. Era de pirar. E o diretor não me deixava emocionar porque é isso. E eu chorava todo dia que eu acabava de gravar, eu tava fazendo ‘Sonho de uma Noite de Verão’, fazia Óbero, não tinha como sair de lá e virar o Óbero. Eu chegava lá um caco, caído, quebrado, arrebentado, ia pro banheiro e chorava, chorava, chorava. Aí saía de lá me transformando em Óbero. Muito doido, nunca vou esquecer disso. E era muito doido porque a cena final, eu com o bebê no colo, com uma garrafa de cachaça, o cara virou um alcóolatra, ele saía e o bebê chorando, de seis meses. E eu não podia nem olhar: “Não, não olha! Seu olhar é vasado, malandro!”. E é vasado. Quando você determina, principalmente a morte, o olhar é vasado. E eu com aquele olhar vasado, e pá, o bebê chorava, e o diretor não deixava eu chorar, não deixava eu olhar, e aquele olhar vasado, saía correndo, ia pra Presidente Vargas, subia num prédio enorme, e saltava de lá com o bebê. Só que pra esse saltar eu ficava em cima lá pra saltar com o bebê, e o bebê chorando horas: “Acerta a luz” e você lá, quase morrendo do coração, sem poder chorar [porcaria] nenhuma. Enfim, é uma tortura, uma tortura. Foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Depois disso, o tempo passa, não tenho tempo pra trabalhar, convites, convites, convites, não posso trabalhar. Às vezes amigos me chamam, faço uma pequena participação na Globo, uma participação de transições de novela e tal, sabendo da minha vida difícil. Aí, eu fui fazer um cara maravilhoso aí, André Pelotis me convidou pra fazer uma minissérie no Canal Brasil, TV Brasil, e aí eles conciliavam com a minha agenda, porque minha agenda é punk, é doideira. “Não, vamos conciliar e tal”. Eu falei: “Maneiro, vamos lá”. Aí fazia um pastor, todo pastor é ex-alcóolatra, né? Então já enfrentava situações, falava: “[Caramba]!”. Aí vai eu pesquisar pastor, pesquisar pastor, e tal, cara, foi um trabalho também, punk. Foi um trabalho difícil, difícil, difícil. Esse trabalho assim que você tem que estar às nove horas da manhã fazendo a sua cena, você tem que entrar na igreja doidão, bêbado, voltou a beber, sabe aquela coisa assim? Pra isso, pra cair numa canastrice, ia ser fazer isso, fazer o triste, o alegre. É complicado você fazer, da boca pra fora é fácil, agora de dentro. Mas foi uma experiência maravilhosa, diretores novos e me via aquela cara de coroão, eu falava: “Diretor”. Eu não tinha meios, não tinha Stanislavski ali, Memória Emotiva, pra eu, nove horas da manhã estar na igreja chorando. É complicado. Aí eu falei: “Diretor, eu sou um ator visceral. Eu preciso pelo menos sentir o gosto do álcool pra fazer essa cena às nove horas da manhã”. Aí ele: “Ah”. Isso a gente dentro da igreja. “Produção!”. Vamos lá, aí chego lá, no bar em frente, pedi quatro copos, enchi os quatro copos, eles acharam que eu ia oferecer pra eles. Peguei os quatro copos e bebi os quatro copos. E aí foi doido. E aí vai lá, faz a luz. “Não, de novo. Vai lá, deixa arrumar a luz primeiro, aguenta aí”. Aí tava lá, a produção tava na minha mão. “Produção”. Enfim, eu já tinha tomado lá umas seis cervejas, aí foi lindo, aí consegui entrar chorando, pagando mico, aí valia tudo, aí tava real. Tem umas coisas do ator que você fica num buraco pra fazer que você busca recursos. Essa também eu tinha um recurso, que era uma cena que também nove horas da manhã que eu falava uma fala e eu tinha que chorar. Eu não sou de usar técnica, eu gosto de puxar. E era terrível porque não tinha como, você não tem processo, tem hora que você não tem processo. É ou dar uma porrada na parede ou te vira. Foi um trabalho também que mexeu muito comigo, isso veio trabalhando o meu desejo. “Cara, não”. E chega uma hora que você trabalha só dirigindo, e você começa a ter falas com esses atores. Tem horas que você fala assim: “Bicho! Será que eu tô errado? Será que eu me acostumei nessa posição de diretor, de diretor de Nós do Morro, e você fala, fala, fala e acha que você tá no técnico?”. Quando de repente, nesse período aí, nesse período eu dirigi Pequenos Burgueses do Gorki, que foi importantíssimo dirigir uma peça russa, foi uma peça que terminou e eu falei assim: “[Po] cara, se eu morrer amanhã eu morro feliz porque eu acho que eu deixei um legado”. Porque quando você trabalha, e aprofunda. Porque por mais que você só estude é uma coisa, agora quando você aprofunda, emburaca realmente na cultura, na Revolução Cultural da Rússia, dessa época do Gorki ao Grotowski, ao Stanislaviski, você pega essa Revolução Russa toda, a importância que ela tem no mundo, ninguém te tira. Você pega, esse aprendizado pra mim não teve dinheiro que pagasse esse legado que ficou. Eu falei: “Bom, se eu morrer já era, cara, já foi, tá tranquilo”. Eu tava vindo de Machado de Assis, trabalhando no hospício, trabalhando uma adaptação do Alienista, tava vindo disso, trabalhando num hospício total, né?
P/2 – É você que escolhe os textos?
R – 99% são. Eu deixo bater um pouco na minha alma. Aí veio o Gorki, Pequenos Burgueses, acho que foi um momento importantíssimo na nossa vida. Depois disso veio Sérgio Ricardo com Bandeira de Retalhos, que é o nosso espetáculo atual. Já estreando, quase estreando, vem o telefonema do Luiz querendo encontrar comigo, não sei o quê, parari parará, Nós do Morro. [Pô], maneiro, já é. Aí, o Luiz foi lá. E foi lindo. Ele chegou, por via do destino, as Panteras e os Pérolas, são os meninos que estão gravando estavam ensaiando, que é a Jackie Brown, que é uma menina que faz o Bandeira de Retalhos também, ela é rapper e ela que cuida dos meninos desde que eles começaram a cantar rap. E o Luiz chegou, primeira coisa ele viu, “Tá tendo ensaio aqui, quer dar uma olhadinha?”. Ele: “Não quero atrapalhar” “Já é, entra aqui, tranquilão”. Ele entrou, viu o ensaio dos meninos, e acho que essas coisas também já virou amor à primeira vista, né? Viu que aqueles meninos todos que estão fazendo aquilo, cara, todos eles começaram a fazer teatro com sete anos de idade. Sete, seis anos, todos eles. O Ramón com quatro.
P/2 – Uma delas é a Alice, né?
R – É a Alice.
P/2 – E ela contou no depoimento que a mãe dela era do Nós do Morro.
R – A mãe dela, se eu te contar uma história da mãe dela agora, malandro, você não vai acreditar. A mãe dela é do nosso elenco, sempre trabalha com a gente, desde Os Dois Cavaleiros de Verona. A mãe dela é diarista, diarista com dignidade. Porque eu também nesse período de passar fome, quantas vezes que eu juntei pessoas e falei: “Vamos pintar, vamos pegar casa pra pintar, malandra. Vamos pegar apartamento pra pintar”. Eu sou péssimo pra pintar, mas sou um ótimo produtor. E assim a gente pegou alguns apartamentos pra pintar, e era assim, as pessoas pintavam e virava água, eu puf, a água tava aqui. Cigarro, eu, tá aqui. Entrega acesso. Não era qualquer produtor, não, era cinco estrelas. E uma graninha que a gente ganhava pra pagar aluguel. São fases da vida. A Marília sempre foi diarista, e foi uma fase muito doida, e ela começando a fazer teatro, ela não poderia realmente, a diária que mais podia conciliar pra ela. Tanto que hoje até o marido dela é diarista, trabalha com ela como diarista, o Marcão. E até a Alice, começou a trabalhar agora como diarista. Até a Alice. Porque é dignidade cara, qual o problema? E a Marília uma vez trabalhava pra uma mulher que eu nunca esqueço dessa mulher, não sei se é dona Clotilde, lá na Barra, uma mulher rica. E ela ficou mais rica depois que ela casou com um cara, ficou hiper milionária. E ela sempre foi diarista dessa mulher. E essa mulher mudou pra Nova York. Um dia a gente tá lá em Londres na temporada do Barbican, e me chega a Marília passando mal uma hora que ela sai de cena. Ela me chama de ‘meu presidente’. “Ah, meu presidente! Vou desmaiar meu presidente, vou desmaiar!” “O que foi, Marília?” “A dona Clotilde tá na primeira fila” “Como assim, Marília?”. Emocionante, cara. Emocionante. Aí quando acaba o espetáculo a mulher vai lá falar com ela. A mulher me pega o jornal em Nova York, viu, sabia que ela fazia a peça, comprou o ingresso em Londres e foi, ainda sentou na primeira fila. Pô, cara. A quantidade de emoção que tem no meio dessa história é muito doida, bicho. Aí veio. Não sei porque eu entrei pra falar disso.
P/2 – Porque eu te falei que a Alice foi entrevistada e ela tava falando da mãe...
P/1 – Você tava falando desse elenco, que foi um amor à primeira vista.
R – É, é.
P/1 – O Luiz baixou lá e você chamou que tava tendo ensaio...
R – É, tava tendo ensaio das Pérolas e dos Panteras. É, depois a gente subiu e ia começar o ensaio do Bandeira de Retalhos. A gente subiu, fez uma reunião lá em cima, na minha sala, que eu tenho uma salinha lá em cima, lá no Nós do Morro. E aí ele me fez esse convite, maravilhoso. Eu falei: “Cara”. Sabe tipo inacreditável, assim? Eu tava muito em crise, eu tava muito em crise...
P/1 – Isso que eu queria dizer, essa palavra que me faltou...
R – Eu vim desse renascimento, né, eu tava precisando porque tem uma hora, cara, que você entra num vazio que você fala: “O que você faz? Ou para tudo, ou vira um técnico, ou vira um técnico”. Técnico no sentido técnico, não técnico e não tem emoção, o câmera tem emoção. Eu falo técnico no sentido técnico. É ali, ali e lá. Eu tava começando a sentir isso, começando que eu falava tava solto, o que eu falava já parecia, até eu mesmo já não tinha tanta certeza. Não era falta de ler, era falta de eu me alimentar, de eu me amar, eu tava com um vazio muito grande. Eu sei que eu tenho uma coisa aqui no Suburbia que não sai da minha cabeça, foi no primeiro dia de preparação. O dia que eu entrei, que eu deitei, que apagaram as luzes, (choro). Eu precisava, entendeu? Aí, quando abaixou a luz, botou aquela música, eu falando assim: “[Po] cara, como eu tava precisando disso”. Eu acho, tipo assim, isso é uma forma de carinho. Eu sei que foi um momento que eu precisava muito (choro). E aí foi demais! Talvez, cara, uma coisa terápica. Ou talvez se eu fizesse terapia eu não tava necessitado. Eu não tava fazendo terapia porque você trabalha com tantos conflitos, né, imagina, todos esses elencos. Ah, tantos conflitos que vieram e que já foram, e que já aconteceram. Aí de repente você precisa de um afago. Aí quando você perceber as pequenas coisas, no aquecimento, entendeu? Aquilo era de uma grandiosidade pra mim, me alimentava tanto. Mesmo o primeiro dia, a roda, todo mundo se apresentando, aquilo me alimentava tanto. Porque foi [fogo], eu me sinto outra pessoa. Depois da minissérie eu tô com um convite pra fazer um monólogo, primeiro monólogo da minha vida, entendeu? O presente começou com Suburbia, com 40 anos de teatro. O Suburbia veio pra mim num momento inesquecível, todo o processo, todo o eu me soltar fisicamente, todo o trabalho de corpo, todo trabalho que foi feito, toda essa engrenagem. Em nenhum momento eu me perguntei se eu ia ficar à vontade perto do diretor ou não, eu estava entregue como todo mundo estava. Como o processo foi esse. E como a gente precisa desse afago, como não? Entendeu? Então assim, o momento e uma entrega muito doida. Muito doida. E o Eder veio assim, um processo de uma entrega que aconteceu comigo, dez anos que eu tava sem cabelo, sem barba, que eu achava que eu nunca mais ia deixar. Mas a entrega foi tão grande, cara, o Luiz, a primeira coisa que ele falou, na reunião que ele teve comigo lá em casa, no Nós do Morro, não, foi no Polo Cine e vídeo: “Deixa o cabelo e a barba crescer”. Eu deixei. E foi uma coisa impressionante, toda vez que eu olhava no espelho, eu nunca olhava: “Nossa, como eu tô ficando assim ou assado”. Eu falava: “Caraca, o Eder tá chegando”. E essa parada veio fortemente, cara, em nenhum momento bateu vaidade em mim, em nenhum momento, foi uma entrega. Não questionei tamanho de papel, não questionei nada, só questionava minha entrada, minha entrega, eu me permitir depois desse acalanto todo que eu tive, entendeu? E aí foi [fogo], aí foi um trabalho forte, esse encontro com o Luiz, o processo dele dirigir é de uma cumplicidade com o ator do [caramba]! Me reforça muito o caminho, que às vezes dentro do teatro, eu e a Fátima Domingues, que também tá fazendo uma participação, que dirige comigo, é o quarto espetáculo que a gente dirige juntos, e a gente tem uma coisa esquisitona, às vezes a gente trabalha com o erro, porque quando o ator se joga, às vezes erra e não é nada daquilo, de repente o não é nada daquilo é o que me interessa. Essa entrega, esse jogo. E o Luiz é isso também, o Luiz trabalha com situações que o ator propõe, ele vai, vai. Ele, independente do Eder, que pra mim foi salutar, inesquecível, viver esse processo dele com o ator, viver esse processo poético, sabe, pra mim foi um alimento de alma como talvez a cura que eu tava precisando. As coisas na hora certa.
P/1 – O que tem do Eder em você?
R – Olha, vou te contar um negócio, a primeira pesquisa que eu fiz do Eder foi um posto de gasolina lá em Saquarema, em Macaxá. Porque lá eu tenho uma multiplicação do Nós do Morro, se chama Casa do Nós. Então é o único lugar que eu dou aula realmente, lá eu dou aula, e um dia eu cheguei lá e pedi, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mais cedo, eu vou pro posto de gasolina. Eu tinha saído da primeira reunião, eu vou pro posto de gasolina e vou conversar com o gerente pra ver qual é. Aí fui, sentei e conversei com o gerente e comecei a conviver com ele. Fiquei duas horas, aí ele me convidou um dia pra ficar duas horas com ele lá no posto, buscando o olhar, o sentimento, a vida humana que esse cara tinha. Como era a vida dele, familiar, eu comecei a buscar mais isso, o Eder veio em mim nessa coisa assim, dessa proteção que ele tinha com a família, coisa que não tem nada... É engraçado isso, né? Na minissérie não tem nada disso, não precisava ter, é coisa que o ator tem que descobrir pra si, tem coisinhas dele. Eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei no set, cara, muito doido. As coisas tinham tudo a ver com o que eu tinha pensado, a foto, peixe, umas coisinhas assim que tudo a ver. A única coisa que eu inventei a mais, pra começo de gravação foi rebite (risos).
P/1 – Aquela bebidinha pra ficar ligado.
R – Aquela bebidinha (risos). Eu esperando o Carnevali pro primeiro dia de gravação, aí fui na farmácia comprar o remédio pra dor de cabeça que eu sou hipocondríaco, então não gosto de ficar sem, se eu estou sem já começa a vir sem ter. Então, quando eu comecei a olhar, que eu tava, veio rebite, a mistura de não sei o quê, com não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei: “Cara, esse cara tá nesse posto todo dia, ele toma esse rebite”. Eu comecei, inventei essa história pro cara (risos). E todo dia eu comprei rebite, e todo dia eu tomei rebite. O Eder tomou rebite (risos). Nossa, foi uma descoberta única, e ninguém soube de nada, entendeu? Só sei que o meu Eder, ele tomava rebite praquela história toda ali, que é um cara, o foco meu que tem a ver comigo é a questão mais humana, familiar talvez, essa coisa de proteção. Porque ele não joga a família dentro desse cotidiano do posto, entendeu? Eu acho que é uma coisa mais próxima que eu tenho com ele, talvez seja isso, entendeu? (risos). Que mais? Dos meninos, que eu tenho pra falar, nesses meninos aqui, são os meninos que eu tenho muito cuidado, esses meninos porque esses meninos são de uma peneirada. Porque o que acontece? Toda essa galera, como eu falei lá do Thiago, eu to acostumado com esses bondes que vem de uma peneirada, você tem uma equipe maneira, mas vai pintando uma peneirada natural da vida. As necessidades, porque daí vem a descoberta da sexualidade, a necessidade de você ter que ter uma grana pra sair com a namorada pra fazer, então tem algumas necessidades que não tem saída. Se você não abre um leque de possibilidades dentro disso, já complica. Por exemplo o Ramon. O Ramon, hoje, ele também faz o Cine Clube do Nós do Morro, ele que opera, ele que grava o programa de auditório que a gente tem lá no Vidigal, o Campinho Show, que é um programa de auditório que aliás todos vocês tinham que ir um dia. Eu sou o apresentador do programa. Programa cafonão também.
P/1 – Quando que é?
R – É às quartas-feiras de 15 em 15 dias. Lá tem, os meninos, o Ramon é que grava. As meninas participam, vão ser minhas assistentes de palco. Os meninos já são assistentes de palco. Quando começa a abertura é uma música, eles entram dançando e tal, e assistente de palco porque a gente sorteia de livro à alface à atendimento dentário. Sorteia de tudo, o que o comércio da pra gente, a gente sorteia. Então esses meninos são meninos muito empenhados em tudo, são meninos que ajudam em tudo que se possa, se necessita, que eu peço. São meninos que ajudam, são meninos que ajudam a limpar o terreno, a carregar coisas, a montar, desmontar, são meninos que realmente são disponíveis, meninos de uma peneirada de uma geração. Hoje eles são uma geração que realmente, um caminho maneiro dentro do Nós do Morro. São meninos que, cada um daqueles meninos ali tem três, quatro longas, então tem uma história, fora os curtas, entendeu? Então são meninos que têm história, mas não dá pra viver na vibe do ‘ah, tô com grana’, porque não tem. Essa época já era. ‘Eu sou ator’, e passa fome em casa. Não, ‘eu sou ator, mas sou diarista, ganho meu dinheiro pra comer e pagar meu aluguel’. Tem que ter essa dignidade, essa dignidade eu faço questão sempre. Porque essa é a minha realidade. Eu, se eu largar geral, eu não tenho tempo ruim, não, eu tenho minha casa em Saquarema onde eu quero construir um teatro. Se der uma crise e eu largar tudo, não tenho o menor grilo em plantar e vender em beira de estrada, cara. Não tenho. Não tenho porque acho que a dignidade é maior do que tudo. Eu não quero viver onde eu não desejo. Hoje, nessa altura do campeonato, eu não quero viver onde eu não desejo, onde não tem minha vibe, não quero. Quero viver onde eu tô bem.
P/1 – Você tem um grande sonho?
R – Ah, eu acho que sonho não para. Sonho não para, não para mesmo. Ah, eu quero continuar multiplicando, esse é um sonho. Meu sonho de construir esse teatro na minha casa é enorme. Tenho um projeto lá em Saquarema, tô começando um novo projeto que é ir na casa das pessoas que não conseguem sair de casa e entreter elas ali um pouco, acho que o teatro tem esse barato. Eu tô começando a fazer isso, que chama Cortejo Cultural. Eu saio com a escada de alumínio com a trupe, depois de tomar algumas cervejas, aí para na frente da casa. Desculpe, eu falo da cerveja porque eu não sou politicamente correto, se não pode falar essas coisas... Porque assim, tem que ser honesto, eu não sou politicamente correto. Eu gosto de tomar uma cerveja, entendeu, e aí paro na frente da casa de uma pessoa.
P/2 – Mas isso no Vidigal?
R – Não, isso no mato, no meio do mato. Lá em Saquarema no meio do mato. Aí abro a escada, eu subo na escada e falo: “Alô, alô, aqui é a trupe de teatro tal, queremos entreter vocês aqui um pouquinho”. Aí apresento alguns números, alguém canta, alguém fala poesia, alguém toca, alguém faz uma ceninha. Aí sai dali, fecha a escada e seguimos pra outro lugar. São coisas assim, acho que a arte, o teatro, não vai sair de mim nunca, entendeu? Mas o meu grande sonho no momento, assim, é construir esse teatro que eu posso fazer o que quiser, fazer, enfim, criar uma coisa mais off-Rio, entendeu, criar uns quitinetes que as pessoas possam ir, ficar lá. Eu sou muito inspirado em estrada, lá é muito isso, as salas de ensaio são assim, mais contemporâneas, cada um pega a sua comida e bota no freezer, na hora de almoço vai lá e pega, bota no microondas, já tirou, tá. Come no seu tempo certinho. Fazer uns workshops fechados, entendeu? De cinema, de teatro. Eu queria ter mais assim, eu quero continuar com a minha loucura. Queria continuar trabalhando como ator, não quero mais abrir mão de trabalhar como ator, não quero. E descobri que não quero mais parar de trabalhar como ator. Não interessa o que eu faça, eu quero ter prazer em fazer o que eu faço, mas não quero abrir mão de trabalhar como ator. As coisas vão se conciliar. Hoje o Nós do Morro tem 26 anos, em outubro faz 26, cara. 26 anos que eu não tiro férias! Outro dia me perguntaram: “Qual é o seu grande sonho? Seu grande sonho, verdadeiramente”. Eu falei: “[Poxa], se eu te falar meu grande sonho na real, cara, botar uma mochila nas costas e acampar na Ilha Grande, na época que não tinha nem celular, sabe? Acampar na Ilha Grande”. Sei lá se é isso, mas isso, eu não vou conseguir ficar sem essas vidas que eu já vivo, acho que é difícil. Mas eu queria ter mais liberdade pra isso, quero talvez fazer esse monólogo.
P/1 – Você teve alguma grande paixão, amores, durante a vida?
R – Ah claro! Como que você vive 26 anos sem grandes paixões, sem grandes amores? Claro que tenho. Vários. Mas, o foco principal são esses amores desse caminho, não tem saída. Não tem saída. É muito forte isso, pegar esses meninos todos têm crises existenciais enormes. Você descobre coisas... Olha, tem uma assistente de palco no meu programa de auditório, pô, um garotinho que tem 12 anos, não tem quem acompanhe, quem cuida dele é o pai. O pai, desde os cinco anos. Com cinco anos o pai encontrou um traficante embaixo da cama com a mãe. Esse menino, eu preciso estar do lado dele. Eu tenho um casal agora em Saquarema, que eu tenho trazido muito pra cá socialmente, a gente tem vivido e estamos caminhado pra um outro lado mais de modelo, a menina tem 13 e o menino tem 16. Eles vivem sem a mãe há cinco anos. E tava vivendo sem pai, tava só com os avós. Os avós largaram e eles ficaram sozinhos. Como é que eu vou deixar eles sozinhos? Com desejo. A menina, por exemplo, é sedenta de leitura. O livro meu, que eu morro de ciúmes, eu emprestei pra ela, que é Mil e uma Noites. Foi a Rosane Svartman que me deu. Morro de ciúmes desses livros. Mas eu sempre acho que quem lê o Mil e uma Noites abre caminho pra tudo, né? Porque você tem mil e uma histórias pra contar aí, então tem que engolir. O que eu percebo, assim, é que tem muita ajuda, eu queria sonhos assim que eu queria, se o Nós do Morro criasse uma política melhor cultural, queria que isso mudasse mais. Queria que não fosse assistencialismo, fosse mais criar, como é que eu vou criar possibilidade de sustentabilidade numas pessoas dessas, por exemplo, uns meninos desses? Como? Pra poder desenvolver o que eles desejam, o sonho deles. Você tá me entendendo? Porque eu fico ainda querendo quebrar pedras no caminho de um monte de gente. De um monte de gente que pinta no caminho. Mas a gente é paciente, como Drummond. Mas eu sou paciente. Mas eu acho que a gente tem que atalhar caminhos. Tipo hoje, meu trabalho, lá na Casa do Nós em Saquarema, eu tento trabalhar atalhando caminhos. Dá pra ficar ó, eu tenho 60 anos. Se eu ficar 26 anos eu vou estar com 86 anos, [ferrou], tem que atalhar caminhos, entendeu? Tem que atalhar caminhos. Aí ainda sonha com uma política cultural mais decente, menos paternalista e mais real. Eu acho que o dia, realmente assim, eu acho que o país pode mudar de novo. Porque como eu falei no início, eu sou de uma geração que a minha relação com a classe social, ela aconteceu porque a minha geração, a escola pública era melhor que a particular. Então, todos os país ricos queriam que seus filhos estudassem nas escolas públicas. Então hoje, se a gente voltasse a inverter, criasse uma norma, uma lei, em que realmente todos os filhos de políticos estudassem em escola pública, todos, fosse obrigação, claro que nós teríamos uma sociedade melhor. Como não? Imagina, todos os filhos de governadores, prefeitos, deputados, vereadores, estudando na escola pública, vai lá. Eu peguei o boletim do Ramon, por exemplo, essa semana, por que ele tirou três em Educação Física se ele foi 90% nas aulas? Eu quero compreender. Eu vou lá pra compreender isso, mas é utópico, é utópico trocar de direção em um ano três vezes, é utópico. Eu acho que se a gente criar, se realmente mudasse, o país só vai mudar se voltar a ter isso, cara. Porque hoje, o que iguala as pessoas é o intelecto, não é o financeiro. O financeiro tudo bem, um tem mais, outro tem menos, tudo bom que ele pode comprar aquela camisa de marca, não posso, mas compro uma falsa, tudo bem. Entendeu? Agora, se você tem. E não é só isso, não. Acabar com os planos de saúde também, todo mundo, filhos dos políticos todos, dos grandes mestres têm que ser tudo em hospital público.
P/1 – Bom, tem vários aspectos que a gente não tocou, e tô caminhando meio que pra pergunta meio final que é, o que você achou de contar esse depoimento pro Museu da Pessoa? Dar esse depoimento, História de Vida.
R – Bom, primeiro fiquei meio perdido, eu tenho dificuldade às vezes de falar de mim, da minha vida, de coisas que me emocionaram, essas coisas todas. Meio doido porque a minha vida não é uma vida normal, não é simplesmente, uma vida que você planeja, você se forma e tal tal tal. É um divisor de vidas, eu dividi vidas, o tempo inteiro. E o tempo inteiro eu nunca achei que eu tava fazendo algo Ó. Eu sempre achei que o privilegiado foi eu, porque quando você se torna um elo de possibilidades, você que é o privilegiado. Como muita gente às vezes é privilegiada e não percebe isso. Então assim, eu dar esse depoimento, sei lá, não sei se eu fui pego de surpresa, pensei que fosse ser uma coisa mais técnica, mais Neymar, entendeu, que às vezes a gente, com o que a gente faz, a gente tem que ser muito jogador de futebol, pergunta isso tem que responder aquilo porque eles querem responder só sobre violência, só sobre a miséria, só sobre o negro coitadinho, e eu não suporto. Então eu aprendi a ser jogador de futebol pelo menos nas entrevistas. E aqui, não sei também, se por eu ter sido também apanhado nessa banda, eu levei uma banda do Luiz Fernando com esse convite, né? Que [poxa], me jogou e eu caí num rio de sonhos que eu tava querendo. Não sei se por causa disso, eu tive uma entrega, eu não esperava cair nessas emoções. (emocionado) Acho que tava meio sem blindar, acho que cheguei sem blindar, sacou, tipo isso, sei lá. Mexeu. Mas um prazer, o motivo é maneiro, não me arrependo, não.
P/1 – Nosso, privilégio nosso...
Recolher