Projeto Conte Sua História
Depoimento de Cléa Magnani Pimenta
Entrevistada por Carol Margiotte e Nori Navarro O. Marchini
São Paulo, 16/05/2018 PARTE 1
Realização: Museu da Pessoa
PCSH_HV676_Cléa Magnani Pimenta
Transcrito por Márcia Rocha de Almeida
Revisado e editado por Viviane Aguiar
P/1 – Cléa, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. E, pra começar, o seu nome completo, local e data de nascimento.
R – Cléa Magnani Pimenta, São Paulo, capital, 29 de dezembro de 1947.
P/1 – E a senhora conhece a história do seu nascimento, do dia do seu nascimento?
R – Conheço (risos), foi uma história muito interessante. A minha mãe era viúva de uma pessoa que morreu no mesmo dia em que ela perdeu o nenezinho que ela estava grávida. Então, eles eram casados, viveram oito meses depois de casados, depois que ela ficou grávida. Já fazia oito meses que ela estava de gravidez, e ele era um lutador de boxe. E eles estavam passando uma situação difícil. Então, ele fez um desafio pra um outro lutador mais forte que, se ele ganhasse, ele ficaria muito bem de vida. E ela falou pra ele: “Olha, desde ontem que eu estou sentindo que o nenê não está se mexendo”. Então, ele falou: “Eu não vou poder ir com você, mas vai à Santa Casa” – que eles moravam ali no Bom Retiro – “Vai à Santa Casa ver o que está acontecendo, que eu vou pro treino e vou ficar lá o dia inteiro”. E eles não tinham telefone em casa, tinha só o telefone numa lotérica que ele tinha, que eles viviam também disso. Ela chega na maternidade ali da Santa Casa, a médica faz o teste e falou: “O nenê está morto. Nós vamos precisar fazer um fórceps pra tirar essa criança daí”. Ela falou: “Ah, meu Deus!”. E ela disse: “É bom avisar o seu marido”. E ela: “Mas ele está num lugar que não tem telefone, nós não temos telefone em casa e ele não está em casa, ele está na academia e eu não sei o telefone de lá”. Ela disse: “Bom, não é complicado, nós vamos fazer o fórceps”. E ela sofreu muito no fórceps e teve uma hemorragia muito grande, precisava fazer transfusão de sangue. Então, ela passou o resto do dia lá, à noite, e na manhã seguinte o médico falou: “Precisamos fazer uma transfusão de sangue, precisamos pedir pro seu marido pra arrumar outras pessoas pra fazer”. Ela falou: “O telefone nós não temos, tem o telefone do ‘chalé de bichos’”, lá onde ele tinha, a lotericazinha deles lá. Aí, eles tentavam ligar pra lá e ninguém atendia, ninguém atendia. Porque ele estava na luta, naquela mesma noite, e o outro era um peso muito maior do que o dele e era um lutador sujo. Ele deu um soco no pulmão dele, estourou a artéria pulmonar e ele morreu no ringue, saindo sangue pela boca. Então, ela não sabia que ele tinha morrido, a família dela, que era minha avó que morava já em São Paulo, não sabia onde ela estava, porque ela tinha ido pra maternidade sozinha, né? Pro hospital. E já fazia três dias que ele estava enterrado quando a minha avó foi procurar, e ela foi procurar nos hospitais. E foi direto na Santa Casa e aí encontrou, já na ala dos indigentes, porque ela não tinha comunicação e diziam que ele estava lá: “Até que venha um responsável aqui, vai ficar lá”. Bom, então, o trauma dela era esse, ter perdido o marido e o nenê no mesmo dia. Aí, depois de cinco anos, ela conheceu meu pai de uma forma muito pitoresca também, porque uma pessoa começou a telefonar pra ela no trabalho que ela fazia e ela morava num colégio, Colégio Stafford, aqui de São Paulo. Ela foi babá das crianças dos donos do colégio e, depois que as crianças cresceram, já estavam homens e ela continuou trabalhando no colégio como ajudante geral, saía com as crianças pra levar ao cinema, que era um internato. E uma pessoa disse que via ela passar e achava ela muito bonita e queria conversar com ela. E ela viúva já, com cinco anos viúva, e falava: “Não quero!”. Até que um dia a patroa falou: “Vai ver o que é, quem sabe encontra com ele e gosta”. E ela marcou. Disse: “Hoje é quinta, eu venho da igreja e você sabe” – que ela era evangélica – “Você sabe como eu sou e você venha conversar comigo”. E ele disse: “Então, está bom, eu vou estar de capa de gabardine e chapéu”. São Paulo garoava muito nessa época, então, ela saiu de lá da igreja com a Bíblia, sombrinha, com a chuva. Vinha vindo no Largo Coração de Jesus, onde eles tinham marcado. E vem vindo o rapaz lá de frente, de capa, de guarda-chuva e chapéu. E o rapaz chega. Quando passou por ela, ela não olhou, falou: “Vamos ver se é esse que vem vindo”. Ele passou. “Boa noite”, o rapaz falou. Ela virou pra trás que nem uma jararaca: “Boa noite! Muito bem, olha, você fique sabendo que eu sou uma viúva, mas uma viúva honesta, eu não estou aqui pra conversa, você está me prejudicando! Você fica ligando pro meu emprego todos os dias. Por favor, para de ligar pra mim, você entendeu?”. O rapaz olhou e falou: “Não, não entendi!”. “Como que não entendeu? Você todo dia liga pra mim, marcou de encontrar comigo aqui hoje!” “Eu? Não, senhorita, não marquei, eu nem estava em São Paulo.” “Quê, não estava em São Paulo? Hoje de manhã você ligou pra mim!” “Espera um pouco.” O rapaz enfiou a mão no bolso e tirou um recorte de jornal: “José Ricardo Magnani venceu o grande prêmio de Porto Alegre de ciclismo”, passou a semana inteira treinando, esteve não sei onde, foi pra Argentina. Ele disse: “Estou chegando hoje do Rio Grande do Sul porque eu fui correr lá”. Ela falou: “Então, me desculpe”. Ele falou: “Desculpo, sim, e gostei muito do seu jeitinho. Posso te acompanhar até sua casa?”. E aí eles se encontraram, e o outro deve tê-los visto juntos e sumiu do caminho. E ela acabou se casando com ele. Bom, isso aí, cinco anos depois, eles casaram em 1944. Em 1947, ela engravida de mim e está na Maternidade São Paulo desde o dia 22 de dezembro. Eu fui nascer no dia 29, né? Ela entrou lá já com os sintomas de parto, mas o médico falou: “Não é pra hoje. Mas, como já não é a primeira vez que você fica grávida, fica aí, vamos ver até amanhã”. Quando chegou o dia de Natal, meu pai foi lá visitá-la todos os dias. Quando voltou pra casa, fundiu o motor do carro que ele estava dirigindo. Então, ele começou a pensar: “Meu Deus, se o nenê nasce amanhã ou depois, eu vou ter que buscar”. Da semana do Natal até o Ano-Novo, não tinha nada funcionando. O meu avô era mecânico de automóvel, mas faltava a peça que eles precisavam pra fazer a retífica. Então, ele e o meu avô ficaram trabalhando esses dias, do dia 26 de dezembro até o dia 29, trabalhando no carro toda noite porque meu pai trabalhava de dia e de noite ia lá ajudar meu avô. E não foi mais visitá-la no hospital. Aí, a história da cabeça dela reviveu todinha! Dia 29 pela manhã, pouco antes das seis, eu resolvi que já estava cansada de ficar lá dentro e falei: “Oh, gente, me dá licença que eu vou nascer!”. Aí ela chamou a enfermagem: “Eu estou sentindo que agora vai”. A enfermeira: “Ah, tá bom, tá!” – já estava cansada de mandar pra sala de parto e não é. “Então, espera um pouco que às sete horas entra a parteira, ela já deve ter chegado, ela está se arrumando. Às sete horas ela começa a fazer as revistas dos quartos e ela vem aqui, vou chamar primeiro aqui”. E saiu do quarto, deixou ela sozinha lá dentro. E eu falei: “Mãe, chega, não aguento mais aqui!”. E eu, 15 pras sete da manhã, eu botei a cabeça pra fora e nasci sozinha no quarto com ela na cama. Quando ela sentiu as dores, ela gritou e eu nasci. Ela entrou em choque! Então, ela começou a espernear. Meu pai tinha conseguido arrumar o carro na noite do dia 28 pro dia 29. Trabalharam a noite inteira, e ele ia entrar na Aclimação, aqui no Cambuci, na Light, às sete da manhã. Então, ele saiu às seis horas de casa e foi correndo: “Eu só vou passar no hospital pra falar pra ela que o carro está pronto”. E ele foi. Conforme ele está entrando no hospital, ele escuta aquela gritaria. Ele correu no corredor e abriu a porta do quarto, minha mãe tinha me chutado com os dois pés, com o cordão ainda preso em mim! E eu caí da cama. Meu pai entrou e me pegou caindo da cama, de cabeça no chão assim, né? Ele me catou, se sujou todo de sangue, disse que deu uma dor de barriga nele. Ele pôs o nenê em cima da cama e correu pro banheiro! (Risos) Então, quer dizer, eu não posso contar do meu nascimento tão maluco sem poder contar da história da minha mãe, porque tudo justifica, né?
P/1 – Sim, sim!
R – E foi assim que eu vim ao mundo no dia 29 de dezembro de 1947, na Maternidade São Paulo, que eu ia me esborrachar ali dentro e ia ficar por lá mesmo! E, depois, com os anos passando, eu tive alguns problemas de ossos, de dores, de coisas e mais coisas, sofri um acidente e estava grávida também, não fui ver o que era. Aí, quando o médico foi ver, minha filha já estava com 24 anos e eu não tinha tirado radiografia do acidente, porque eu estava de cinco meses de gravidez. E o médico, examinando toda a minha coluna, disse que eu tinha duas fraturas de cervical, do acidente que eu sofri. Deu um chicote assim, o carro bateu por trás e eu quebrei aqui. Só que Deus ficou com piedade e não aconteceu nada, a não ser muita dor. Aí o médico, vendo o resto da minha coluna, disse: “Você tem espinha bífida”. Eu falei: “O que é isso?”. Ele disse: “O sacro pode nascer com duas pontinhas e, se o parto for normal, na hora de a criança passar, uma dessas pontinhas quebra e a criança nasce paralítica”. Eu nasci de parto normal na cama, sem ajuda de ninguém, com a espinha bífida e, graças a Deus, não quebrou e a cervical que bateu também não quebrou, graças a Deus. Então, eu tenho uma conta muito grande pra pagar lá em cima, porque ele andou me abençoando desde o momento do meu nascimento!
P/1 – E a senhora sabe o porquê de Cléa?
R – Sei. Porque a minha mãe foi assistir o Pinóquio, o filme do Pinóquio, e tinha uma peixinha e ela se chama Cléo. E minha mãe achou que Cléo seria um nome masculino e era um nome fácil de escrever e pôs Cléa (risos). Tudo na minha vida tem história!
P/1 – Sim! (Risos) E, falando na história dos seus pais, qual o nome deles?
R – Meu pai era José – é outra história! (Risos) Eu estou falando, tenho que contar! Meu pai nasceu em 1913, e o meu avô, que tinha oficina mecânica, tinha que fazer o registro. Mas ele estava com muito serviço e não foi. A minha avó já tinha dois filhos antes do meu pai e depois teve mais três, depois dele. Eram seis filhos ao todo, o último foi uma menina. Então, o primeiro se chamou Antônio, porque nasceu no dia de Santo Antônio e o bisavô dele se chamava Antônio. O segundo se chamou Arcanjo, porque o pai da minha avó, meu bisavô se chamava Archangelo, italiano, né? Archangelo Paganini, e ele se chamou Arcanjo Magnani. E aí nasceu meu pai. O rei da Itália era Humberto, então, esse seria Humberto Magnani. Não tem nada a ver com o Humberto Magnani ator, que faleceu há pouco tempo. Aí o meu avô estava protelando de fazer o registro do menino. E era o nenezinho, o nenezinho, e ficava ali. Um dia a minha avó chegou, italianinha de 1,50 metro de altura, olhinho azul, pôs a mãozinha na cintura: “Escuta aqui, Amadeo, hoje, se você não registrar esse menino, você não entra aqui, hein?”. Então, ele: “Não, registro, claro que eu registro”. E foi trabalhar. Chegou lá, entrou um carro supercomplicado pra fazer, ele falou: “Porca miséria, nem trabalhar eu posso sossegado, não vou nem almoçar, vou trabalhar direto”. Tinha um sócio dele, uma pessoa que trabalhava na oficina com ele e ele falou: “Beppe, faz o seguinte, você vai almoçar, então, você registra o menino pra mim? Oh, vai chamar Humberto Magnani”. “Ah, tá bom.” “Depois nós vamos ser compadres.” “Ô, melhor ainda!” Pegou e foi. Chegou lá, foi almoçar, tomou uma cervejinha, tomou um vinhozinho e resolveu ir fazer um jogo do bicho. Tá ele lá fazendo o jogo: “Porca miséria, esqueci de registrar o menino do Amadeo!”. E foi correndo pro cartório, chegou lá: “Olha, vim registrar o filho do meu amigo”. “Muito bem, qual o nome?” “Ah, ele falou o nome... é Magnani!” “Mas Magnani é sobrenome, qual o nome da criança?” “Oh, quer saber, eu vou ser padrinho e me chamo José. Põe José aí e fica José Magnani e tá acabado!” E o sujeitinho pôs e lá veio ele. Meu avô: “Registrou o menino?” “Registrei, tá aqui.” “José?!” “Eu não vou ser padrinho? Eu pus o meu nome, e daí? Tá registrado e tá acabado!” Meu avô: “Mamma mia, a Zenaide não me deixa entrar em casa hoje!”. Chegou lá com o registro e ela: “Registrou o menino?”. “Registrei, tá aqui.” “Quem é José? Não conheço nenhum José!” Fez um escândalo daquele tamanho! “Eu não vou chamar esse menino de José. Vai chamar assim: Antônio por causa do seu bisavô, Arcanjo por causa do meu pai, então, vai ser Ricardo que é por causa do seu pai, pronto! É Ricardo e tá acabado.” E o menino cresceu chamando Ricardo Magnani, foi pra escola, fez um grupo escolar da Barra Funda com o nome de Ricardo Magnani. Quando ele já estava com 16 anos, ele falou: “Pai, eu quero fazer a Escola de Comércio Armando Alvares Penteado”. Tá bom. Precisa levar o registro e o diploma. “Tá lá na gaveta”. Meu pai vai lá e pega: Antônio, Arcanjo, José. “Nossa, acho que eu tive um irmão chamado José que morreu!” Américo, Fioravante, Anunciata. “Pai, não tá aqui.” “Como que não tá aí?” “Tem Antônio, tem Arcanjo, tem José.” “É você!” Então, o rapaz de 16 anos que se chamava Ricardo levou aquela cacetada na cabeça que se chamava José! Aí, ele pegou o registro, pegou o diploma e foi pra escola fazer a inscrição pro curso. Chegou lá, a pessoa que estava lá olhou e falou: “Mas, espera aí, aqui o diploma é de Ricardo Magnani e aqui o registro é de José Magnani. O José não fez o curso e o Ricardo não tem registro!”. Aí vem a mais velha e falou: “Põe aí José Ricardo e tá acabado!”. Então, aí nasceu José Ricardo Magnani que virou um ciclista famoso e, nas páginas dos jornais, venceu José Ricardo Magnani! E ele virou José Ricardo (risos).
P/1 – E o ciclismo, onde que começou?
R – O ciclismo começou com uns 16 anos dele também. Ele brincando, fazendo uma prova, o tio dele era ciclista e ele venceu a brincadeira da prova. “E por que você não corre?” E aí ele começou a correr, deve estar correndo até hoje lá no céu! Correu muito, muito, ele foi o primeiro campeão da Primeira Nove de Julho de São Paulo em 1933. Que a Nove de Julho é uma prova feita pra homenagear a Revolução de 1932. Então, em 1933, o Cásper Líbero que era – naquele tempo não era TV – da Rádio Gazeta, ele instituiu o prêmio Cásper Líbero, que se chamou Prêmio Nove de Julho. Então, ele correu e venceu. Tenho muita reportagem do meu pai, de jornal, com tudo. E ele no ano seguinte correu e ganhou de novo, foi bicampeão. Aí ele foi correr em muitos lugares no Brasil inteiro, correu na América do Sul aqui embaixo, Argentina, Chile. E ele foi escolhido pra ir pra Alemanha na Olimpíada de 1936, que o Hitler ainda estava lá. E ele foi. E, no treino que eles fazem antes da corrida, ele foi derrubado por um oponente e ele se esborrachou, caiu de lado assim e foi raspando tudo. Ele teve que fazer punção pra tirar o sangue parado da perna. E correu mesmo machucado, esteve em primeiro lugar durante acho que 30 voltas – eu tenho tudo na reportagem. Mas aí ele não aguentou mais a dor, ele foi diminuindo. Foi até o fim, mas chegou bem lá no fundo. Mas em 30 voltas ele foi o primeiro colocado, ele ia ganhar a Olimpíada. E aí ele voltou das Olimpíadas em 1936 e ainda ganhou outra Nove de Julho em 1942. Aí ele correu até 1943 e parou de correr. Em 1944, se casou com a minha mãe, aí ele não corria mais. Mas eles treinavam, sempre treinavam. E a minha mãe, que não sabia andar de bicicleta, depois desse encontro na pracinha lá com ele, começaram a namorar e ela pegou e disse: “Eu vou ter que aprender a andar de bicicleta, é meio chato, né?”. Naquele tempo, mulher de bicicleta, não existia calça comprida. Então, minha mãe fazia saia-calça. Acho que ela foi a inventora da saia-calça. Ela fazia que nem uma calça e fazia perna larga daqui e evasê de lá, era uma saia-calça. E ela foi com ele, foi aprender na avenida... Essa que passa na frente do Corpo de Bombeiros ali perto da... Não lembro agora. Avenida Tiradentes! Imagina, naquele tempo passava só o bonde! E ela vindo, saía de onde ela trabalhava, ainda no colégio, desde namorada que ela resolveu, falou: “Opa, esse aí corre! Se eu não fizer igual, ele vai sumir!”. Então, ela pegava a bicicleta, alugava e vinha treinar na Avenida Tiradentes, dava a volta no Largo Coração de Jesus, todas as ruas ali do Bom Retiro. E ela vinha vindo pela Avenida Tiradentes, o bonde lá virou a esquina e pim, pim, pim, batia o sininho. Ela ficou apavorada, entrou dentro da guarita do guarda do Corpo de Bombeiros, prendeu o guarda lá no fundo da guarita! (Risos) Mas aprendeu! Andou e foi duas vezes pra Santos, pela Estrada Velha com ele, e eu tenho a medalha que ele fez. Ele tem 85 medalhas, meu pai. E ele desmanchou uma de ouro e mandou fazer pra ela gravada: “À Rosinha, pela ida a Santos”. Ela foi duas vezes. Só não voltava, porque subir a serra de bicicleta...
P/1 – Sim, sim! E o seu pai é nascido em São Paulo?
R – São Paulo, dia 6 de março de 1913.
P/1 – E agora sua mãe, o nome dela.
R – A minha mãe é Rosa Magnani. Era Rosa Gonçalves, mas Rosa Magnani. E nasceu em Itapira, São Paulo. E o que você perguntou, a data do nascimento?
P/1 – O nome dela e se a senhora conhece a história dela.
R – Ah sim, vixe!
P/1 – E, no caso, como ela veio pra São Paulo?
R – Então, ela veio pra São Paulo justamente nessa casa onde hoje é o Colégio Stafford. Porque meu avô, pai da minha mãe, morreu muito novo. Ele foi picado por uma jararaca, com 38 anos, e ele não morreu, mas o veneno da jararaca danificou muito os rins dele. Então, ele tinha uma dor terrível nas costas e não podia trabalhar mais. E dali a dois anos, ele ia fazer 42 anos, morreu por causa do veneno da jararaca. E minha avó tinha oito filhos, minha mãe era a única menina. Ela estava com dez anos. E a minha avó começou a lavar roupa pra fora pra sobreviver. Os filhos mais velhos, o mais velho de todos era filho dele só, porque ele era casado e a esposa morreu no parto. E ele ficou com o menininho só dois anos, e a família da moça que cuidava. Mas ele resolveu se casar, então, casou com a minha avó e, depois disso, ele ainda teve mais oito filhos com essa mulher! Então, teve o primeiro da primeira e oito com a minha avó. Esses filhos mais velhos, quando ele morreu, começaram a trabalhar. Um trabalhava na prefeitura, carpia rua, fazia o trabalho que os velhinhos faziam pra ele sobreviver. E a minha mãe, com dez anos, começou a cuidar de crianças. Ela adorava criança. Então, a partir dos dez anos até os 16, ela foi babá de praticamente todas as crianças de Itapira ali, que gostavam muito dela. Quando aparece lá em Itapira uma família que ia passar as férias em São João da Boa Vista, que o pai da senhora tinha fazenda em São João, e ela tinha três meninos, um de dois, um de quatro e um de seis. E ela falou: “Eu precisava de alguém pra ir levar, pra cuidar dessas crianças”. “Ah, fala com a Rosinha, nossa, a menina é ótima!” Aí ela foi falar com a minha avó, se ela permitisse que ela levasse a menina pra lá, de 16 anos, ela já tinha. E ela foi lá pra fazenda. Os meninos gostaram tanto dela que, quando voltaram de férias: “Ah, nós queremos ela lá em São Paulo!”. Então, ela veio pra São Paulo com essa família, pra tratar de babá das crianças. E ela foi babá até as crianças se tornarem adultas. E o menininho mais novo, que era o Fernando, tinha dois aninhos, e ele foi o meu padrinho de casamento (risos)! Quer dizer, a história sempre interligada com alguma coisa que a minha mãe deixou no caminho!
P/1 – E os seus pais tiveram só você?
R – Só eu. Sou filha única.
P/1 – E como foi ser filha única?
R – Olha, eu não sei por que eu nunca tive irmãos. Então, eu digo, eu encaro que eu sou irmã da humanidade. Eu me sinto irmã de todo mundo! Eu não olho ninguém assim como: “Nossa!”. Não. E se fosse minha irmã, né? Poderia ter sido. Que nem agora eu te falei ali, nós poderíamos ter sido qualquer coisa! Então, eu me sinto bem assim, sendo irmã da humanidade. Eu só senti falta de um alguém pra me ajudar quando a minha mãe morreu. Porque o meu pai morreu muito cedo, e a minha mãe, eu que estava cuidando dela, e o médico disse: “Se internar, ela vai viver uns quatro dias e, se ficar em casa, não deixa as crianças irem pro quarto, que ela pode ter estourado em sangue e ter uma morte feia, não vão gostar de ver”. Então, eu fiquei naquela angústia: seguro em casa e enfrento essa barra com três crianças pequenas ou interno? Aí eu segurei mais um dia e no dia seguinte internamos, e ela morreu dali a um dia. Então, essa foi uma decisão que eu tive que tomar. Mas, depois dessa decisão, eu não tenho mais medo de tomar decisão nenhuma, porque eu peço pra Deus, digo: “O Senhor me informa o que eu tenho que fazer aqui”. Eu tenho fé que ele vai me encaminhar. Porque a gente costuma rezar o Pai Nosso e fala “seja feita a vossa vontade”. Acaba, fala: “Ah, meu Deus, faça com que isso aconteça!”. Aí Deus fala: “É minha ou é tua, minha filha, resolve aí!”. E aí depois não dá certo, a gente fala: “Deus, não me escuta!”. Deus escuta, a gente que não escuta Deus!
P/1 – E, Cléa, com exceção do seu avô do lado materno, que faleceu muito jovem, a senhora chegou a conhecer os seus avós?
R – Da parte de mãe não. Minha avó morreu, ela conheceu meu pai, que estava já namorando com a minha mãe, mas morreu em 1944 e eles casaram em 1945. E, da parte do meu pai, sim, eu conheci o meu avô. Ele morreu, eu tinha cinco anos, se chamava Amadeo Magnani. E minha avó, Zenaide Paganini, ela viveu até 96 anos, eu conheci bem. E também conheci depois, por fotografias, os meus bisavós que eram Ricardo, por coincidência, que era a justificativa do nome do meu pai, e ngela, ngela Pinotti, que era parente desse Doutor Pinotti, que foi da política aí, Aristodemo Pinotti.
P/1 – E, só pra deixar registrado, se a senhora souber, o lado da mãe, da sua mãe, o nome dos seus avós.
R – Meu avô se chamava Joaquim Luiz Gonçalves e minha avó se chamava Maria Luísa da Conceição. Agora, também tem outra história interessante. O meu avô, quando casou com a minha avó, falei que ele era viúvo. Ele era casado com uma moça da família Guedes lá de Itapira. E ela teve o nenezinho e morreu no parto, e ele ficou com o nenezinho dois anos e depois casou com a minha avó Maria Luísa. Eu não sei por quê, a família toda que meu avô fez, todos os filhos eram conhecidos pelo nome de “Os Guedes”. Sendo que Guedes era a primeira esposa do meu avô. Não dá pra entender. Um dia eu fui a Itapira, já era mocinha e, no interior, você chega, todo mundo vem lá ver, né? Então, eu estava lá passeando na praça, veio uma pessoa, chegou pra mim: “Ah, você que é filha da Rosa Guedes?”. Eu falei: “Guedes não, Rosa Magnani”, porque ela era casada com meu pai. E aí disse: “Não, mas ela era dos Guedes, era da família dos Guedes”. Aí que eu fui perguntar pra minha mãe: “Por quê?”. Aí que minha mãe contou a história, que o pai dela era viúvo de uma Guedes. A família inteira é chamada Guedes.
P/1 – E eles foram nascidos em Itapira?
R – Eu acredito que minha avó tenha sido, e o meu avô também deve ter sido dali da região de Itapira. A mãe da minha avó era gaúcha, Bárbara Franco ela se chamava. O meu bisavô por parte de mãe eu não sei, nunca soube.
P/1 – E, do lado do seu pai, os seus avós são nascidos em São Paulo?
R – Não, são italianos, vieram da Itália. O meu avô Amadeo Magnani nasceu em 1885 e ele veio da Itália com nove anos. E o pai dele, o Ricardo Magnani, era de 1858 e ele veio, mas não como imigrante, ele veio trabalhar na abertura do Canal do Panamá.
P/1 – Nossa!
R – Então, eles estavam lá na Itália, e italiano é um caso, não sei se você tem parentesco com italiano. Mas o italiano, ainda mais de aldeia da Itália, eles são muito...
P/2 – De que lugar que era?
R – Era de Magnacavallo, em Mantova. Província de Mantova, cidadezinha chamava Magnacavallo. Porque eles comiam carne de cavalo nessa cidade, então, por isso que chamava Magnacavallo, que significa “come cavalo”, né? E ele havia brigado com os irmãos, aqueles rolos de família, que um xinga o outro, o outro xinga o outro. E ele pegou e falou: “Eu vou-me embora, vocês ficam tudo aí, tchau mesmo!”. E pegou, chegou em casa, falou pra mulher – acho que era do mesmo estilo do meu pai, escreve na parede e tá acabado! Falou pra ela: “Eu vou trabalhar na abertura do Canal do Panamá”. Ela falou: “E?”. “E você fica aqui com as crianças, depois eu mando te buscar.” E ele veio. Trabalhou acho que seis meses ou um ano, não sei, na abertura do canal. Eu vi fotografia disso, porque eu também procurei me informar. Aquela peãozada que você não dá pra reconhecer nada! Sujos, barbudos, aquele chapéu até aqui, descalços. O Canal do Panamá era um lugar muito insalubre, tinha muita peste, tinha pernilongo, porque era um pântano, né? Aí ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. No dia que terminou a parte que ele tinha contratado, o camarada que era responsável fugiu com o dinheiro de todos eles! Então, ele, em vez de mandar o dinheiro pra ela vir, mandou uma carta: “Olha, Angelina, me roubaram, levaram todo o dinheiro. Então, você, por favor, espera mais um pouco que eu vou descer pela América abaixo, vou ‘fare l’America’. Eu vou pro Brasil e, se não der certo, vou pra Argentina”. E ele veio. Agora, essa parte me falta pra saber como que eles se encontraram. Ela falou: “O quê? Você vai lá pro Brasil, arruma uma negra lá e me abandona aqui com quatro, cinco crianças?”. Vendeu os cabritos, os burricos, tudo que tinha lá e veio também! Quer dizer, nenhum dos dois veio como imigrante. Então, no Museu da Imigração tem todos os irmãos dele que vieram, Modesto, e, nossa, acho que eram uns nove irmãos. Mas o dele não tem. Então, o que aconteceu? Pensaram que ele tinha morrido, porque ele nunca mais deu notícia pra família. Ela veio também e também ficou por aqui, eles moraram em Santos um bom tempo. Aí, ele começou a trabalhar na estrada de ferro e, olha só, hein? Esse aí era o meu avô por parte do meu pai, do pai do meu pai. Ele fazia a estrada de ferro Santos-Jundiaí, que naquele tempo era da São Paulo Railway. A minha avó Zenaide, que era de Lucca, lá da Itália também, de outra região, veio embora pra cá, ela, a irmã e o pai e a mãe – ela só tinha uma irmã. Vieram, ela tinha 13 anos, já fazia tempo que o pai do meu pai estava aqui – que é tanto avô que eu já não lembro mais! E ela veio com a família dela. E o pai dela, o Archangelo Paganini, veio trabalhar na estrada de ferro também. Só que trabalhava aqui em São Paulo, no ramal da Cantareira, e o meu bisavô Ricardo, lá embaixo, em Santos. E o meu avô Amadeo era ajudante de foguista, porque era tudo de vapor, então, tinha que ir dentro do trem, tinha a locomotiva cheia d’água, aquele baita daquele bico da locomotiva era água. Ali atrás, tinha a caldeira e ali atrás tinha um vagãozinho cheio de madeira. O foguista tinha que ir pegando a madeira e ir jogando dentro da caldeira pra água estar sempre fervendo, porque a água fervendo expandia o tchu, tchu, tchu, assim que o trem andava. Então, o foguista tinha que trabalhar feito um doido pra estar sempre com aquele calorão ali, jogando o fogo lá. E como o outro trabalhava no ramal da Cantareira, o Paganini, que era o pai da minha avó, eles eram chefes de trem. Então, tinham aquelas casinhas na beira da linha onde os chefes de trem moravam. E o outro vinha, passava de foguista, passava o trem ali, ia lá e, conforme ele ia e vinha, eles se conheciam. Ainda mais quando era italiano: “Ô, você veio da Itália também!”. Era tudo amigo! Ele vinha e via aquela moça loira varrendo a casa dela ali, e passava o trem e o foguista aqui botando fogo lá e pegando fogo no coração, se apaixonando por aquela moça. E ele pegou e falou com o Archangelo, falou com o pai dela: “Eu acho tão bonita essa moça, sua filha”. Um belo dia, o Archangelo pegou e falou pra minha avó, que chamava Zenaide, a outra irmã chamava Florinda: “Olha, vocês duas venham aqui na sala hoje que vai vir uma visita”. Se arrumaram toda bonitinha, ficaram ali na sala, e, a tal hora, ele entra com esse rapaz de chapéu: “Esse aqui é o Amadeo, qual que é?”. “É aquela ali.” “Ele vai casar com você, viu?” Então, ainda bem que era um rapaz bonito, ele era cinco anos mais novo que a minha avó, e eu não trouxe foto dela, mas ela era muito bonita e ele também. Então, foi assim que eles ficaram se conhecendo e se casaram.
P/1 – Surreal!
R – É, tudo assim, tudo tem a sua história, né?
P/1 – E como que você tem acesso a essa história?
R – Alguém me contou uma vez, e eu gravo na memória. Porque eu presto muita atenção, desde criança, sempre fui assim. Quando alguém me fala uma coisa, não é assim, pode deixar! Acho que por ser filha única...
P/1 – Pode? Então, Cléa, como a senhora tem ou teve acesso a todas essas histórias da família?
R – É porque eu presto muita atenção ao que me falam. E a minha avó me contou uma parte, a minha mãe contou outra, o meu pai contou outra. E aquilo tudo foi se encaixando, e era assim que era. Então, aquilo gravou. Eu acho que a minha memória infantil foi mesmo assim uma tábula rasa, como se costuma dizer. Tudo que entrou ali, eu lembro de sonhos que a minha avó contou pra mim que teve. Que ela estava num bosque e um dia ela estava andando no bosque e ela parava e pegava a própria cabeça, punha no colo e penteava o cabelo e fazia o coque nela mesma! E ela chorava, chorava, chorava. E punha a cabeça na cabeça e andava mais um pouco. Parava outra vez, tirava a cabeça, arrumava o cabelo e chorava, chorava. Eu achei tão pitoresco esse sonho que nunca mais esqueci também! Então, são assim, tudo que me contam eu presto atenção. Tanto é que eu não sei, eu acho que tinha uma certeza de ser quem eu era desde criança, que até se alguém me xingasse, eu nunca me senti ofendida. Porque eu dizia assim: “A minha mãe não é isso que vocês estão falando. Eu não me sinto uma idiota, uma besta, uma burra”. Então, entra por aqui e sai por ali. E não gravava coisa ruim. Então, mesmo essas histórias dramáticas que eu conto, eu conto como uma história, não é pra ninguém ficar com pena. Mesmo a minha história com o Gilberto, do alzheimer, eu tenho um livro, eu fiz o livro. E ele conta toda a história, mas eu, na abertura do livro, eu já digo: “Esse livro não é um livro técnico, porque eu não entendo nada de medicina, e não é um livro pra ninguém dizer: ‘Ah, coitada, como ela sofreu!’”. Porque não sofri, foi um aprendizado. Eu sempre tive um apoio espiritual, de Deus mesmo, de a gente chegar na hora da dúvida e não ficar assim: “E, agora, meu Deus, vou me matar!”. Não! “E, agora, meu Deus?” E você vai dormir e de manhã cedo você acorda com a ideia: divide a tua casa no meio e aluga metade pra pagar a casa de repouso. E você pega e pergunta pro pedreiro se dá pra fazer e ele diz que dá. E eu não posso pagar. “Você paga quando puder.” E vai e faz e dá tudo certo! Então, eu acho que a gente tem que ter fé, tem que acreditar, porque nós não estamos aqui à toa. E nem o céu é cheio de estrelas só pra enfeitar a nossa noite, que a gente nem olha! Existe uma história que a gente ignora e existem forças que estão nos rodeando agora. E existem coisas que às vezes eu escrevo pra uma pessoa, às vezes a pessoa no Whatsapp me escreve: “Estou mal, aconteceu isso”. E eu escrevo lá um monte de coisa. Quando eu leio aquilo, eu digo: “Nossa, não me lembro de ter escrito isso!”. E são palavras que eu não imagino que eu tenha usado com a pessoa! E a pessoa: “Nossa, muito obrigado!”. Então, o recado foi dado! (Risos) E eu sou muito otimista.
P/1 – Cléa, seguindo a história, seus pais se casaram e foram morar onde?
R – Eles se casaram e vieram morar na Rua Oscar Guanabarino. O Parque da Aclimação, é a ruazinha que fica à esquerda, uma ruazinha estreitinha, existe até hoje. Só que, naquele tempo, ela terminava num muro, acabava ali, não sei se era um muro do parque, terminava ali. E tinham três casinhas geminadas. Eles moravam na do meio, de aluguel. Na casa de baixo, morava um casal, uma senhora portuguesa casada com um espanhol. A minha mãe era muito pra frente, ela andava de bicicleta. E ela ficou grávida de mim, eu sou de 1947, eles casaram em 1944. Então, teve todo esse tempo pra ela andar de bicicleta com ele, pra eles saírem. Ela pegava sacos de farinha alvejados e tingia de azul e fazia calças compridas que nem as de moletom, com elástico lá embaixo, fofas, pra andar de bicicleta. Não existia calça jeans naquela época, e mulher usar calça, hum! Então, essa mulher via minha mãe, meu pai ia treinar com meus tios, que os cinco corriam de bicicleta. Depois um parou, depois o outro também casou e parou, e meu pai e o seguinte dele andavam ainda, treinavam muito. Então, pegava num sábado de manhã: “Vamos até Itapecerica?”. “Vamos!” A minha mãe perguntava: “Que horas mais ou menos vocês voltam?”. “Ah, são sete e meia agora, a gente volta lá pelas dez e meia, 11 horas”. Ela preparava um monte de sanduíche, pegava a bicicleta dela com o porta-bagagem cheio de lanches e ia encontrá-los na entrada dali da Anhanguera, que ela vinha – não existia a marginal do rio. Ela entrava dentro de São Paulo, na Lapa ali. Ela vinha até ali encontrar com eles, a turma vinha verde de fome, comia aquilo. Depois, iam todos até a casa, e os meus tios iam embora. E a mulherzinha achava que a minha mãe saía pra encontrar com esses homens. E xingava minha mãe. Minha mãe chegou um dia a encontrar com ela na feira, estava uma chuva danada, minha mãe trouxe ela debaixo do guarda-chuva. Quando chegou na porta, ela: “Vagabunda!”, deu a porta na cara da minha mãe. Ela era doida, ela fazia xixi no penico e de manhã jogava debaixo da porta da sala da minha mãe, rasgava as cortinas da minha mãe. Ela era um caso sério! E o vizinho da ponta era um taxista que chegava muito tarde da noite. Meu pai chegava às seis horas da tarde. Se o meu pai parasse o carro ali, ele vinha e parava o dele atrás, meia-noite, meu pai não podia sair de manhã. E, se meu pai ficava na rua esperando ele chegar, ele tinha que ficar até meia-noite. Então, meu pai punha o despertador, ia dormir, meia-noite tocava, e ele saía, o homem já tinha posto o carro. Ele vinha e punha o carro dele atrás do homem. Mas essa mulher da casa de baixo começou a implicar demais com a minha mãe, e eu já tinha nascido aí, e a coisa começou a ficar muito esquisita. Então, eu nasci em 1947, e, em 1948, eles foram morar na casa dos meus avós, pais do meu pai, que moravam na Barra Funda. E os filhos já tinham todos se casado, menos um, que ficou solteiro. E desocupou o quarto de mais um filho, que tinha casado, o Fioravante, ele tinha uma menina da minha idade, dois meses mais velha que eu. E ele já tinha saído pra morar em outro lugar, vagou o quarto. Então, meu pai e minha mãe vieram, moraram ali alguns meses até fevereiro de 1949, quando meu pai, ele conhecia um corretor de imóveis, um senhor chamado Japir. E esse corretor de imóveis conhecia um senhor que tinha uma casa de calçados na Praça Clóvis Bevilácqua, chamava Casa dos Quarenta, Casa Quaquá – tinha um pato assim na frente da casa, pintado. Era uma loja de calçados que fazia sapatos tamanho 40, que era tamanho grande. Então, era a Casa dos Quarenta. Esse homem, ele tinha a loja lá na Praça Clóvis e, nessa época, os funcionários eram, na maior parte deles, de Santo Amaro. Que Santo Amaro foi populacionalmente mais adiantado do que o Ipiranga, essa parte de cá. Então, esse senhor, olha só o que ele fez. Ele comprou a praça de um lugar que estava em loteamento e construiu uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, e um terreno vazio. Então, a casa tinha dez por 40, o outro terreno mais dez por 40 vazio, e ficou desde a esquina até a outra esquina da praça toda, acho que tinha umas oito casas ou dez, mais ou menos. Casa e um terreno, casa e um terreno. E ofereceu pros empregados virem morar ali, que ele viria buscá-los de manhã com um veículo próprio pra que ninguém chegasse atrasado ao serviço. Ninguém quis ir, porque, imagina, eles moravam em Santo Amaro, um lugar civilizado. Ia morar lá? Não tinha nem água! Não tinha luz. Condução, tinha um ônibus de manhã e um de tarde. Ninguém quis. Então, esse Japir pegou as casas pra vender. Como conhecia meu pai, sabia que o meu pai gostava muito de comprar terra, que ele dizia que terra é sempre terra, ele comprou uma das casas e deu entrada na outra casa do lado pros pais dele. Os outros irmãos viram, vieram ver, gostaram. Um que morava com a mãe, que era solteiro, comprou nos fundos do meu pai, que dava pra rua dos fundos. O outro irmão comprou do lado da mãe, que ia até o fundo também. E o outro irmão comprou do lado do meu pai, do lado de cá, metade do terreno. E todos os Magnani vieram morar na Praça André Nunes, na Vila dos Quarenta. Ali não tinha poço, teve que abrir poço. Quando nós viemos, já tinha luz e tinha só uma família morando, ela morava na casa número 18. Meu pai tinha comprado a 20, dado entrada na 22 e na 16. O da 16, ele falou: “Poxa, o senhor vai vir morar com a sua família aqui e eu estou no meio”. Ele estava na 18. Ele falou: “Eu vou mudar pra 16 pra vocês ficarem todos juntos”. Olha que amizade, né? E nós viemos morar ali.
P/1 – Então, lá foi a casa da sua infância?
R – Foi a casa da minha vida! Da minha vida até casar.
P/1 – Exato, mais do que a infância, né? E a senhora pode descrever como era essa casa?
R – Essa era uma casa muito boa de alvenaria, bem trabalhada, com teto, estuque, pintada com aqueles frisos na parede, com florzinha. Era muito bonita a casa, bem arrumadinha. E o terreno, meu pai, então, que não era exagerado, ele comprou a casa e mais os 20 metros do terreno. Então, nós tínhamos 800 metros quadrados, meu pai tinha um Renaultzinho, o “rabinho quente”, um modelinho de Renault bonitinho, curtinho. Ele dava a volta em volta da casa com o carro! Nós corríamos de bicicleta no quintal. Eu, meu pai e minha mãe andávamos de bicicleta no quintal todo. E meus avós moraram ali, meus tios pra cá, e a gente no fim de semana andava na praça de bicicleta, mas com a minha mãe no portão olhando. Eu não podia passar da casa da nonna pra lá. A minha prima já passava e ia até lá embaixo, e eu olhava: “Não, volta pra cá”. Porque eu tinha uma obediência assim medonha. Porque eu fui castigada muito pequenininha por uma desobediência. O meu pai tinha cercado o quintal todo com fios de telefone, porque ele trabalhava na Light e tinha muita sobra de materiais da Light. Eu tenho até um banquinho em casa, ainda hoje, que ele foi construído com tábua e bonde dos Estados Unidos. Os bondes, aqui em São Paulo, tinha o bonde a burro. Quando terminaram os bondes a burro, aí já era da época do meu pai, tinham os bondes elétricos. E eles usavam sucatas de bonde, porque nós não tínhamos fábrica de bonde aqui. Vinham as sucatas, que já estavam sucatas lá nos Estados Unidos. Imagina quantos anos tinha essa tábua lá nos Estados Unidos até virar sucata lá! Depois que estavam aqui em São Paulo, elas viraram sucata também, e meu pai pegou uma dessas tábuas do bonde e levou pra casa e fez um banquinho pra minha mãe, quando estava grávida de mim, fazer escalda-pés. Ela era baixinha, sentava no banquinho e punha os pezinhos na bacia com as pernas bem fortes de canela. E esse banquinho existe até hoje. Ele deve ter mais de 100 anos, tranquilamente. Porque eu já estou com 70, faz as contas, das sucatas de São Paulo com as sucatas dos Estados Unidos! É um banquinho centenário! Então, as coisas vinham de lá e eram usadas. Da Light ali, que não eram usadas mais, a gente pode ver isso, inclusive, na Cinemateca, onde eu faço parte com a Nori. Os mobiliários todos da Cinemateca são feitos com madeiras que eram de postes. E, embaixo das mesas, são aqueles pés de ferro dos postes que tem, que nem no Museu do Ipiranga, aqueles postes de ferro bonitos, que tem uma águia. São as pernas das mesas ali, a gente não aguenta carregar uma mesa daquelas. Porque ali, a Cinemateca foi um depósito de postes velhos da Light. Então, o meu pai pegou aquele monte de fios de telefone, que era um fio liso, de arame liso, e cercou o nosso quintal com três fios de arame pras vacas que tinham no curral em frente não virem comer as plantas da minha mãe. E eu tinha essa tia, a única irmã do meu pai, ela morava na cidade, na Lapa, na Vila Pompeia, não sei. E tinha um filho só, que era dois anos mais velho que eu. Quando ela vinha visitar a mãe, esse meu primo ficava doido quando via aquele monte de espaço na frente. Então, ele estava lá na casa da minha avó, a minha tia chegou, desceu, cumprimentou todo mundo, e ele viu o meu primo na quarta casa, que era filho do meu outro tio, e ele saiu correndo feito um dragão e chegou no fio de arame e não viu. Ele pegou no peito do menino, esticou até onde pode e, jopt, jogou o menino quase de volta na casa da minha avó de novo! “Meu Deus, o Ricardo fez uma cerca assassina, quase que me corta o pescoço do menino, coisa absurda!” Meu pai, no dia seguinte, arrancou tudo! Ficaram os buracos dos mourões que ele mesmo tinha posto. Pegou os fios, enrolou tudo e foi tudo pro lixo, jogou lá. E nós ficamos sem cerca no quintal. Aí minha mãe falou assim pra mim, eu tinha três aninhos: “Cléa, vem cá. Tá vendo esse buraco aqui no chão?” – o buraco onde tinha tirado os mourões – “Aqui, do buraco pra cá, é a nossa casa, do buraco pra lá é a casa da Suzana”, que era a minha prima. “Não é pra passar pra lá, tá bom? Você pode brincar, ela pode brincar, mas você não vai passar pra lá.” E ela foi lá pra dentro, trabalhar no servicinho dela. E eu fiquei ali com a minha prima. E a minha prima chegava e falava: “Tô na tua casa, tô na minha casa. Vem!”. E eu: “Não, minha mãe falou que não”. Daqui a pouco, essa minha prima foi lá na casa da minha avó: “Tô na casa da nonna! Vem!”. E eu fui. A minha mãe não estava trabalhando, ela estava na janela do banheiro me olhando pra ver se eu obedecia. Ela desceu, pegou uma varinha de uma planta, arrancou as folhinhas e, ship, nas minhas pernas! Três varadas.
P/1 – Quantos anos a senhora tinha?
R – Três anos. Aí a minha tia falou: “Não faz isso, Rosa, foi a outra que fez ela ir pra lá”. Minha mãe: “Da minha filha cuido eu!”. E me sopapeou e me veio com... Eu berrando, porque a minha mãe era o meu ídolo, eu idolatrava minha mãe! Me veio chacoalhando pra dentro e me sentou numa cadeira de compensado, que tinha um quebrado aqui, que era onde ela punha a roupa pra passar. Não tinha roupa, ela me sentou na cadeira. Aquela farpa da cadeira entrou na minha perninha, que eu tinha três anos. E eu olhava ali aquelas três varadas e eu chorava. E ela: “Pare de chorar, pare de chorar!”. Então, aquilo pra mim era o fim, eu estava sentindo: “Eu vou morrer aqui, agora é a morte isso aqui!”. Então, eu fui castigada nessa idade por uma injustiça. Hoje, eu odeio injustiça. Se você fala pra mim, que nem aquele Nardoni lá, que atiraram a menina pela janela. Se eles falam: “Eu não fiz isso, eu não fiz isso!”, eu não sou capaz de acusar se eu não vi acontecer. Porque eu sei a dor de uma injustiça, como dói! Então, a coisa que eu menos gosto na minha vida é da injustiça. É a única coisa que me faz chorar. Do resto, eu não choro nem com a morte, porque eu acho que a morte é necessária, todos nós vamos morrer, faz parte da vida. Só não gosto do sofrimento, mas a morte é tranquila.
P/1 – A gente estava falando da casa, né?
R – Você tinha perguntado como era a minha casa. Então, era a cerca assim, aí foi tirada. Aí meu pai fez a cerca toda de ripa, ripa de peroba. Ele furou todas as ripas, quatro furos na ripa com a maquininha de furar de mão! Não existia maquininha elétrica naquele tempo. E pôs dois preguinhos, porque, se você põe prego na peroba e bate, ela estoura. Então, ele furou tudo pra pôr os parafusos, os pregos ali, cercou ali. Aí minha casa ficou com cerca de ripa assim, até eu casar, porque, quando eu casei, eu ajudei minha mãe pra gente reformar a casa. E, depois de sete anos, ela já sofria do coração, e a gente não sabia. Aí, nós vendemos a casa pra um supermercado, que já tinha comprado do lado de cá, tinha comprado do lado de lá, tinha comprado o fundo e falou: “Quando a senhora quiser vender, me vende”. E, nesse terreno em que eu morava, tem um pé de jatobá que eu, quando tinha quatro anos, nós fomos pra Itapira, que minha mãe foi me mostrar pras amigas dela lá, que ela não tinha parente nenhum, mas eu chamava de tia. Estando lá, na hora de vir embora, em cima da mesa, eu vi um jatobá, aquela vagenzinha preta, uma vagem desse tamanho, né? Eu falei: “Mãe, o que é isso?”. “Oh, Rosa, tua filha não sabe o que é um jatobá? Pega, leva pra ela!” E a gente vinha de trem, e eu, no meio do caminho, quando pararam em Campinas, vinha um rapaz vendendo sanduíches de mortadela e queijo. Mas a minha mãe falava: “Não vamos comprar essas coisas dentro do trem, não sei de onde é, se está bem feito. Você quer comer um jatobá?”. E ela pegou o sapato de salto e quebrou na janela do trem de madeira, o sapato era azul-marinho de camurça, ficou todo cheio de pó verde! Aí, eu achei medonho aquele troço, né? E ela guardou as sementes. E chegou em casa, ela plantou. E hoje esse jatobazeiro está com mais de... Nossa, eu tinha quatro anos, estou com 70. Tem 63 anos, né? Ele está com a copa gigantesca, do lado do supermercado, o rapaz que comprou ali falou: “Nós nunca vamos cortar essa árvore”. E agora está em reforma o terreno todinho, que eles vão fazer um sacolão, vai inaugurar agora.
P/1 – E o jatobá está lá!
R – O jatobazeiro está lá, inteirinho lá, bonitão, dando jatobá!
P/2 – Posso fazer uma pergunta? Nesse quintal todo, com que idade você aprendeu a andar de bicicleta, já que os dois andavam de bicicleta?
R – Ah, sim, eu tinha acho que de cinco pra seis anos. Meu pai comprou uma Philips pra mim, pequenininha, com as rodinhas de trás. Depois, assim que eu peguei, eu tenho fotografia numa bicicleta que a minha mãe desceu pra Santos. Aí eu andava com a dela.
P/2 – E você morou nessa casa até que idade?
R – 23 anos.
P/1 – E, ainda na casa, tinha divisão de tarefas?
R – Não. O meu pai ia trabalhar e voltava, vinha almoçar, voltava pra lá e voltava de tarde. Ele era o provedor da casa. A minha mãe não sabia quanto ele ganhava, não sabia quanto pagávamos de luz, não sabia nada. E ela trabalhava na casa e no quintal. Queria ver minha mãe feliz, era deixar ela no quintal com uma porção de galinha no terreiro. Ela passava o dia inteiro arrumando lugarzinho pra galinha fazer ninho, chocando, descascando, fazendo parto. Já viu cesariana de galinha? Minha mãe pegava o ovo que já estava choco, o pintinho bicando de dentro, ela escutava, fazia assim o pintinho: “Ih, ih”. “Tá vivo!” Ela quebrava ali e ia secando, ia pondo embaixo da galinha de novo. Daqui a pouco estavam os pintinhos lá. Então, sempre tivemos animaizinhos no quintal, codorna, pato, galinha. Uma vez (risos), o meu pai tinha comprado toda a linha da Arno de eletrodomésticos pra ela: a enceradeira, o aspirador de pó que parecia uma bala de canhão desse tamanho, a panela de pressão Arno, que tinha uma gradina que vinha dentro e cozinhava no vapor. Era uma beleza. A batedeira e o liquidificador. Deu tudo pra ela e falou assim... Ele tinha comprado um sítio em Atibaia quando eu tinha sete anos. Ela ficou encantada com o sítio, e ele ia se aposentar. Então, ele falou: “Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos aposentar”. Eu tinha tirado o diploma do Grupo, com 11 anos, fiz um ano em cada escola, porque meu pai era estranho, não sei. Ele começava uma coisa, daqui a pouco ele: “Não, aquele ali não é bom, parte pro outro!”. Aí fui pro Grupo Escolar Visconde de Itaúna e tirei o diploma. Aí ele falou: “Nós vamos morar no sítio, sua mãe adora o sítio, vamos morar lá. Então, você não entra na escola agora e eu vou te colocar na escola em Atibaia ou em Bragança, você vai de trem e volta”. “Tá bom!” E 12, e 13, e 14, e nós não fomos. E eu fiquei parada, sem estudar, só tocando harmônica de ouvido, tocando, tocando. Fiz curso de datilografia, passou.
P/1 – Sem ter ido pra escola?
R – Sem ter ido pra escola, só com o diploma do Grupo Escolar. Aí meu pai disse assim: “O negócio é o seguinte, a lei mudou. Se eu me aposentar agora, eu perco tantos por cento da aposentadoria. Então, eu vou trabalhar mais cinco anos e a gente vai fazer a minha aposentadoria e aí nós vamos mudar pra lá”. A minha mãe: “Ah é? Aí nós vamos mudar pra lá?”. “Vamos.” “Falta quanto tempo?” Faltavam mais uns três anos pra ele poder se aposentar. Disse: “Então, eu não vou usar nada disso aqui, panela de pressão, se puser no fogo de lenha é capaz de explodir”. Lá no sítio não tinha gás, não tinha luz. Aí ela falou pro meu pai: “Eu não quero todos esses eletrodomésticos que estão aqui, vamos vender tudo, porque eu vou levar pra lá pra quê?”. Aí meu pai falou: “Bom, então, eu vou vender pros meus irmãos que querem ficar e tem uma panela de pressão novinha, está na caixa. Então, fica com a panela de pressão”. Meu pai nunca deu dinheiro na mão da minha mãe, ele sempre: “Você precisa de uma roupa? Vamos lá comprar”. Ele comprava tudo, até sutiã e calcinha ele comprava pra ela! Aí, ele deu a panela de pressão pra ela, falou: “Essa panela de pressão você vende e pode ficar com o dinheiro pra você”. “Quanto que custa?” Ele falou: “500 cruzeiros está bom”. Nós tínhamos uma feira na porta de casa, toda terça-feira. Era época de Natal, veio um sujeito lá com os engradados de galinha, era tudo vivo, não vendia nada morto na feira. E o sujeito me vem com cabrito e com leitão. Uma leitoinha bonitinha! Minha mãe chegou: “Ah, que bonitinha! Quanto que custa?”. “500 cruzeiros.” “O senhor aceita uma panela de pressão?” Trocou a panela de pressão pela leitoa. Quando meu pai chegou em casa: “Ricardo, vem ver o que eu comprei com o dinheiro!”. “Eu dei o dinheiro pra você comprar uma roupa pra você!” “Ah, vou comprar roupa? Eu não saio, eu não sei dirigir, tenho que pegar ônibus. Ah, não vou!” Comprou a leitoa. Essa leitoa deu um trabalho que você não calcula! Ela roía o chiqueiro onde ela estivesse e, um dia, nós estávamos, eu e minha mãe, no sítio, que era que nem Carnaval, a gente foi na véspera, e meu pai ainda tinha que trabalhar na segunda-feira e depois ele foi pra lá. Na manhã que ele acordou pra ir trabalhar, a porquinha tinha escapado do chiqueirinho e estava tentando raspar por baixo da cerca pra passar pro terreno vizinho, que era do meu tio, que já tinha vendido e ia dar pra uma terceira casa em que morava um casal que tinha cães de caça! Dois perdigueiros desse tamanho, os cachorros estavam que nem doidos no muro sentindo o cheiro da porquinha lá. E meu pai consertando a ripa. A porquinha veio, veio, veio, ele pegou o martelo e pá na testa da porquinha, matou a porquinha (risos). Aí falou pro meu primo: “Você sabe limpar? Limpa que de tarde eu vou levar pra lá”. Pegou, deu um quarto da leitoa pra mãe dele, um quarto pro primo que ajudou e levou meio porco lá pro sítio! Minha mãe quase morreu de ver a porca esquartejada!
P/1 – Mas a intenção de ter a leitoa...
R – Não era pra ser comida no Natal! Não, minha mãe tinha se apaixonado por ela, nossa! Minha mãe passava óleo Johnson na leitoa! (risos) Ela adorava a leitoinha!
P/1 – Tinha nome?
R – Não lembro. Acho que não, acho que não chegava a ter. Mas nós sempre tivemos bichos no quintal. Tive coelho, tive pato, mas de criação mesmo, pra vender. E geralmente nessas épocas acontecia um problema, e a pessoa que estava nos ajudando ia embora e sobrava tudo pra minha mãe sozinha. Uma vez, meu pai comprou uma caixa de pintinhos de um dia, 101 pintinhos. Ele vinha descendo a Rua Bom Pastor, que a Rua Bom Pastor subia e descia. Ele vinha descendo com o carro com 101 pintinhos dentro da caixa, piriri, piriri, dentro do carro. O carro de trás, pum, bateu na traseira do meu pai! Porque meu pai tinha brecado, porque tinha o farol fechado. O sujeito saiu de dentro do carro que nem uma onça e veio brigar com meu pai: “Por que você brecou? Por que não sei o quê...”. Meu pai, jun jun, jun, fechando o vidro do carro, a caixa tombou dentro do carro, os pintinhos saíram tudo dentro do carro. Aí meu pai falou pro homem: “Olha, me dá seu endereço que eu pago o senhor”. “Faz um cheque!” “Tá bom, tá aqui seu cheque.” E chegou em casa, tocou a buzina lá na porta, minha mãe, tinha a garagem embaixo, mas toda fechada. Meu pai: “Abre o portão!”. E minha mãe: “Por que eu tenho que abrir o portão? É sempre ele que abre!”. Abriu a porta da garagem, abriu... “Fecha a porta de lá, fecha as janelas!” Minha mãe: “Mas o que tem dentro do carro?”. Abriu a porta do carro, parecia uma cachoeira de pintinho amarelo! E pra gente achar e pegar todo aquele monte de pintinho? Depois os pintinhos cresceram e começaram a se comer uns aos outros. Eles são antropófagos. Quando começa a sair a pena, um vai atrás do outro, bica, sai sangue, vêm todos! Eles comem o outro vivo, até as tripas começarem a cair no chão! Horrível, horrível! E toca nós separarmos os pintinhos um por um nas caixas. Depois tivemos coelho, foi a mesma coisa. Os coelhinhos, quando eram bonitinhos, lindinhos, pequenininhos, uma gracinha. Quando começava a chegar na idade de acasalar, ele morde a cara do outro e mete os dois pés na barriga do outro. As tripas voam tudo no chão! É feroz a briga de coelho. Mas nós separamos coelho por coelho. Depois tivemos pato. O pato, a mesma coisa. Então, a gente comprava caixa de madeira, dessas de tomate, serrava na frente, punha uma grade no fundo, punha o pato lá dentro, ficava só a cabeça pra fora. E tinha que dar banho no pato todo dia, porque ele fazia tudo ali também, né? E o danado, ele botava a asa no chão, no vão da madeirinha e fazia assim com a cabeça pra fora, ele empurrava a caixa até encostar na caixa do outro! Quando o outro punha a cabeça pra fora, pra comer, ele pegava por aqui e matava o outro pato dentro da caixa. Então, eu aprendi que bicho é pra ficar no zoológico! (risos) Porque dá muito trabalho! Então, minha vida foi assim, nesse quintal, brincando com a minha prima que morava do outro lado da cerca, que aí meu pai fez a cerca, já não era mais o buraco!
P/1 – E quais eram as brincadeiras?
R – A gente brincava muito de casinha e, uma vez, nós resolvemos... Minha mãe ouvia muita novela da Rádio São Paulo, escondido do meu pai! Porque ele não gostava, porque a minha avó também não gostava – ele obedecia muito a mãe dele. Meus cabelos não eram pra ser cortados, era ela que decidia, não é pra ir na cabeleireira. A outra nora ia, a mãe da Suzana levava no cabeleireiro, ela ia, fazia permanente. A minha mãe usava os cabelos enroladinhos aqui, como meu pai a conheceu quando se encontraram naquela praça, naquela noite. Nunca deixou ela mudar de penteado. E eu tinha que continuar no mesmo caminhar, não podia ir no cabeleireiro. Eu sempre tive cabelo crespo e eu era gorda. Eu, com 13 anos, tinha esse tamanho que eu tenho e pesava 80 quilos. E a minha prima Suzana era bonitinha, magrinha, loirinha de olhos azuis. E minha tia falava: “Ah, como a Suzaninha está linda, olha o corpinho da minha filhinha, que lindinho! E a Cléa parece um colchãozinho amarrado no meio, né?”. Então, aquilo pra mim: “É mesmo, eu pareço um colchãozinho amarrado no meio!”. E me acomodei naquele jeito. Minha mãe molhava meu cabelo, repartia no meio, penteava até aqui e cortava aqui e cortava aqui. Aí o cabelo secava e ia virando o João Felpudo, né? Punha um grampo aqui e ia lá. Então, eu sempre me achei assim, a minha autoestima nunca foi boa. E, agora, depois que eu encontrei os amigos, que dizem: “Nossa, seu cabelo está bom, você está bonita”, não sei o quê... Que nem hoje lá, todo mundo: “Ah, você está bonita”. Meu Deus do céu, só porque pus uma blusa de cor diferente? Meu pai costumava dizer assim: “Essa blusa ficou bem em você”. Ele não dizia: “Você está bonita”. Então, a palavra “bonita” pra mim nunca foi dita. Nem pelo marido. Como ele era muito bonito e a minha sogra falava: “Ah, o Gilberto é tão lindo!”, então, eu sempre achei que ele era o bonito. E eu também estava conformada em ser como sou, nunca me senti mal por isso. Mas as nossas brincadeiras ali eram brincar de casinha. E a minha mãe, como ouvia muita novela na Rádio São Paulo escondida do meu pai, eu ouvia aquelas vozes bonitas e, um dia, eu e minha prima resolvemos escrever uma novela. Acho que a primeira minhoquinha de escritora estava ali. Então, a novela ia se chamar Meu Inesquecível Amor, que era o Waldemar Ciglioni que falava: “Meu inesquecível amor”. Então, começamos: fulano sai pela rua, encontra a moça, aquela historinha. Nós duas, lá na beira da cerca, eu do lado de cá, ela do lado de lá. Daí, nós escrevemos. Chegou na hora do almoço, a minha mãe pôs o almoço e foi lá ver o que a gente estava fazendo. Terminou o almoço, ela falou: “O que vocês estão fazendo?”. Eu falei: “Ah, nós estamos escrevendo uma novela”. “Ah, mas é muito cedo pra vocês fazerem essas coisas. Apaga aquilo lá e joga fora.” Então tchá, tchá, tchá, joguei a minha novelinha no lixo ali e fiquei frustrada. “Puxa vida, por que será que eu não posso escrever? É muito cedo. Por quê? Será que se fosse depois das cinco da tarde podia?” (risos)
P/1 – (risos)
R – A gente não entendia porque era e nem ela também explicava. Mas as pessoas dão o que têm. Minha mãe foi criada com a mãe dela e também, se fosse a mãe dela, não sabia pra explicar. Então, eram tabus!
P/1 – E o que a menina Cléa queria ser quando crescesse?
R – Nunca fiz plano, nunca! Nem de me casar, nem de ter filhos, nem de ser nada. Nem de ser professora, nem de ser médica. Eu adorava escrever, sempre gostei. Na escola, quando a professora fazia composição à vista de uma gravura, ai, como eu amava! Ela vinha com um quadro assim, dobrava aquele quadrão, tinha lá uma menininha brincando debaixo de uma árvore, um menino chegando, um cachorrinho, uma casa de sítio. Você tinha que olhar ali e inventar uma história a respeito. Composição à vista de uma gravura! Quando era descrição da gravura, eu achava chato, porque todo mundo já está vendo isso daí, vou dizer o quê? Tô vendo uma casa, é uma casa bonita. Agora, composição! Ai, aquilo mexia com as minhas minhoquinhas lá dentro. E eu começava: “Julia morava na cidade, e Joaquim morava no sítio. Eram primos, eles viviam estudando. Quando chegava no final do ano, todo mundo se encontrava. Ele estava chegando no sítio, e ela trazia as novidades da cidade”. Ela falava: “Máximo de dez linhas”. Ah, gente, eu fazia uma letra e minhoca pra caber nas dez linhas. Era um sacrifício pra mim muito grande parar de escrever.
P/1 – Tem alguma história, alguma composição que você lembre?
R – Que eu tenha feito? Esse mesmo da menina que morava na cidade e vinha encontrar o primo que morava no sítio. Andaram muito a cavalo, o cavalo chamava Estrelão, que era o nome do cavalo que eu tinha no meu sítio de verdade. Então, eu misturava um pouco da verdade minha com... Porque no sítio eu ficava muito solitária, porque algumas vezes a minha prima ia junto, mas depois minha tia não queria mais deixar que ela fosse. Aí, eu ficava lá, minha mãe cuidando da casa, lavando a roupa. Era bomba de poço, tinha que bombar pra encher a caixa-d’água. Meu tio, que era irmão da minha mãe, morou lá 40 meses, ia plantar alguma coisa e eu ficava sozinha. Então, tinha a casa e tinha um morro do lado da casa. E nesse morro tinham uns pés de ameixa, era um pomar que eles tentaram fazer, mas muito íngreme. Então, do lado de cá, tinham pereiras, macieiras, era bem gostoso de ficar. E, nessa subida, tinham nascido duas arvorezinhas num patamarzinho de terra, nasceram aquelas duas arvorezinhas e se fecharam em cima, ficava um sombreadinho. Ali eu adorava pegar água com anil, dentro de uma coisinha, tinha um remédio que meu tio dava pro cavalo, que era cor-de-rosa, e eu punha no outro vidrinho. E subia lá e ficava fazendo química, adorava misturar aquelas coisinhas e perder toda a cor. E eu conversava comigo mesma.
P/1 – Você ajudava na casa, sua mãe pedia, te ensinava?
R – Sim, se ela pedia? Sim. Arrumava a cama, nessa época. Porque a gente foi muito frequentemente, foi dos sete aos 14 anos, mais ou menos. Depois, eu já não queria mais ir. Aí meu pai ia sozinho. Botaram fogo no sítio, nós estávamos lá, foi um horror! Acho que a minha fibromialgia começou lá, nessa vez que puseram fogo no sítio. O corpo doía tanto! Foi em 1955, eu sou de 1947, não tinha nem dez anos.
P/1 – Mas o que aconteceu, como foi o incêndio?
R – Nós tínhamos o sítio já ia fazer mais de um ano, já fazia dois anos que a gente tinha o sítio. E, um dia, amanheceu uma manhã tão bonita, meu pai e meu tio foram até uma adega de um sítio vizinho, que ficava a 12 quilômetros de lá, foram a pé buscar vinho. Porque a gente não ia de carro, lá ia de trem, a gente ia de trem. Pegava na Estação da Luz, descia em Campo Limpo Paulista, atravessava a linha e pegava a maria-fumaça. Andava 12 quilômetros de maria-fumaça e tinha a estaçãozinha ali. Ou andava mais um pouquinho e chegava à Estação de Iara. A estaçãozinha ainda tem lá, só que está invadida agora, acabaram com tudo. E de lá a gente andava três quilômetros a pé até a casa do sítio. E nesse fim de semana meu pai foi com meu tio buscar o vinho lá nos Scarelli. Minha mãe preparando um ganso ao molho pardo e uma polenta, divinos! Aí, meu pai e meu tio saíram às seis horas da manhã e bate estrada pra não pegar o calorão do dia. E voltam com duas caixas de vinho, imagina, caixas de garrafas de vinho na mão. E meu tio com um carneirinho no pescoço, que eles tinham comprado pra mim, um carneiro de verdade, pequeno!
P/1 – Vivo?
R – Vivo! Amarrava os pés do carneiro aqui e vinha a cavalo aqui. Meu tio devia estar morrendo de calor com aquele monte de pele! Chegaram em casa, o almoço estava pronto, minha mãe preparou, mas estava demais aquele ganso! E tomaram vinho, comeram. Acabou o almoço, todo mundo ia descansar um pouco, tinha a rede, meu pai foi deitar. Daqui a pouco, vem o filho do sitiante vizinho, o menino: “Seu Magnani, Seu Magnani, corre, estão pondo fogo no sitio!”. O sítio pra lá do nosso, ele não tinha saída pela estrada de cá, ele teria saída por uma estrada de cima, que estava abandonada. Então, quando a gente comprou, tem um caminho que passava na porta do nosso sítio e ia até a estrada, por dentro do nosso sítio, passava na porta da nossa casa, dentro do nosso sítio. E essa família aproveitava essa estrada pra passar, e a gente nunca proibiu, deixava sempre lá. Um dos filhos dela, dessa senhora, chamava Dona Benedita, era jogador de futebol do Bragantino, naquele tempo que o Bragantino estava começando. E eles vinham com o caminhão cheio de jogadores de futebol, tinham ganhado lá onde eles tinham ido jogar e vieram todos bêbados. E paravam o caminhão na estrada, desciam do caminhão e punham fogo na beirada da cerca. E, pondo fogo, pondo fogo e, quaquaquá, pegavam o caminhão, iam mais pra frente. “Ah, vamos botar fogo nessa porcaria!” E, bababá, botando fogo. O fogo foi lá da estrada, ele subiu, passou por toda, acho que uns três... Nós tínhamos 12 alqueires. Ele passou acho que por uns cinco alqueires, e a nossa casa ficava no meio do sítio, baixo, no centro, lá no meio. Quando a gente saiu de dentro da casa, a fumaça já estava ali em cima do barranco, chegando na casa. O meu pai e meu tio sozinhos lá, meio bêbados do almoço, cansados, tinham andado 12 quilômetros, pegaram a foice, um facão cada um, e saíram. “Vamos cercar, vamos cercar o fogo!” Cortar o mato pro fogo não passar. Entraram por dentro, na frente do sítio tinha um eucaliptal, que a gente até vendia a lenha do eucalipto. E, no meio desse eucaliptal, tinha uma estrada abandonada, com um barranco. Meu pai indo lá, fum, caiu no barranco, ficou lá no buraco! E o fogo veio, passou por cima dele, queimou tudo, sapecou os cabelos, rasgou toda a roupa dele, veio cheio de fumaça. Eu e minha mãe ficamos sozinhas na casa. Meu pai e meu tio sumiram lá pra cima, não tinha celular, não tinha como avisar, nada. E os outros sitiantes começaram a vir pra nos ajudar. O fogo atravessou pelo eucalipto, pegou no sítio dessa família que tinha o jogador de futebol, que tinha botado fogo, foi pegar fogo na casa da mãe dele também! E os bichos... Ah, que dó que dava! Veadinhos, tatu. Do meio do eucalipto, eles vinham fugindo do fogo, eles passavam entre mim e minha mãe assim, sem medo nenhum, e iam pra perto do lago que a gente tinha, de medo do fogo, né? E eu vendo aquilo, minha mãe com regador pegando água da bomba do poço e molhando em volta da casa, porque ela falou: “Se o fogo chegar aqui, pega!”. E aquela fumaça, aquele cheiro de queimado, aquele ronco do fogo, nunca mais eu vou esquecer! Aquilo foi me dando uma dor no corpo, mas uma dor, uma dor, eu me joguei no chão e eu rolava no chão de dor. Acho que foi o ataque da fibromialgia que eu tive com aquele pavor que eu senti. Aí, o fogo estava chegando mesmo, ninguém conseguia, meu pai veio do meio do eucaliptal lá, todo chamuscado, um machucado na perna daqui até em cima, porque ele caiu em pé, pegou um pau, rasgou aqui. Aí veio todo mundo dos outros sítios, inclusive, os irmãos desse que botou fogo também, a mãe dele e o Tio Benedito Sargento, que morava sozinho, 70 alqueires ele tinha, morava no finzinho da estradinha. Ele nunca saía de lá, ele viu o fogo, ele veio junto, ficaram tudo lá em casa. O tempo virou, mas virou um temporal e minha mãe com aquela “homaiada” toda dentro de casa. O nosso telhado era de telha vã, não tinha forro, eram só as telhas. Veio uma chuva de pedra, cada pedra desse tamanho, quebrava a telha, quebrava os vidros da porta da casa. Tinham umas janelas que eram abertas, a veneziana por dentro, e depois o vidro da sala. Estourava o vidro. Entramos embaixo da mesa da sala, tinha uma mesa enorme e a minha mãe esperou parar um pouco aquele horror, que foi o que apagou o fogo, graças a Deus, né? Então, tinham bastantes ovos de pata, tinha farinha, ela começou a fazer bolinho de chuva pra dar pra todo aquele monte de gente. Uma bacia assim cheia de bolinho de chuva! Então, pra mim o gosto do bolinho de chuva me lembra disso também. Eu associo muito cheiros, gostos com coisas que aconteceram. Aí o sítio ficou todinho preto, preto. Quando a gente saiu no dia seguinte pra vir embora, os mourões de cerca todos queimados, a cerca toda no chão, cinco fios de arame de 12 alqueires, tudo jogado no chão! Tivemos que chamar gente pra ajudar, meu tio pra arrumar tudo aquilo. Depois da primeira chuva da primavera, aquilo tudo verdinho, lindo de morrer! Então, é a impressão que eu tive. Mas o pavor... E meu pai tinha comprado uma vitrolinha de corda, porque lá não tinha luz. E comprou vários discos, meu pai gostava de ópera, de músicas boas. E ele levou uma música com Edu da Gaita, era um rapaz que tocava, a música chamava A Dança Ritual do Fogo. Eu não podia ouvir! Ele punha aquela música, eu começava a chorar! Aí um dia ele pegou o disco, era um disco de baquelite, e falou: “Cléa, vem cá, pega esse disco. Estoura ele no chão e quebra!”. Quebrei, e ele disse: “Agora, você não vai ter mais que chorar por causa dessa música!”. E hoje eu gosto dela! Foi uma cura terapêutica a bofetada (risos)!
P/1 – E quais são as suas primeiras lembranças da escola?
R – A primeira escola que eu frequentei foi uma professora particular. Perto de casa, depois do fim da praça, tinha a segunda rua à esquerda, era uma sapataria, era o Seu Jacob, que ele consertava sapatos. Então, naquela época os sapatos não eram de borracha, não existia, era tudo de couro. A minha mãe levou um sapatinho meu pra ele consertar, sapatinho de bico quadradinho de verniz, todo cheio de pespontinho em volta. Tinha aberto esse sapato. E a gente foi lá, e, enquanto ele estava consertando o sapato, minha mãe viu que um monte de criança ia entrando atrás da casa. A filha dele dava aula, a Dona Sara, era uma moça nova. Família tudo árabe, judia, não sei, falavam tudo com sotaque. E aí minha mãe conversou com ela e ela disse: “Sim, dou aula aqui, sim”. “Ah, então será que ela pode começar?” “Pode.” Ela disse: “Ela nunca esteve na escola”. E eu, pra ficar sem a minha mãe, aquilo foi triste! No dia seguinte, minha mãe fez uma notícia: “Ai, você vai pra escola! Olha, a mamãe vai comprar uma lancheira pra você levar um lanchinho! Olha, uma pastinha pra você levar seus cadernos!”. “Tudo bem, você vem comigo, mãe?” “Vamos, sim.” Me levou até lá e me pôs lá pra dentro. “A senhora não vai entrar?” “Não, bem, a mamãe não pode entrar, a mamãe vai ficar sentada aqui no banco.” Aí eu entrei, daqui a pouco saí correndo, olhei, e minha mãe estava sentada no banco. Ah, quando começou a aula, dali a pouquinho eu falei: “Eu quero fazer xixi”. “O banheirinho é ali fora.” Eu sabia que era fora, eu queria ver se minha mãe estava no banco. Quando eu olhei, minha mãe não estava mais no banco, aquilo deu um frio na barriga, um mal-estar, uma coisa, e eu entrei e já comecei bué, bué. Ela: “O que foi? Imagina, a mamãe foi buscar carne no açougue, ela já volta. Enquanto você estava aqui, ela ia buscar carne”. Quando ela voltou, eu chorei um pouquinho, mas ela logo voltou. Nós fomos pegar o sapato que tinha ficado consertando. O sapateiro pegou uns pregos e pregou em cima do sapato aqui assim, prendendo a sola! Minha mãe falou: “Mas como, Seu Jacob, desse jeito?”. “Ah, esse sapato não...” “O pé da criança, quase um dedo passa no fundo do prego!” (risos) Quer dizer, minha mãe pensou: “Se a escola for boa como o pai é sapateiro, eu estou perdida!”. Mas fiz os primeiros dois ou três meses lá, cheguei a passar pro segundo ano.
P/1 – Quantos anos você tinha aí?
R – Eu tinha sete. Aí fui pra outra professora particular que estava na praça, Dona Maria Josita Vieira. Ela é viva até hoje. Ela tinha uma escola em que ela dava aula, era mocinha, recém-formada, e ela dava aula particular em casa pra quem precisasse. Aí, a minha prima que morava ali na praça também, a minha mãe falou com a minha tia e nós duas íamos juntas. Era um horror a gente ir pra escola. Imagina, minha mãe ficava lá em casa de cima, nós andávamos cinco casas pra cá sozinhas pra ir na praça. Ah, que medo (risos)! Eu e ela fizemos o segundo ano ali na escolinha da Dona Maria Josita Vieira. Dali eu fui pra uma terceira escola, era lá embaixo, perto do Seu Isaac, só que descia mais, era uma escola já, chamava Externato Maria Aparecida. Era do Professor Fioravante Módulo e da Dona Nilza, um casal. Lá eu sentava na carteira de dois. Então, lá eu fiz o terceiro ano, tem até uma fotografia, eu recitando pro dia do professor, tudo lá bonito. E aí eu fui pro Grupo Escolar Visconde de Itaúna pra tirar o diploma oficial do estudo e fiz o quarto ano lá. Aí fiquei seis anos parada, esperando meu pai se aposentar pra ir morar no sítio. E não saiu a aposentadoria dele e não fomos pro sítio. Nesse período, eu fiz corte e costura, três cursos de corte e costura – e não gosto de costurar! Fiz datilografia, fiz os cursos do Sesi [Serviço Social da Indústria], enfermagem, arte culinária, bordado. E aí meu primo, esse filho da minha tia que era dois anos mais velho que eu, já estava fazendo o seminário no colégio ali da Domingos de Moraes, o Arquidiocesano. E a minha tia encontrou com meu pai e falou: “Ricardo, a Cléa está em que ano?”. “A Cléa está parada”. Ah, essa minha tia só faltou bater nele! “Você vai deixar a Cléa parada?! Olha, o Hélio já está no seminário e você fazendo essa menina perder tempo, ficar em casa parada, você tem que dar um diploma pra ela, fazer essa menina estudar!” Aí meu pai falou com a minha mãe, a minha mãe: “Bom, se não vai morar no sítio, vamos”. Então, fomos procurar, meio de ano. Fomos ali nos colégios da região, Virgem Poderosa, Colégio Modelo, todos lotados. Tinha inaugurado o Regina Mundi, que era o Sagrada Família, que eles mudaram ali pro Regina Mundi. Aí nós fomos lá, eu e minha mãe. Quando a irmã viu chegar aquela baita mulher querendo fazer o primeiro ginasial: “Ah, mas, nossa, nós não pegamos alunos maiores”. “Não, mas ela está com 17 anos.” “Ah, mas por que parou de estudar?” Passou um sermão na minha mãe! Aí deu uma provinha, eu fiz. “Tá bom, você vai fazer metade do quinto ano só pra constar que fez e já passa pra primeira série.” Quando foi o primeiro dia de aula da primeira série, eu chego lá, aquela classe de crianças que tinha já passado, todo mundo ali. E a irmã, pra ajudar, me incentivar, eu fui sentar na ultima carteira, né? A irmã: “Olha, nós estamos recebendo uma aluninha nova, uma coleguinha de vocês, que ela não pôde estudar, coitadinha, o pai dela não podia pagar escola pra ela”. Eu pensei: “Não é bem esse o caso”. Mas a turminha olhou: “Ahã!”. Como lá no colégio tinha muitas sorores que estudavam lá, eram mocinhas que vinham do Sul principalmente pra fazer o curso de irmã. Então, vinham semianalfabetas lá de baixo. Era gente que estava na lavoura em Santa Catarina. E conheciam, tinha o Colégio Madre Paulina, que ela que era a fundadora da congregação das nossas irmãs. E aí ela treinava lá e depois mandava pra São Paulo, pra elas terem um curso que desse um diploma. E, então, nesse dia, a Refinações de Milho Brasil distribuiu pra classe toda um caderninho que tinha palavras cruzadas, tinha tudo coisinha de entretenimento. Nesses anos todos que eu passei no sítio, não tinha televisão. Eu lia, lia, lia. E meu pai comprava toda semana pra mim a revistinha do Pato Donald, revistinha do Mickey. E umas revistinhas, palavrinhas cruzadas. Eu estava afiada com aquilo ali, que sabia de tudo. Então, as menininhas lá começaram: “Ah, eu não sei fazer palavra cruzada”. Eu falei: “Você não sabe? É assim e assim”. “Olha, ela sabe!” Daqui a pouco a rodinha lá toda em volta de mim, e eu sabendo, quer dizer, graças às palavrinhas cruzadas, eu fiz amizade na classe. Na hora das provas, eu sempre prestava muita atenção na aula, a ponto de, quando eu fazia assim, a professora repetia toda a explicação pra classe inteira, porque sabia que, se eu não tinha entendido, a turma também não tinha. E a turma começou, não tinha entendido tal coisa, vinha me perguntar e eu ajudava. Passava uma colinha de vez em quando também, que não me custava nada! Então, eu virei ídolo na classe. E daquela classe passo pra outra, passou pra outra e eu fiz até a quarta. Mas, quando eu fiz a quarta série, conheci o Gilberto e foi através de uma colega também. Meu pai já tinha falecido, que ele faleceu em 1966. E eu comecei a tocar na fanfarra do colégio, e a Eliana era a minha vizinha lá da praça também. E ela também tocava na fanfarra. Quando a gente ia chegando em casa num sábado, ela encontrou um rapaz na praça, e ele falou: “Eliana, tem ensaio hoje”. “Ah, tá bom, então eu vou.” Ele falou: “Você não quer ir?”. Eu falei: “Aonde?”. “No ensaio do teatro.” Não estava sabendo. “Poxa, você não falou pra ela, Eliana? Tem um teatrinho aqui, nós temos um grupo de teatro amador, a gente faz, estamos procurando gente. Você não quer fazer um teste?” E foi aí que eu falei pra minha mãe. Minha mãe: “Vai, Cléa, pelo amor de Deus, você é enfiada dentro de casa!”. Eu só saía com a minha mãe, a gente ia pra Bragança almoçar lá e voltava, eu dirigindo, só eu com ela. A minha prima, ela morava no Aeroporto de Congonhas, eu ia na casa dela e a gente saía junto. Mas a minha mãe ficava lá esperando eu voltar. Então, ficou assim, sempre muito sozinha. E ali que eu fui fazer o teste, e o Gilberto também era do grupo de teatro amador. Mas ele tinha terminado um noivado e ele me veio contar, contando assim. Nós ficamos amigos, amigos só amigos por dois anos. Aí depois que ele chegou.
P/1 – Antes de a gente chegar no Gilberto, eu queria saber como é que foi virar adolescente.
R – A minha adolescência foi indo pro sítio, eu com minha mãe e meu pai. Os sonhos vinham, eu escrevia alguma coisa, tinha aquela pessoa que você olhava na rua, passava perto da pessoa, te olhava também, mas não chegava e você ficava pensando: “Será que vai dar certo, será que não vai?”. Mas você não saía do seu portão! Então, era muito difícil. Eu passei a minha adolescência em pé no portão, olhando a rua, vendo o mundo acontecer do lado de fora do meu portão. Sábado e domingo, em pé ali o dia inteiro. Aí minha mãe chegava: “Cléa, você não vem comer? Vamos comer”. E comia, lavava o prato, enxugava a louça da minha mãe e voltava pro portão. E, olha, a pessoa passou, hoje não passou. Mas nunca saía do portão. Acho que também, não sei, porque eu tive um tio que se suicidou e a praça ali ficou assim meio... Ah, a casa do homem que se matou! E a gente ficou meio recolhido demais, né?
P/1 – Cléa, talvez pra gente finalizar por hoje, se a senhora se sentir à vontade pra contar, como se deu o falecimento do seu pai?
R – Ah, sim. O meu pai tinha alguns distúrbios de forma de estômago. Ele tinha o estômago invertido, dizia o médico, né? Mas sempre normal, ele não vomitava nem que tomasse sal com café, não vomitava. Dava que nem um soluço nele, mas não vomitava. E, no dia de Natal de 1965, esse meu tio que morava com a minha avó, era solteiro, ele foi à Missa do Galo. Ele tinha mudado de comportamento havia uns meses, ele odiava padres, odiava mortalmente, de se falar de padre, de religião. De repente, ele começou a andar, comprou um São Bento e andava com o São Bento debaixo do braço. Ia à Igreja de São Bento, ficava lá rezando em todos os santos, todos os nichos da igreja de São Bento – isso meu pai que foi atrás e viu. E chegou no dia de Natal, ele falou: “Eu vou à Missa do Galo”. E se arrumou todinho e foi. Meu pai ficou de espreita, ele falou: “Ele está mudando o comportamento, vamos levar ele pro médico”. Mas como ia levar ele pro médico, falar pra ele: “Vamos pro médico porque você tá indo pra igreja”? Aí estavam ele e meu outro tio pensando como que iam fazer. Ele foi à missa, voltou, e meu pai viu ele entrando, meu pai foi lá pra saber como que estava. Ele não atendeu meu pai pela porta, ele abriu só a janela do banheiro e falou: “Ah, Ricardo, eu fui à missa, foi tão linda, mas tão linda que eu transpirei. Olha, eu estou suando tanto que eu não vou abrir a porta, porque eu posso pegar até um resfriado. Eu agora vou tomar um banho e vou dormir. Amanhã a gente conversa”. Meu pai: “Então, tá bom”. E voltou pra casa. No dia seguinte, porque a gente não fazia ceia de Natal em casa, era de manhã no dia 25, ia lá, levava um cartãozinho pra minha avó, pro meu tio, dava um bom Natal e tudo bem. Fazia um almoço talvez, depois. Conforme eu cheguei lá, eram umas nove e meia mais ou menos, eu fui dar o bom Natal pra minha avó e eu escutei um barulho estranho no quarto dele, que eram dois quartos, o dela e o dele, que davam pra sala. Nós estávamos na sala, ouvimos um barulho. Eu falei: “Nonna, que barulho é esse?”. Ela falou assim: “Não sei, desde que eu levantei que eu estou escutando esse barulho. Vai chamar seu pai que eu acho que o Américo não está se sentindo bem”. Quando eu fui chamar meu pai, meu pai estava se barbeando. Ela abriu a porta do quarto: ele tinha esfaqueado a jugular! Fez uma carta, que Deus o havia chamado, e ele tinha que ir. E ele pegou uma faca velha e afiou a faca no esmeril, bem afiadinha e tudo, e tentou várias vezes. Deitou na cama e estava todo picotado, até que achou a veia, cortou, tirou a faca, pôs no chão, e o sangue ensopou o quarto. Aí ele fez assim e dormiu. Então, a essa hora da manhã, o sangue estava coagulado tapando o buraco. Minha avó abriu a porta, viu aquela cena: “Ricardo, pelo amor de Deus, vem ver o que o Américo se fez!”. Meu pai saiu ensaboado ainda, chegou lá no quarto: “Ah, meu Deus, Américo, o que você fez? Quem fez isso, quem fez isso?”. “Ele abriu os olhos e falou, fui eu. Eu escrevi, está aí na carta”. Meu pai abaixou, pegou a carta. “E a faca está aí também.” A faca estava em cima da carta. Meu pai pegou a faca, pegou a carta. “Mas não se mexe!” Ele viu que começou a vazar o sangue. “Não se mexe que eu vou chamar o médico!” “Não, se chamar o médico, só se for pra acabar de me matar. Deus me chamou, eu preciso ir.” Isso, nove e meia, dez horas da manhã. A missa de Natal na praça, do outro lado da praça, na igreja, terminando. Disco de sinos bimbalhando, e o povo saindo da missa e uma viaturinha da polícia, daqueles fusquinhas laranjinha e preto, parada na praça. A minha avó gritava, saiu gritando, gritando no quintal. A polícia veio ver o que era. Entrou no quarto, viu o meu pai com a faca na mão sujo de sangue. “Esteja preso!” A sorte é que o vizinho da outra casa também tinha ouvido gritar, veio correndo e falou: “Não, eu vi, está escrito na carta”. E eles leram ali e tudo e liberaram o meu pai. Mas nisso tudo, o sangue... Meu pai: “Chama a ambulância, chama a ambulância, não se mexe, Américo!”. Mas ele morreu ali na cama mesmo. Isso foi dia 25 de dezembro de 1965. Meu pai foi assistir à autópsia dele pra ver se ele tinha alguma doença. Pensou: “Quem sabe ele tem um câncer e não quer dizer?”. Perfeito, perfeito, perfeito. Houve o sepultamento e tudo. De repente, meu pai começou a sentir problemas, evacuar preto com hemorragia intestinal. Aí vai no médico, parari, parará. Opera. Ele operou, ficou 45 dias operado, tiraram três quartos do estômago, tiraram o pâncreas, devia ter tido um câncer, né? Com esse choque todo que ele levou. Mas o médico deu a causa mortis uremia. E o meu pai agonizou. Eles resolveram operar de novo, porque eles deram uma coisa pra ele tomar, porque não estava abrindo o canal da operação, imagina só! O estômago costurado e entupido. Aí deram uma xícara de chá pra ele. Aquela xícara de chá se transformou num balde de líquido! Eu vi a barriga dele subir assim e ele: “Ai, ai, ai!”. Aí puseram a sonda gástrica, encheu o balde de líquido lá de dentro com sangue. O médico falou: “Nós vamos tentar abrir de novo, mas não é garantido”. Abriram ele no dia seguinte às dez da manhã. Quando foi dez da noite, ele estava morto. Ele foi pro quarto aberto, nem fecharam! E era dia 25 de julho. Quer dizer, no mesmo dia, sete meses depois, meu pai foi atrás do irmão. E essa minha avó perdeu dois filhos um atrás do outro e ela falava: “Não há mistério que não se descubra. Eu ainda vou saber por que que o Américo fez isso”. Ela morreu e não ficou sabendo. Acho que agora ela já está sabendo.
P/2 – E você tinha quantos anos aí?
R – Foi em 1965, eu estava com 19. É, meu pai morreu, eu ia fazer 20.
P/1 – E como foi, ficaram vocês duas?
R – Eu e minha mãe e a minha avó sozinhas. Aí a minha avó queria vir morar com a minha mãe. Mas minha mãe dizia: “Dona Zenaide, se o Ricardo estivesse aqui, ele é seu filho. Mas eu sou a nora, eu vou cuidar da senhora, e seus filhos, como é que tá? Vão dizer que está querendo... Sei lá!”. Então, ela começou um mês na casa de um, não dava certo, aí no outro, não dava certo. Até que ela foi acabar, morreu nos braços da filha, que elas não se topavam, e ela morreu no colo da filha, chamando a filha de mãe. Mas ela morreu em 1974, eu já tinha até tido o segundo filho. Mas foi assim. Essa morte foi a primeira vez que você estava ali, aquela praça inteira era a família. De repente, a polícia entrando dentro da casa da sua avó, suspeitando do teu pai. Mexe com a gente, né? Então, tudo isso. Desde o incêndio do sítio, esse fato. Depois eu caso, tiveram uns problemas também, e logo em seguida já tive minha filha, depois o meu filho do meio, depois o meu outro filho. E depois a minha mãe veio morar comigo. Depois minha mãe morreu, veio minha sogra com meu sogro, cuidei da minha sogra nove meses, ela morreu. Aí fiquei com meu sogro mais sete anos, ele morreu. E o Gilberto ficou doente, e eu cuidei dele 11 anos. E ele morreu. Então, eu acho que minha vida é cuidar, né? É cuidar.
P/1 – Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e, na próxima vez, a gente começa falando do encontro com o Gilberto e daí pra frente, pode ser?
R – Pode.
P/1 – Então, muito obrigada por esse primeiro momento, obrigada mesmo. E vamos continuar então no próximo dia.
R – Tá bom, eu que agradeço.
-----------
Projeto Conte Sua História
Depoimento de Cléa Magnani Pimenta
Entrevistada por Carol Margiotte e Nori Navarro O. Marchini
São Paulo, 15/08/2018
Realização: Museu da Pessoa
PCSH_HV676_Cléa Magnani Pimenta_parte 2
Transcrito por Márcia Rocha de Almeida
Revisado por Viviane Aguiar
P/1 – Dona Cléa, boa tarde.
R – Boa tarde.
P/1 – Seja bem-vinda de volta.
R – É um prazer, viu?
P/1 – E a gente parou, na nossa primeira conversa, quando a senhora conheceu o Gilberto. Tudo bem se a gente já embarcar nessa história?
R – Vamos!
P/1 – Pode ser? Então, vamos.
R – Então, eu tinha 20 anos e nunca namorei ninguém. Eu vivia como uma donzela enclausurada só que não era na torre do castelo, era num sítio que o meu pai tinha comprado e a gente passava os fins de semana, as minhas férias. Desde os sete anos até os 16 anos, passei fazendo essa vida. Aí, quando eu já estava, eu tirei o diploma do Grupo Visconde de Itaúna com 11 anos, era o diploma do quarto ano primário. Depois disso, se fazia o exame de admissão ao ginásio, três anos de ginásio e depois ia pro colegial ou pro científico ou pro técnico. Eram três categorias. Ou fazia o curso normal, que era o destino de todas as senhoritas condizentes com o papel de senhorita! Mas, como a minha família era muito diferente de tudo, como meu pai tinha comprado o sítio e nós passamos a ir pro sítio, quando eu tirei o diploma do grupo com 11 anos, o meu pai falou: “Olha, vamos fazer o seguinte, eu estou pra me aposentar” – ele estava com 32 anos de trabalho na Light. Disse assim: “E, se eu me aposentar, vocês gostam tanto do sítio” – a minha mãe adorava o sítio, não tinha luz, água a gente tirava com a bombinha assim – “Mas nós vamos morar no sítio e aí a gente põe todas as melhorias”. Tinha geladeira a querosene, tinha um monte de coisa pra poder trazer a modernidade pro sítio. “E você começa a estudar em Bragança ou em Atibaia. Vai de trem de manhã e volta na hora do almoço, vai dar certo pra você fazer. Você quer?” Imagina, eu estava adorando o sítio, eu ia falar que não? Minhas colegas continuaram estudando, minha prima, e eu fiquei esperando o meu pai se aposentar. Mas mudou a lei e aí não era mais com 32 anos que se aposentava e sim com 35. E, se ele se aposentasse com 32, ele iria perder uma boa parte do seu salário. Então, ele decidiu que não iríamos mais morar no sítio, mas não me falou nada. E eu lá esperando. Eu era uma pessoa, filha única, meus pais já eram mais velhos do que os pais das minhas amigas, eu não tinha amigas, só tinha uma prima que morava no vizinho. Minha prima tinha mudado pro Aeroporto de Congonhas ali, pra um bairro do Aeroporto de Congonhas, Campo Belo. E nós tínhamos uma casa ao lado dela lá, meu pai construiu um sobrado na esquina e todos os funcionários da Light construíram ali, que era um terreno da Caixa de Aposentadoria da Light. Esse meu tio construiu ao lado e ele foi morar pra lá com a família toda. E meu pai não queria morar lá, ele falou: “Essa casa, deixa ela aí, fica aí pra um dia que a Cléa se casar, qualquer coisa, ela vem morar aí”. E nunca alugou, nunca vendeu, nunca emprestou. Quebravam todos os vidros da casa, ele ia lá e punha todos os vidros de novo, e ficou lá. E nós morando na Vila das Mercês e pretendendo ir pro sítio. Aí, não vai, não vai. Eu ficava o dia inteiro em casa, eu mexia com as plantas com a minha mãe no quintal, que minha mãe parecia... Fuçava aquele quintal que era uma coisa! E arrumava galinha e arrumava coelho e arrumava pato, e tinha codorna, e era marrequinho nascendo toda hora, era um negócio! E eu lá passando a vida. Aí, tínhamos uma vizinha que ensinava corte e costura, ela era costureira, fui fazer um curso de corte e costura. Acabei aquele curso, minha prima falou: “Olha, tem uma outra pessoa aqui perto que ensina um outro método de corte e costura”. “Oba, então vamos lá fazer!” E fui fazer outro curso de corte e costura. Depois: “Ah, tem um curso de datilografia”. “Então, vamos fazer o curso.” E ela fazia isso e fazia a escola também. Depois mudou lá pra Campo Belo, foi pro ginásio de lá. E eu fiquei ali vendo a banda passar! Eu já estava com 17 anos e não tinha estudado nada, além de tudo que eu lia, que eu lia muita coisa. Tudo que me caía na mão, eu lia e guardava na memória, tinha facilidade de aprender. Mas eu não tenho diploma de nada, a não ser do Grupo Escolar. Não, tem do ginásio também, porque depois foi! Aí, o meu pai encontrou com uma irmã dele que tinha um filho só também, meu primo. E meu pai encontrou com ela na Light, e ela falou: “E aí? O Helinho” – que era meu primo – “já está no seminário”. Ele estudou naquele colégio grande que tem ali na Avenida Jabaquara. “E ele está fazendo seminário, vai ser padre. E a Cléa?” Meu pai disse: “A Cléa está lá, ela não está estudando nada”. Ela quase bateu nele! “Mas como é que você, com uma filha única, com a capacidade que ela tem, você não está aproveitando?” Aí, meu pai chegou em casa e falou: “Escuta, você quer estudar?” Eu falei: “Quero”. Mas eu não pedia, eu não tinha noção! A gente não tinha televisão, não tinha nada assim pra ter ideia, não tinha amigas. Aí, eu falei: “Quero”. Então, minha mãe saiu comigo no dia seguinte e fomos em todos os colégios da região pra saber se tinha vaga. Era meio de ano, no São Vicente de Paula não tinha, no Virgem Poderosa, no outro colégio Metodista também não tinha. Até que alguém falou: “O Sagrada Família ali da Nazaré está inaugurando um colégio novo na Via Anchieta, se chama Regina Mundi. E estão inaugurando agora, quem sabe se eles aceitam?” Então, lá fomos nós, eu e minha mãe, porque eu desde os 13 anos que tinha esse tamanho, minha mãe era pequenininha. Chegamos lá, a irmã falou: “Pois não, o que a senhora deseja?” “Ah, eu queria ver se tem uma vaga pra minha filha.” “Ah, sim, quantos anos ela tem?” “Ela tem 17.” “Mas como, essa é sua filha? Ah, não, nós não temos educação de adulto!” Minha mãe disse: “Mas não é educação de adulto, ela fez até o quarto ano e agora queria fazer o curso ginasial”. Ela olhou, fez umas perguntas lá pra minha mãe e me mandou fazer um pequeno testezinho ali, conversou um pouquinho comigo e disse assim: “Não, está bom. Você tem namorado?” Eu falei: “Não, nunca namorei na vida.” “Nunca?” Falei: “Não, nunca namorei na vida!” “Ah, então está bom. Você vai fazer metade do quinto ano e vamos ver como é que você se comporta.” Eu me comportei tão bem, que passei pra primeira série sem exame, sem nada, fechei a matéria toda, em setembro já estava tudo fechado! E aí eu comecei a fazer o ginásio no Regina Mundi. E eu tinha uma colega, vizinha da minha mãe, que estudava no Regina Mundi. E nós duas tocávamos na fanfarra, e os ensaios eram de sábado. Então, num sábado, nós vínhamos a pé do colégio até em casa, depois do ensaio da fanfarra, quando chegamos na Praça André Nunes, onde eu morava e morei a vida inteira, vinha vindo um rapaz. Ele falou: “Oi Eliana” – que era a minha amiga – “Hoje vai ter ensaio, você vai?” Ela falou: “Vou sim”. Ele falou pra mim: “Escuta, você não vai?” Eu falei: “Ensaio do quê?” “Do teatro!” “Teatro? Imagina, o que é isso!” “Você não sabe que nós temos um grupo de teatro aqui?” Eu falei: “Não, não sei, não”. “Vai lá, vamos fazer o ensaio, vai ser na minha casa o ensaio, lá embaixo, número tal.” Era uns 50 metros longe de casa. Eu falei: “Ah, está bom. (Eu vou em ensaio de teatro coisa nenhuma!)” A minha família era toda avessa a qualquer coisa de manifestação pública, né? Aí, cheguei, falei pra minha mãe, minha mãe falou: “Mas vai, minha filha, pelo amor de Deus! Desde que o teu pai morreu que você está aí encalacrada dentro de casa”. Eu usava as roupas do meu pai, usava as camisas do meu pai, as blusas de frio do meu pai. Eu era grande e, pra minha mãe não se sentir tão desesperada com a morte dele, eu fui dormir na cama dele, no quarto junto com ela. Eles dormiam em camas separadas, e eu fui dormir junto. Até que eu tive uma febre muito grande e senti duas mãos me empurrando pra fora da cama. E, aí, minha mãe falou: “Sai do quarto, volta pro teu quarto!” (risos) E tive também outras vezes que eu sonhava que o meu pai estava no caixão, morto, e ele na igreja, ele punha as pernas pra fora e me pegava pela mão e saía, ia por uma porta que tinha do lado da igreja assim, com a luz entrando, a igreja toda escura, e ele me punha pra fora. E a minha mãe falou: “Seu pai está querendo que você saia de perto dele, deixa ele em paz, vai pro seu quarto!” Bom, então, ela me botou fogo pra eu ir pro ensaio do teatro. E, nesse ensaio, chego lá, esse rapaz se chamava José, era o diretor do grupo, eles começaram a comentar: “O Gilberto ainda não veio, o Gilberto vem?”, não sei o quê. Daqui a pouco, lá vem o Gilberto, um rapazinho, não era muito alto, meio gordinho. Eu olhei, ela disse: “Ah, você vai ser a secretária do grupo, você vai fazer as fichas de todo mundo”, que eles tinham parado um tempo, estavam recomeçando. E lá fiz eu a ficha. Quando ele viu o meu nome, ele falou: “Nossa, Cléa, manhãs de sol!” – que tinha uma peça chamada Manhãs de sol. Aí, o José falou assim: “É, e você já viu o sobrenome dele? Pimenta!” Eu falei: “Cada um tem o nome que tem, né?” E ele ficou brabo que o outro falou que ele chamava Pimenta. Bom, ele tinha sido noivo, tinha desmanchado o noivado há uns meses atrás e estava no teatro. E nós ficamos amigos por dois anos. Amigos, amigos mesmo, que ali, no grupo, ninguém namorava ninguém, éramos todos amigos. A gente fazia uma festinha na casa de um num sábado e saía depois da festinha, às dez horas acabava a festinha, saía todo mundo pra levar os que moravam mais longe, o grupo todo. Andava na rua e não acontecia nada, era uma beleza! E, aí, depois de dois anos que a gente estava junto, um dia aconteceu de a gente se olhar e ver que não era só amizade. E aí a gente começou a namorar.
P/1 – Mas como que vocês descobriram esse sentimento, teve algum momento?
R – Da minha parte (risos). Foi engraçado porque tinha uma outra menina que entrou no teatro depois, e ela começou: “Ah, porque o Gilberto é lindo, porque o Gilberto é lindo!” E aquilo me incomodava! Eu falei: “Ué, por que eu estou tão incomodada assim?” Eu via outras pessoas, tirava linha, como a gente falava naquele tempo, mas nunca namorei com ninguém, nunca ninguém chegou no meu portão pra namorar comigo. E eu achei meio chato de ela ficar insistindo assim. Ela era uma pessoa meio irregular, tanto que depois casou com um, desmanchou, casou com outro, era uma vida assim. E eu já achava que ela era meio esquisitinha, eu achei meio chato de ela fazer aquilo, até fiquei pensando: “Será que eu estou gostando do Gilberto?” Ele era o galã da companhia, as meninas babavam por ele e eu entrei na pecinha fazendo uma comédia com uma outra pessoa, era uma coisa bem diferente, nunca participei. Eles faziam peças sérias mesmo. E um belo dia ele passou em casa, na véspera tinha vindo um amigo, esse José, e ele ficou conversando comigo horas e horas e horas e não falava nada. Ele dizia: “Tem uma coisa que eu quero, mas tem outra pessoa que também quer. Mas o que eu me divirto é que essa outra pessoa também não vai conseguir o que ela quer, porque não sei o quê”. Eu falei: “Mas do que você está falando?” “Não, são uns devaneios da minha cabeça!” A minha mãe falou: ”Cléa, esse cara aí está querendo te paquerar”. Eu falei: “Imagina!” Depois eu fui descobrir, ele era até gay! Mas naquele tempo era um escândalo, né? Aí, no dia seguinte, ele passou lá em casa, o Gilberto, e falou: “Ah, eu queria falar com você”. E ali que a gente foi conversando, eu falei: “Nossa, será que ele tinha falado alguma coisa pro outro e o outro, né?” Nunca perguntei também. E a gente começou a namorar ali. E, depois, nós ficamos dois anos namorando. Aí, num Natal – eu faço aniversário dia 29 de dezembro –, no Natal ele me deu um relógio. E no dia 29 de dezembro, eu fiz um bolinho pra família em casa ali. E ele veio também, vieram os meus primos, que eu só tinha primos e tinha um rapaz que me conhecia lá do Regina Mundi, que ele fazia serviços gerais pro Regina Mundi, e a gente ficou amigo. E ele veio no meu aniversário também e me trouxe um champanhe de três litros. Na hora de abrir o champanhe, eu não conseguia abrir. E eu tinha um primo que era mecânico de automóveis, então, ele pegava um parafuso apertado e soltava assim, né? Eu falei: “Zé Ricardo, abre aqui pra mim”. O José abriu, tomamos o champanhe, e o Gilberto não me olhou mais na cara e ficou enfezado o resto da festa. Chegou de noite, fui conversar, falei: “Por que você está estranho?” “Não, quando você quiser dar as suas champanhes pra outros rapazes abrirem, aí a gente vai procurar conversar!” Eu falei: “Mas você está agindo assim por quê?” “Não, por nada.” Eu falei: “Você quer terminar?” “Você que sabe!” Eu tirei o relógio e falei: “Então, está aqui ó, pode ir embora!” “Eu já sei pra quem eu vou dar esse relógio!” “Ah, faça bom proveito!” Chorei que nem uma vaca “véia” lá pra dentro de casa, mas ninguém viu, né? (risos) Isso foi no dia 29 de dezembro. Dia 10 de janeiro, eu saí com a minha prima, fomos no cinema e, quando voltei, ele estava na minha casa, de tarde, vimos o carro dele lá. Ele já tinha estado na minha casa de manhã, sozinho, minha mãe pôs ele pra correr. Ele foi buscar a mãe dele, veio com a mãe dele... Veio com o pai dele, minha mãe pôs os dois pra correr. E ele voltou com a mãe dele de tarde, que foi a hora que eu cheguei. Aí, a minha sogra falou: “Ah, Dona Rosa, deixa eles conversarem, quem sabe eles se entendem?” (risos) Aí, voltamos, eu falei: “Agora eu só quero uma exigência. Primeiro que você mude todo esse seu comportamento de narizinho pra cima pra mim que isso não funciona. E, segundo, eu quero meu relógio de volta!” Eu tinha marcado o relógio, eu falei: “Eu quero de volta”. Ele falou: “Não, está aqui!” Não tinha dado pra ninguém (risos). E dali a gente casou-se.
P/1 – E, ainda no começo do namoro, teve um momento em que alguém se pediu em namoro, como que foi esse momento de oficializar o início dessa relação?
R – Foi assim dentro da minha sala ali: “Eu queria falar com você”. “Então, fala.” “Não, mas hoje não, eu venho falar outro dia, porque não é o momento.” “Ué, se não é o momento, por que você começou? Começou, acaba!” Aí, começamos assim até que ele falou: “É que eu estou vendo você de uma forma diferente e tudo, e você fica na minha cabeça. Eu vou trabalhar, você fica lá na minha cabeça”. Aí, a gente começou a namorar assim, não tivemos assim nenhum momento romântico maravilhoso como gostaríamos que fosse! (risos)
P/1 – E quando foi o primeiro beijo?
R – Ali mesmo, nesse dia mesmo. Ele me pediu licença pra me beijar. O segundo também ele me pediu licença. Eu falei: “Ó, se você vai pedir licença pro resto da vida, é melhor eu já te fazer um decreto: ‘eu aprovo!’ Que saco!” (risos).
P/1 – (risos)
R – Tem que ficar pedindo licença? Que coisa! (risos)
P/1 – E sua mãe já conhecia ele, né?
R – Sim, já conhecia.
P/1 – E como foi apresentá-lo como namorado pra sua mãe?
R – Ah, ela gostou, porque ele era uma pessoa muito legal, era muito correto, alegre. Era, depois virou. Nesse tempo do narizinho pra cima ficou meio chato! Mas depois voltou. Então, se davam muito bem, muito bem mesmo. Depois de casados também, eles se davam bem. Até a época que ela veio morar comigo, que ela ficou doente, eu sou filha única, e a gente vendeu a casa que era minha e dela e compramos uma casa que a gente mora até hoje e fizemos mais um quarto pra minha mãe vir morar junto. E ali ela já estava com problemas cardíacos, e o médico tinha dado dois meses de vida pra ela e ela viveu sete anos, graças a Deus. E ela, às vezes, ela não aguentava de vontade de comer comida com sal. Ela não podia comer com sal nenhum, então, eu fazia bife, aquele cheirinho de carne, e ela: “Ah, que vontade!” Então, às vezes, as crianças estavam comendo e não queriam comer mais, ela vinha ajudar: “Come, come bem, come!” E a criança: “Ah, não quero mais, vovó”. Ela pegava um pedacinho daquele bife e comia. Ele ficava muito bravo, mas não com ela. Ele saía da mesa e depois ia ficar brabo comigo. E eu ficava muito nervosa, porque eu falava: “Por que você faz assim? Ela não está fazendo por mal, ela não pode mais comer! Ela está no fim da vida”. Mas aí depois eu começo a pensar, já era um problema dele, já nesse tempo. O Gilberto, eu acho que ele deve ter o Alzheimer, deve ter tido nele desde... Porque era hereditário, o avô dele teve e o primo dele também, da idade dele.
P/1 – Qual idade?
R – Quarenta e nove anos ele tinha quando começou a mudar de comportamento. Quer dizer, quando eu notei, que minha filha falou que ia se casar e não tinha nada pra se casar, ele falou: “Ah, que legal! Mas você viu a viagem que nós fizemos, que maravilha!” Então, ele já não prestou atenção. Pra ele já não estar prestando atenção ali, com 49 anos, ele já estava mudando desde essa época de brigar com a minha mãe. De brigar não, de reclamar pra mim dela. Mas eu nunca levei nem um contra o outro, nem o outro contra um. Ficava ali, porque eu não queria fazer um escândalo dentro de casa. E tudo isso reverteu na minha fibromialgia. Minha mãe veio morar em nossa casa em 79, meu filho estava com um ano e meio, o último filho. E em 80 eu já passei por um médico que disse que eu precisava mudar de vida, porque aquelas dores todas que eu estava sentindo, ele não usava esse termo ainda, fibromialgia, mas ele disse: “Todas essas dores que você está tendo são de cunho emocional. Você tem muita preocupação?” Eu falei: “Tenho três crianças, meu marido estava desempregado nessa época, minha mãe veio morar com a gente, ela está doente, eu cuido dela, cuido das crianças. Tenho um cachorro ‘endemoniado’ que me dá um trabalho danado”. Ele falou: “Ah, você precisa tirar umas férias, vai pra Fortaleza, fica lá um mês, depois você volta”. Eu falei: “Ah é, eu volto e aí você me paga todas as minhas contas!” Que eu sozinha comecei a bordar pra fora, fazer camisetas bordadas com uma vizinha, pra segurar as pontas. Até que ele arrumou. Ficou acho que dois meses desempregado. E trabalhando em outras coisas menores também, mas não estava dando pra segurar as pontas, né? As crianças em colégio particular, então, estava difícil. Mas eu tinha feito uma inscrição no Mobral, pra dar aulas pro Mobral. Tinha saído um edital no jornal, e ele falou pra mim: “Por que você não faz inscrição pra isso? Você tem jeito pra ensinar”. Eu fiz. Fiquei seis anos esperando, já nem acreditava mais. Ele ficou desempregado, veio o chamado do Mobral. Quer dizer, Deus está sempre no meu caminho, sempre! Por isso eu não me desespero com nada, porque eu digo: “Se ele me colocou aqui é pra eu ser feliz”. Então, se não está indo muito bem, eu preciso ver se eu estou fazendo alguma coisa errada e eu vou lutar que eu vou conseguir. E foi assim, eu comecei a bordar camiseta, minha amiga era evangélica, na igreja dela trocava de roupa todo culto, então, eu fazia as camisetas bordadas com lantejoulas, ficavam lindas mesmo. Ah, vendi tanta camiseta pra lá! (risos) E depois fui entregar essas camisetas numa loja, mostrar numa loja do shopping Ibirapuera, e, na loja, a pessoa falou: “Essas eu não quero, mas você faz meia bordada de criança?” Eu falei: “Não sei, que tipo de meia?” Nunca tinha feito, imagine, minha filha menina, eu fazia as roupinhas pra ela, mas não meia bordada! Meia era meia, punha no pé e acabou! Ela me mostrou uma assim: “Olha, tem rendinha, tem os bordadinhos do lado”. Eu falei: “Eu não vou fazer igual a essa, porque eu não copio nada de ninguém. Mas eu vou fazer um modelinho”. “Ah, faz.” Eu não tinha dinheiro pra comprar dois pares de meia. Eu comprei um par de meias e fiz um modelo de cada lado do par, fiz quatro modelinhos diferentes e levei pra ela. Ela falou: “Eu quero 20 dúzias pra quarta-feira”. Ela pensava que eu já tinha uma empresa de meia, né? Eu falei: “Olha, eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo de uma vez, porque é feito à mão”. Tinha que pôr rendinha, tinha que fazer o bordado, com lantejoula, com miçanga, tinha que fazer as rosinhas de fita. Ela falou: “Não, faz assim, me entrega meia dúzia de cada e meia dúzia de cada”. Eu falei: “Aí sim”. Cheguei em casa e falei: “Gilberto, peguei uma encomenda de 20 dúzias de meias!” Eu não tinha dinheiro pra comprar! Ele falou: “Não, vamos fazer assim, vamos comprar. Eu dou um cheque e a gente vai conseguir”. Aí, chegamos lá na 25 de Março, compramos 20 dúzias de meia e viemos no ônibus com aquele pacotão de meia! E eu peguei, aquela noite mesmo, e taca fazer meia, fui até duas horas da manhã fazendo meinha. Aí, quando eu estava no auge de fazer isso aí, que eu consegui entregar, graças a Deus, me pagava com cheque de terceiros pra 45 dias, 60 dias, cheque que voltava. Mas não faz mal! Aí, ela começou a querer as meias combinando com a gravatinha de crochê que eu também fazia. Só que a linha da gravatinha tinha de todas as cores, a rendinha da meia não tinha. Estavam saindo as cores cítricas, rosa-shocking, verde limão, aquele roxo batata, da batata-doce. E, pra conseguir, eu tingia as rendinhas. Então, eu preparava 100 metros de rendinha, desfazia tudo aquilo, preparava a tinta em cima do fogão, fazia o teste, esperava secar. Ficou da cor da linha? Ficou. Então, agora misturo o resto da proporção pra ficar igual. Ficou? Ficou. Jogava as rendas tudo lá dentro, na pia da cozinha lavando todo aquele monte de renda, estendia aquela macarronada no varal e ficava secando. Quando meus filhos chegavam da escola, antes de fazer a lição: “Vamos me ajudar a enrolar renda!” Por isso que eu sei enrolar mangueira, porque tem que dar três voltas com uma mão e três voltas com a outra, porque ela faz assim. Mas, pra eu saber isso, eu enrolei muita renda. Desenrolar aquela paçoca de rendinha. Mas no fim das contas deu certo, graças a Deus, abri uma empresa e comecei a fazer meias bordadas.
P/1 – Como chamava a empresa?
R – Par Bordados, P de Patrícia, A de Alexandre e R de Renato. E “par de meias” também tinha a ver, né? Tinha etiquetinha, tinha tudo arrumadinho! Tinha nota fiscal, tinha tudo. Até que um vendedor que era o único que vendia pra mim, ele me descobriu. Numa loja que ele entregava meias, que ele vendia da Selene, ele era primo do dono da Selene. Ele vendia as meias da Selene ali nos atacadistas do Brás, aquele Oceano, Toyo Tex, tudo loja enorme. E ele viu uma meinha minha numa lojinha da Vila Mariana, que eu vendia só na regiãozinha ali, meia dúzia pra uma, três dúzias pra outra. Chegou lá e perguntou: “Quem faz essa meia?” Deram o meu nome, ele veio me procurar e falou: “Eu quero vender suas meias”. Então, ele ganhava 7% da meia que ele vendia da Selene pra mim e ganhava mais 10% em cima da meia que vendia de mim, bordada. E ele trazia o pedido e ele entregava a meia bordada, e recebia o dinheiro e me trazia os cheques. Um belo dia veio um cheque de 100 reais a mais. Naquele tempo que o real valia um cruzeiro, era um dinheirão! Aí, nós falamos pra ele, o Gilberto me ajudava nessa época, ele era muito bom em contabilidade. Ele disse: “Olha, estão sobrando 100 reais”. Aí, ele falou: “Nossa, que distração! Olha, que bom a senhora devolver, porque eles vão, nossa, ela vai ficar muito agradecida à senhora”. Devolvi os 100 reais pra ele, pra ele devolver lá pra loja. No segundo mês, ele chegou lá, eu falei: “Como é? Devolveu o cheque?” “Cheque?” “É, da Toyo Tex lá que veio.” “Ah, sim, devolvi, nossa, ela ficou muito agradecida!” E as vendas começaram a cair. Ele veio em casa e falou assim: “Olha...”. Isso aí, ele trabalhou com a gente quase dez anos, a gente trabalhou com as meias. Fazia uns sete anos já que a gente estava trabalhando junto. Ele disse assim: “Olha, eu descobri hoje uma coisa maravilhosa, vai ser exportado pra Portugal! Então, me faça de hoje pra amanhã três modelos simples e baratinhos pra gente estourar a boca do balão. A senhora vai ter que mudar o seu esquema de fazer meia aqui pra ter meia pra todo mundo”. Está bom. Eu passei aquela noite que nem uma louca, porque não é criar um modelo e acabou, você tem que fazer o custo e vai ver quanto que você vai pagar pra quem vai fazer pra você também, pra ver quanto que vai custar uma meia. E eu fiquei trabalhando e fiz lá os três modelinhos que ele quis. Seis e meia da manhã, ele bateu na porta: “Tá aqui”. “Qual o preço?” “O preço é esse aqui.” “Está bom, está bom.” Sumiu. Ficou ali, não veio mais na outra semana, não me ligou mais, na outra semana também não. Até que eu falei: “Poxa vida, e aquele pedido?”. “Pedido?” “É, o de Portugal.” “Ah, então, essa gente não quer pagar nada, Dona Cléa. Eles ficaram até com aqueles modelos lá, eles falaram que não querem fazer, não, que isso é porcaria, eles não quiseram nada. Era só papo!” “Tá bom. E os modelos ficaram lá?” “É, eu vou passar lá essa semana e vou ver se trago pra senhora as meinhas.” E trouxe as meinhas encardidas, encardidas, que se via que tinham mexido, mexido, até a rosinha estava desmanchada. Aí, eu tinha uma empregada que resolveu ter uma experiência sexual uma vez só e ficou grávida, olha que coisa absurda. Ela saiu com o primo dela no Carnaval e foi só uma vezinha. Já fazia cinco meses, ela estava com o barrigão desse tamanho, ela era baixinha, usava as minhas roupas, que eu dava pra ela. Um dia, ela chegou, se espreguiçou na porta da cozinha: “Maria, que barriga é essa?” “Ah, não é nada, não, eu já estou tirando!” Eu falei: “O quê?!” “É, já estou tirando.” Dois salários que ela pediu pra mim anteriormente, que eu punha tudo na poupança pra ela. Ela me pediu dois salários que ela queria comprar uma coisa. E eu dei. Ela estava pagando um farmacêutico pra aplicar Cytotec nela pra ela perder o nenê! Eu fiquei ligeiramente furiosa com ela. Falei: “Olha aqui, se você provocou, você vai assumir. Esse filho vai ser a sua salvação quando ele for adulto. Você vai ter esse filho. Nós vamos arrumar isso aqui, você vai ter”. Fiz o pré-natal dela, fiz o enxovalzinho dela, levei ela pra ter o nenê na Casa Maternal dali da Vila Clementino. Ela fez cesárea, que ela já tinha uma certa idade, teve a Carolina. Ah, menina bonitinha! Era uma gracinha. Aí, ela viajou, foi lá pro Norte visitar, mostrar a criança lá pros pais dela. Mas, antes disso, deixa eu não desviar muito, eu fui fazer o enxovalzinho pra menina. Quando ela ficou grávida, eu fui lá no Brás. Falei: “Deixa eu ir lá no Brás ver o enxovalzinho mais barato”. E estou lá olhando uma loja, falei: “Nossa, eu estou na loja que ele vende! Deixa eu ver”. Fazia dois meses que ele não fazia pedido nenhum pra mim, a prateleira cheinha de meia bordada. Eu cheguei lá, abri a caixinha, uma caixinha amarela, a minha era azul. Com o meu modelo lá dentro, aqueles três modelinhos que eu tinha feito baratinho, baratinho! Ele deu todas as meias pra fazer pra irmã dele, ela abriu uma empresa de meias bordadas que existe até hoje, se chama Brando. Se vocês forem qualquer dia na 25 de Março, entra no Rei dos Armarinhos ali, Casa São Jorge, que vende meias, está lá: Meias Brado. Mal feitas! Ó, se fosse bonitinha, eu nem me importava. Mas muito mal feito, muito mal feito! Aí, eu voltei pra casa, não falei nada. Quando ele veio trazer pedido, trouxe lá uma merrequinha de pedido, eu falei: “Que engraçado, Seu Debrando, não estão comprando mais naquela loja que o senhor vende?” “Não estão, Dona Cléa, está todo mundo na ruína, com esse negócio de um dinheiro novo aí, está horrível, ninguém compra mais nada!” Eu falei: “É? Só que eu achei as meias lá e elas estavam numa outra caixinha. Por que o senhor está fazendo minhas meias?” “Quem mandou a senhora ir fuçar lá agora? Por que a senhora foi? Não, aquilo lá foi um modelo, tinha sujado as suas caixinhas e eu pus em outra!” Eu falei: “Para de falar besteira, Seu Debrando! O senhor está me roubando, lá tinha mais de 200 dúzias de meias”. Eu entregava 150 dúzias de meias para aquela loja. Parava o caminhão da Lupo na minha porta e o caminhão da Selene, toda semana. Descarregava meia que eu enchia a minha casa de caixas de meia. E tinha gente trabalhando, e eu levava meia pra trabalhar fora de São Paulo, pessoas que não podiam sair ficavam em casa fazendo. Teve gente que comprou televisão a cores naquela época com a meia, teve outra que arrumou o muro da casa que estava caindo. Então, eu tenho amigas lá que me consideram demais e eu considero também, porque elas me ajudaram muito também. E ele, então, querendo passar por cima. Eu falei: “Olha, vamos acabar nossa história por aqui, não preciso mais dos seus serviços”. Aí, passei o serviço pra parentes e amigos e foram todos honestamente desonestos comigo também. E eu fui indo, fui indo, até que achei um do Rio de Janeiro. E eu parei de vender pra São Paulo e comecei a vender só pro Rio de Janeiro. Aí, trabalhei uns cinco anos só com o Rio de Janeiro. Eu pagava Sedex pra entrega, imagina, caixas de meia desse tamanho por Sedex, aquilo ia uma fortuna! Mas não fazia mal. Eu ganhava muito pouco, nunca tirei dinheiro pra mim, pró-labore não existia, eu punha tudo na casa, dava pra pagar escola, dava pra ajudar em casa. Ele ficou novamente desempregado um tempo, voltou a trabalhar depois. E eu sempre segurando tudo nessa base. Minha mãe já tinha falecido. Até que, um dia, esse lá do Rio de Janeiro me pediu umas roupinhas caipiras, vestidinho caipira, que no Rio de Janeiro tem festa junina, julina, agostina e setembrina! Até setembro fazem quadrilha. Então, eu fiz lá os vestidinhos, fiz os modelinhos, ele levou o modelinho. O cliente quis, ele encomendou 20 dúzias de cada tamanho. Vinte dúzias de vestidinho de criança é pano pra chuchu! Então, ele levou o mostruário P, M, G, que eram os três tamanhos que eu tinha. Só que ele não levou o P, ele só levou o M e o G na loja. E a pessoa comprou P, M e G, pensando que o M fosse P. O P dava pra dois anos, o M dava pra seis anos e o G dava pra oito, dez anos. Ela queria tamanhos maiores, então, todos os que foram tamanho P, que era pra dois anos, eles devolveram a cobrar o Sedex todinho: “Não quero mais, vou fazer muito favor de ficar com esses outros ainda aqui”. E eu tinha arrumado uma pessoa pra me ajudar a costurar tudo aquilo, porque minhas costureiras faziam outras coisas. E aquela pessoa também pegou o pano, tinha um aventalzinho, ela cortava o pano de um como aventalzinho de outro, um aventalzinho grande pra um modelo pequeno, estragou pano! Então, a coisa começou a ficar feia. E as meias, com a liberação dos importados, foi no governo daquela prefeita que nós tivemos em São Paulo, bem antiga...
P/1 – Erundina?
R – Erundina! Eles pegaram e começaram a comprar tudo feito, então, eu vendia a minha meia por uma URV [Unidade Real de Valor], na época. O dinheiro da época era URV, União Referente [sic] de Valores, que a gente nem sabia o que era! Eu tive que aumentar a nota fiscal porque não cabia tanto zero que você tinha que pôr, que não valia nada! Aí, eles compravam. Quando saiu o real, ficou um real, o URV virou um real. Então, um par de meias bordadas por um real. Da China, vinham três pares bordados por um real! Atacadista não tinha competição. Aí foi que eu resolvi parar de fazer meias e encerrar a firma. Pra quem já abriu uma firma sabe que abrir uma firma é assim (estala os dedos). Pra quem já vai fechar uma firma é uma tragédia! Eu tinha umas quatro, cinco funcionárias registradas, você tinha que acertar fundo de garantia, décimo terceiro, tudo isso daí. E fora o vendedor. Então, eu escrevi pra ele, porque tudo que ele fazia comigo era por escrito. Ele mandava o pedido por escrito, as instruções do pedido por escrito e eu respondia também por escrito, era tudo por correio, não tinha internet. Então, eu escrevi pra ele, falei: “Olha, Seu Gilson, eu vou parar, eu vou fechar a empresa”. Ele respondeu assim: “Quaquaquaquaquá!” Eu mandei outra carta e falei: “Olha, avise os clientes que eu não vou fornecer mais, eu estou com a corda no pescoço”. O Gilberto já tinha começado a ficar meio estranho, ele tinha sido despedido da empresa e foi na época que minha filha casou, isso foi em 1995. E aí ele perdeu totalmente a noção dos valores, ele começou a gastar desbragadamente. Ele já tinha se aposentado e ainda trabalhava, então, dizia assim: “Não, no fim do mês vem de novo”. Só que, quando ele trabalhava, ele ganhava comissões sobre 200 automóveis vendidos por mês, que ele vendia pra frotistas. E, quando ele se aposentou, ele ficou com... né? Então, não estava dando pra cumprir. E ele não se importava. Vinha o lixeiro pegar o lixo, ele dava duas garrafas de vinho que ele tinha ganhado de prêmio de vendedor, naquela época. Dava tudo pro pessoal, duas, três garrafas de vinho. “Mas, Gilberto, não é Natal ainda, você já está dando.” “Ah, coitados, eles ficam carregando lixo aí, dá, dá. Semana que vem tem mais, hein?” Assim. Eu falei: “Meu Deus do céu, ele está perdendo a noção de tudo!” Até um dia que teve um entupimento num cano em casa, eu chamei a Roto-Rooter. E ele que atendeu, fez lá o contrato com a pessoa: “Pode fazer o serviço”. Era o cano d’água que vinha do quintal pra rua, de chuva. Eram dois canos. A Roto-Rooter pôs o cano lá, até aqui, voltou até lá, pôs no outro e voltou até lá. Sete milhões de cruzeiros, naquele tempo que eram cruzeiros ainda. Eu falei: “Quê?! Sete milhões de cruzeiros pro senhor passar um caninho de lá até aqui? Se ainda tivesse um entupimento!” Era coisa de chuva, era areia. “Mas isso aqui é por metro, nós calculamos pra lá e pra cá, um e pra lá e pra cá outro, tem dez metros, são 40 metros de cano.” Eu falei: “Gente, mas não, não é possível uma coisa dessas!” Ele falou: “Ele assinou o contrato, ele leu”. Ele falou: “Quanto que é meu amigo?” “Sete milhões.” Chequinho, duas garrafinhas de vinho: “Muito obrigado!” Eu falei: “Gente!” Ele tinha pagado sete milhões de cruzeiros numa mobilete pro meu filho! Eu falei: “O que é isso?!” Falei: “Gilberto, você não acha que você está gastando demais?” “É serviço deles, está pago, acabou. Vamos jantar que eu estou com fome!” Então, eu falei: “Alguma coisa está estranha”. Falei: “Vamos passar num médico, Gilberto?” “Pra quê? Você está louca? Eu estou ótimo! Cinquenta anos, eu estou no auge da minha vida, você acha que eu vou passar em médico? Vou em médico coisa nenhuma!” E foi o tempo passando. E ele começou a trabalhar em outras empresas, e esse tempo foi o tempo que ele... No fim do dinheiro que ele tinha recebido da empresa, que ele já tinha comprado sete milhões de cano entupido, ele comprou mais um carro pra mim. Que ele tinha o carro consignado da empresa, quando parou, perdeu. Ele falou: “Eu vou ficar com a peruinha”, que nós tínhamos, uma novinha Fiat. E ele comprou um outro que era pra eu trabalhar. Eu falei: “Tá, e tem já o carro da Patrícia e tem o carro do Alex. Nós temos duas vagas na garagem, já estamos pagando duas vagas de estacionamento. Pra quê?” “Deixa aí!” Eu falei: “Você não está mais trabalhando com o carro, pra que você fica com dois carros?” “Não, deixa estar, deixa estar!” Eu falei: “Meu Deus!” Falei: “Bom, esse carro é meu?” “É.” Eu peguei o carro, saí, comprei um jornal: “Lojinha na Vila Mariana, troco, fazemos qualquer negócio”. Eu falei: “É lá mesmo que eu vou!” Cheguei lá, uma lojinha pequenininha, do tamanho disso aqui. Era uma sala de uma casa. “Quanto o senhor quer na loja?” Não me lembro mais o valor, mas era um valor mais ou menos assim. Eu falei: “Você quer esse carro em troca?” “Quero.” “Então, tá.” Dei o carro e fiquei com a loja. A loja de bijuterias falindo, não tinha nada lá dentro da loja! Eu enchi a loja, fui aprender a trabalhar com bijuterias, e passamos a segurar as pontas por ali. E ele começou a trabalhar em outra firma, a firma fechou, foi embora. E eu sempre segurando, e os filhos na faculdade. Minha filha já tinha casado, não ajudava mais em casa com a presença dela, porque ela só estudou e casou, ela nunca trabalhou antes de casar. E eu fiquei, de todo esse tempo com a minha mãe doente, que a minha mãe morreu, os problemas dele, os problemas da empresa, os problemas dos filhos, de querer estudar, não querer estudar, o outro estudar, mas não ir pra frente, tudo isso em cima de mim. E eu nunca observei que eu estava ficando doente. Então, depois disso, o meu sogro morreu. O Gilberto ficou muito abalado com a morte do pai, que ele veio morar comigo, o sogro e a sogra. Depois que minha mãe morreu, minha mãe morreu em 84, em 90, meu sogro morava em São João da Boa Vista. Ele veio em casa e viu a reforma que eu estava fazendo na cozinha pra aumentar um pouquinho meu espaço ali, ele falou pra mim: “Ah, Cléa, se um dia você puder” – ele não falava pro Gilberto, ele falava pra mim, a gente se dava muito bem, nossa! – “Se um dia você puder, você constrói aqui no fundo um quartinho e cozinha pra eu ficar com a minha ‘veinha’ aqui?”. Eu falei: “Claro, Seu Edmilde, faço sim”. Estava o pedreiro em casa: “Seu Luís, quanto que o senhor cobra pra fazer um quarto?” Eu tinha seis metros de quintal e tinha o salão com telha de Brasilit. Eu falei: “Vamos dividir esse salão no meio, fica uma sala com uma parede baixa e a cozinha na frente e um quarto com banheirinho aí dentro. Quanto que o senhor cobra pra fazer isso? E passar minha empresa de bordado” – que era embaixo ali – “naquele barracão pra cima”. Ele falou assim: “Fica sete mil reais”. Já era real nessa época. Não, sete milhões de cruzeiros! Eu falei: “Ah, então, vamos fazer assim, quando o senhor terminar minha cozinha aqui, a gente vai fazer”. Ele falou: “Tá bom, então, hoje à tarde, eu já venho pra gente começar”. Eu falei: “Não, o senhor não entendeu, eu falei quando eu terminar minha cozinha, agora eu não posso, estou pagando aqui ainda!” “Eu entendi, mas eu gosto muito desse ‘veinho’ aí, nós vamos fazer isso aqui, eu vou começar hoje. Tem um material de demolição que eu estou usando, está demolindo uma casa e vão jogar tudo no lixo. Tem cada tijolo desse tamanho, vou trazer.” Olha, eu sei que foi mal o tempo de eu tirar minhas coisas lá de dentro e ele já quebrou, tirou o telhado e fez! Ficou 12 milhões, e eu paguei tudo, graças a Deus, não fiquei devendo nada pra ninguém, não precisamos pedir nada pra ninguém. Então, Deus ajuda quando a gente faz a coisa com boa vontade, né? Aí, eles vieram morar ali, mas a minha sogra já estava muito doente, ela ficou nove meses só e morreu. Meu sogro ficou. Ele já não falava muito, porque ela já falava mais do que eu, imagina só!
P/1 – (risos)
R – E ele ficou abatido. Aí, ele começou a ir numa igreja evangélica, que a filha era evangélica, e lá ele arrumou uma namorada, depois de três anos. Um dia, eles vieram visitar a casa dele. Eu tinha um pé de roseira, que era da minha sogra, bem assim no corredorzinho. Ela não parava de dar rosa, era dia e noite com rosa aquela roseira branca. Os dois passaram debaixo, entraram pra ver a casinha, no dia seguinte não tinha uma rosa no pé, estava tudo no chão! Os botões, as rosas desfolhadas, parecia que tinham jogado água fervendo em cima da roseira! Eu falei: “Ê, Dona Maria, a senhora é fogo, hein?” (risos) Ela acabou com a roseira dela! Mas não deu certo lá. Mas, aí, meu sogro morreu, e o Gilberto ficou muito abatido. Depois de três meses ou quatro, morreu minha cunhada, que era a irmã seguinte dele, que ele gostava muito também, e ele ficou mais abatido ainda. E ele começou a apresentar um comportamento já diferente do comportamento anterior, que era de laissez-faire. Ele começou a ficar desconfiado. Aí, era assim, passava um vizinho na rua, me cumprimentava, ele: “Oi, tudo bem? Tudo bem. Idiota!” Eu falei: “Que é isso, Gilberto, por que você está fazendo isso?” “O quê?” “Por que você está chamando o homem de idiota?” “Ah, porque é um idiota mesmo!” “Mas o que ele te fez?” “Nada não, vamos jantar que eu estou com fome?” E ele começou assim, falava uma coisa, ou ia escrever, a caneta falhava, ele pegava e quebrava a caneta no meio. Telefone: “Gilberto, telefone pra você”. “Diz que eu não estou, não estou pra ninguém!” “É sua irmã!” “Ô, minha querida, como vai? Papapá, tudo bem, tchau.” Mas batia o telefone, parecia que ia quebrar: “Mas, Gilberto, por que você está fazendo isso?” “Eu não estou fazendo nada, são eles aí, você está louca! Vamos comer?” Aí, eu falei: “Gilberto, você acha que eu estou mudando de comportamento?” Eu estava uma pilha de nervos essa época, que eu gritava até quando mosca passava dentro de casa! Tinha um cachorro que era um inferno também. Eu sempre tive cachorro infernal, ainda bem que agora eu tenho os gatos, que são do demônio, mas é diferente! (risos) E eu estava muito nervosa. E eu sabia que estava nervosa, mas não pensava em parar e me tratar, fui aguentando. Falei pra ele: “Você acha que eu estou mudando em alguma coisa?” “É, você está um pouco nervosa.” Eu falei: “Ah, não diga! Você acha que eu estou nervosa?” Ele falou: “É, você grita”. “Eu grito? Eu não percebo, Gilberto. Faz um favor pra mim? Eu vou marcar uma consulta pra mim, você vai comigo pra gente falar o que você está notando diferente em mim, que eu não estou percebendo.” “Vou, claro!” Quando chegamos no médico, ele falou lá o que ele achou de mim. Aí, eu falei: “Doutor, agora eu vou falar o que eu achei dele. Ele está fazendo isso, isso, isso, isso”. Ele ficou olhando pra mim, o médico falou: “O senhor concorda com o que ela está falando?” “Não.” Eu falei: “Ele não percebe, mas ele está fazendo tudo isso”. Então, o doutor falou: “Desde quando que o senhor está assim com essa depressão?” Ele: “Depressão, eu? Doutor, o senhor está louco! Eu sou o cara mais otimista do mundo, eu nunca tive depressão, não!” Mas ele estava já no auge da depressão, e ele embutia com aquele comportamento dele. Aí, passaram-se uns meses, ele tomou o remédio, o médico mudou do convênio, não atendia mais. Até arrumar outro, ele estava tomando água, e eu tinha saído da porta da cozinha pra pegar um rodo. Escuto um barulhão na cozinha, ele caiu, levou um tombo na cozinha, derrubou a mesinha, derrubou o botijão d’água, quebrou tudo lá. Eu cheguei: “O que aconteceu?” Ele estava sentado no chão, a pupila dele estava imensa. Eu falei: “Gilberto, o que aconteceu?” Ele falou: “Não sei, eu caí?” Falei: “Sim, você caiu. Machucou?” “Não, eu não caí, caiu tudo, o que houve?” Aí, ele perdeu a noção. Era dia de Corpus Christi. Eu pus ele no carro e fui pro pronto-socorro com ele. O médico examinou, mediu pressão e falou: “Não, ele está bem. Mas é bom você passar num médico pra saber, um neurologista, por que ele teve essa vertigem”. E, quando nós fomos, foi em 2005, eu recebi uma notícia: “O seu marido está com Alzheimer e já bem instalado nele há muito tempo”. Então, eu escrevi um livro a respeito disso que começa com essa frase: “Tenho uma péssima notícia a lhe dar”. E ele ali, na outra salinha, esperando pra medir a pressão, e eu na salinha de cá ouvindo tudo que o médico estava me falando em voz baixa: “Olha, agora você precisa tomar muito cuidado, não deixar ele sair sozinho”. “Ele está trabalhando, doutor, como que eu não vou fazer esse homem sair sozinho?” “Ele não pode dirigir, a senhora tem que tirar o carro dele, a senhora tem que tomar cuidado com dinheiro, que ele vai perder a noção de tudo.” Eu falei: “Meu Deus, ele já está perdendo a noção do dinheiro faz muito tempo!” “E você vai ter que interditar, você tem que procurar um advogado pra fazer uma interdição.” Tudo aquilo assim de uma vez! E me dando os vidros de remédio, uma amostra grátis, enchendo o meu colo com aquele monte de caixa! E eu não ouvia mais nada, eu só ouvia uma palavra ou outra. “Tá bom.” Então, ele pegou, foi lá, mediu pressão: “Ah, o senhor está ótimo, Seu Gilberto, semana que vem o senhor volta aí”, que ele tinha mandado fazer todos os exames, todos eles deram positivo. Passou uma semana, ou duas, eu fiquei com uma dor de garganta, acho que emocional mesmo. E ele foi me levar no médico. Era na Avenida Angélica. Ele conhecia a cidade como a palma da mão dele, muito melhor do que eu, eu que era paulistana e ele, que era lá do interior, e ele conhecia tudo. Porque ele foi office boy desde os 12 anos de idade. Ele andava com o Guia Levi debaixo do braço pra saber as ruas, e sabia mesmo! Aí, ele pegou, e saímos do médico, ele falou: “Como é que eu volto pra casa daqui?” Eu falei: “Nós estamos na Avenida Angélica, é só você entrar aqui”. “Ah, sei, tudo bem.” Aí, se lembrou, desceu, pegamos ali debaixo do Minhocão, fomos embora. Quando estávamos chegando em casa, tem a Avenida do Cursino, a gente vinha por ela e ia entrar numa ruazinha à esquerda. Avenida aberta assim, não tem árvore, não tem carro, nada. Uma pista de lá, pista de cá, uma rua. Ele parou pra entrar à esquerda, vinham três carros. O primeiro carro passou, ele engatou a marcha e foi. O segundo carro deu uma brecada em cima de nós. Eu falei: “Mas você não viu, Gilberto?” Ele falou assim: “Mas já tinha passado o carro!” Então, aí que eu vi que ele já estava só focando a frente, ele não via mais a periferia. Eu falei: “Olha, Gilberto, vamos fazer uma coisa? Deixa eu levar o carro pra casa? Amanhã nós vamos no oculista, eu acho que o seu óculos não está bom”. “Pois não.” Desceu do carro, me deu a chave, nunca mais dirigiu. E a gente estava começando os tratamentos com ele. E cada tratamento, passamos em seis médicos, três diziam: “Ele tem Alzheimer”. Três disseram: “Ele não tem Alzheimer”. Aí, meus filhos: “Vamos no outro”. Então, fomos em seis. Fomos num Doutor Jorge Pagura, lá na Avenida Brasil, um médico, uma clínica, Doutor Pagura, conceituadíssimo. O médico que nos atendeu de lá ficou escutando a conversa toda, explicando tudo que tinha acontecido. Ele falou assim: “Ele não tem nada, você tem que dar ginkgo biloba pra ele! Toneladas de ginkgo biloba”. Receitou lá 300 comprimidos de ginkgo biloba: “Ele vai tomar três vezes, dois comprimidos desses por dia, e só. Deixa esse homem fazer o que ele quiser, deixa ele viver a vida!” Então, está bom, vamos pra casa e taca ginkgo biloba nele. Tomou lá um mês, quando voltou, fez outra perfusão cerebral: “Olha aí, melhorou a perfusão cerebral!” Eu falei: “Sim, senhor, mas o comportamento físico não está nada condizente com isso!” “Sabe o que ele tem, Dona Cléa? Uma mulher chata que fica enchendo o saco dele, viu? Deixa esse homem dirigir, dá o carro pra ele, deixa ele viver a vida dele!” Eu falei: “Pois não, o senhor se responsabiliza, né? Tá bem, obrigada, tchau!” Nunca mais voltamos lá. E fomos pra outros neurologistas, que realmente... Aí, eu passei num neurologista particular, paguei uma consulta muito cara pra ele confirmar. Ele falou: “Realmente, ele está com todos os sintomas, já em fase bem avançada. Então, ele não pode dirigir, não pode fazer nada”. Eu falei: “Dirigir não está dirigindo mesmo”. “Agora vocês vão ter que tomar cuidados, fazer interdição, não sei o quê.” E ele me amava demais e me respeitava muito. Aliás, nós dois nos respeitávamos demais. E ele me acatou. Então, tudo que eu dizia pra ele fazer, ele fazia. Até que eu fazia tudo que podia fazer pra estimular a memória dele, então, os remédios todos que ele tomava no dia, eu fiz tabelas impressas no computador com os dias da semana, o nome do remédio, o horário e ele ia tomando e pondo um “x” naquilo que ele tomava. Via o dia, olhava na folhinha, que era tudo pra estímulo, né? E, um belo dia, ele ainda trabalhava com o computador, ele fazia a contabilidade da casa toda no computador. Uma bela tarde, eu subo e ele está assim olhando pro computador desligado. Eu falei: “Ué, o que aconteceu, você já terminou?” “Não liga, está queimado, olha, está tudo escuro.” Eu falei: “É porque você não ligou, tem que ligar aqui”. “Ligar aí? Eu nunca fiz isso!” Eu falei: “Tá bom, já está ligado, vamos fazer”. Sabe aqueles números de duplicata que tem, de boleto, “0004000”... Ele começava a contar os zeros e não sabia mais quantos tinha e ele com aquele sacrifício. Aí, eu comecei a ir ditando pra ele fazer. Ele já não conseguia mais fazer. Aí, eu passei a fazer. Mas isso tudo numa velocidade assim de dias, de semanas. Eram coisas muito... Foi muito rápida a doença dele! E o médico tinha me dito: “Quando pega uma pessoa jovem do jeito que ele está, ele deverá passar por todos os sintomas e fases da doença. E a pior fase vai ser a final, porque ele vai virar um feto, ele vai se encolher todo, ficar numa cama assim, só vivendo porque o coração está batendo”. Eu falei: “Meu Deus! O que a gente tem que fazer por isso, o que nós podemos fazer?” Mas isso tudo ele estava bem ainda. Aí, ele parou de assistir televisão, eu comprava jornal, ele recortava todas as palavras cruzadas pra fazer um dia, tinha uma coleção assim de palavras cruzadas. A televisão aí, eu falava: “Gilberto, vai começar o jogo do Corinthians!” Ele: “Ah, é mesmo, eu estou vendo”. “A televisão está aqui, Gilberto!” “Eu sei, eu estou vendo.” E ficava olhando pro chão. Aquilo me dava uma angústia! “Olha, nasceu nossa netinha!” Ah, ele ficou tão contente, foi na maternidade, pegou a netinha. Chegou em casa: “Nasceu a segunda netinha, olha a fotografia.” “Ah, que linda!” “Aqui, Gilberto!” “Eu sei, eu sei.” Meu Deus do céu, tudo aquilo me matava, né? Até que um dia ele falou assim pra mim: “Você sabia que São Paulo tem 645 municípios?” Eu falei: “Eu não!” “Tem.” Eu entrei na internet e tinha mesmo! Ele falou: “Você era capaz de me levar pra gente conhecer todos eles?” Eu falei: “Entra no carro”. Comecei no mesmo dia, fui até Paranapiacaba que ele não conhecia, e Paranapiacaba nem é município, é um distrito, né? Mas ele não conhecia, era o que se podia fazer naquele momento. Quando chegamos lá, aquela ruína daqueles trens todos parados, enferrujados, eu olhei tudo aquilo, tirei uma fotografia dele na frente de uma locomotiva e falei: “Nossa, que potência que foi isso e como está”. É como ele, né? Que homem que ele era e como ele está. Mas eu vi que eles usaram Paranapiacaba pra fazer aquelas casinhas, que eram dos funcionários ingleses, se transformarem em lojinhas, em coisinhas bonitinhas, então, não era o fim. Eu falei: “Então, sua história também não vai ser o fim, vai começar aqui a sua história. Vamos fazer o Projeto Municípios, conhecendo São Paulo da pracinha da matriz”. Porque toda cidade tem alguma coisa, mas toda cidade tem a matriz. E assim nós começamos. Fizemos 275 municípios dos 645 que são. E paramos porque ele não quis ir mais e eu passei mal numa viagem e tive que ir pro hospital pra tomar soro e com medo de que ele fugisse dali. E ele ficou comportadinho lá do meu lado, esperando.
P/1 – A senhora pode detalhar como foi essa viagem?
R – Eu estava indo pra... Que nós tínhamos conhecido São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Nós conhecemos de Iguape até Fernandópolis e até Bananal, que é a última cidade na divisa do Rio de Janeiro. Todas essas ali nós fomos. E entramos pro lado de Campinas, Ribeirão Preto, tudo ali. Mas, nessa época, eu participava da Pastoral da Pessoa Idosa da Doutora Zilda Arns. E eu era coordenadora da região do Ipiranga. Mas nem cheguei a atuar, porque ele piorou muito e eu, então, parei, falei: “Eu tenho que cuidar do próximo. O próximo mais próximo no momento é ele, então, dá licença”. E fui cuidar dele. E, numa dessas viagens da Doutora Zilda Arns, eles davam uns cursos pra gente. E nós fomos fazer o curso no Paraná, em Curitiba. E aproveitei e fiz todas as cidades que eu consegui na ida da viagem, que estava na região, porque ali naquela região do sul de São Paulo tem a Mata Atlântica e não pode desmatar. Então, tem uma cidadezinha aqui, tem a BR-116 e tem outra cidadezinha aqui, mas não passa de uma pra outra. Então, você tem que andar 70 quilômetros até numa, subir 70, descer mais 70 pra ver a outra. E nós vimos uma boa quantidade de cidades, fomos lá pro sul. E, na volta da viagem, voltamos também vendo o restante. Mas tinha algumas ali na região, uma chamava Sete Barras e a outra... Agora não vou me lembrar. É perto de Sete Barras, ficaram duas cidades ali que a gente não conseguiu ver. Vimos até uma chamada Barra do Chapéu, que eu pensava que era Aba do Chapéu, mas não era! É que tinha o Rio Chapéu que passava lá e por isso chamava Barra do Chapéu, era a barra do rio. Nós ficamos com essas duas cidadezinhas perdidas ali embaixo, que não tinha mais nada pra ver, porque a gente já estava vendo o meio lá em cima. Uma bela manhã de domingo, eu acordei e falei: “Gilberto, vamos dar um pulo até lá embaixo?” “Ah, vamos.” Que ele não tinha mais noção do que precisava fazer pra ir. O que eu fazia? Eu sentava na frente do computador à noite, fazia o trajeto todinho, medindo pelo mapa do Google quantos quilômetros ia, quanto de gasolina precisava, quantos quilômetros tinha de uma cidade na outra, se tinha acesso. Eu, então, pegava o mapa e puxava: “Eu quero ir por aqui”. O mapa dizia: “Não, tem que ir por lá!” “Eu quero ir por aqui!” Ele ia, pegava e levava lá pra Pernambuco: “Lá também tem uma cidade com esse nome, é nessa que você quer ir?” “Não, eu quero ir nessa!” “Nessa só pode ir por ali.” Eu brigava com o computador, né? E eu ia fazendo. Chegamos a ir em 17 municípios num dia! Então, a gente ia e voltava no mesmo dia. Eu cheguei a fazer no máximo 350 quilômetros de distância, então, dirigia 700 quilômetros num dia, 350 pra ir e 350 pra voltar, e levando todos os remédios dele, todos os lanches que ele tinha que comer, todas as guloseimas que comia, que ele ia oferecendo praqueles que estavam no banco de trás, que ele ia vendo gente dentro do carro. E não tinha ninguém. Ou tinha! Eu acho que tinha, porque, pra fazer tudo que a gente fez, tinha que ter, e era gente boa que estava ali atrás! E dando as coisas pra ele. Porque se eu falasse: “Você quer uma banana, Gilberto?” “Ah, é bom.” “Está aí no saquinho.” “Saquinho, saquinho, saquinho...” No vidro do carro. “Aqui, bem, ó.” Abria a geladeirinha de isopor ali, dirigindo: “Está aqui a banana.” “Ah, tá.” Pegava, ficava olhando pra banana. Pegava a banana, quebrava ela no meio e enfiava com casca e tudo dentro da boca. Quer dizer, não tinha mais noção de nada! Então, você dirigindo no meio de uma estrada, prestando atenção no trânsito, imagina a cabeça da gente como é que fica, né? “E, agora, vamos comer biscoito de polvilho, pronto, tem o saquinho de biscoito que eu já abri e está só amarrado com pregador de roupa, é só abrir.” Em vez de tirar o pregador de roupa, pegava o saquinho e fazia assim! E chovia biscoito de polvilho dentro do carro inteiro. “Agora é hora do remédio.” Parava um pouquinho ali, pegava lá, com a garrafa térmica cheia de água fresquinha, tomou. “Ah, eu quero mais água.” “Então, toma mais um pouquinho.” “E eu preciso ir embora, senão, vai ficar tarde.” E eu pego, saio pela estrada, e ele lá. “Pode fechar e pôr aí.” Pegava a garrafa térmica pelo fundo e arrancava o fundo da garrafa térmica, tentando abrir a garrafa pelo fundo, era aquela aguaceira toda dentro do carro! Então, eram umas viagens assim torturantes pra mim. E a gente estava fazendo... Ele tinha uma infecção de uma fístula que ele teve, que o atacava periodicamente. Então, cada vez que... O Alzheimer é uma doença que não é uma doença, ela é um aproveitador. Então, é assim: ele fica ali instalado em você, até que você não faça qualquer coisa pra detonar. Detonou, você começa a tomar remédio para aquilo, para o Alzheimer. Aí, você teve uma infecção num dente, um pé com uma unha encravada infeccionada, uma úlcera, bronquite, infecção urinária, qualquer tipo de infecção, o Alzheimer reage violentamente contra qualquer remédio contra infecção. Então, você sara da infecção e enlouquece com o Alzheimer. Enlouquece! Não é dizer que o Alzheimer fica pior. Não, você enlouquece! Você grita feito um louco, amarra você na cama e você tomando o antibiótico, você arranca a camisola todinha com o dedinho e vem a manga, arranca os seus acessos e vai tudo embora. E ele te xinga de tudo quando era palavrão, que você nunca imaginou que ele permitisse ninguém falasse nada perto de mim. E ele chamava pra me xingar e depois ele chorava porque ele sabia que não era aquilo que ele queria fazer. Então, tudo isso no espírito da gente vai massacrando. Então, eu estava descendo essa estradinha, paramos num botequinho lá, tomamos um cafezinho com pãozinho de queijo, que ele gostava muito, voltamos pro carro e descemos. Aí, começa a serra. O riozinho passando lá embaixo, e a serrinha pra cá e pra lá. Cada curvinha da serrinha, banana por todo lado. Perto de Registro ali, é só banana. A estrada não tem acostamento, então, tem o asfaltinho ali e a banana. Então, você está indo, domingo não tinha ninguém naquela estrada, porque só trabalha dia de semana. E comecei a ver, em cada curva da estrada, aquelas cruzes de pessoas que morreram ali de acidentes. E eu falando com ele, e ele me dando cada resposta! “Quantos filhos nós temos, Gilberto?” “Oito, né?” “Você acha que é oito? Tá. E como chama a nossa filha?” “Nossa filha? Ah, não sei.” E você ali tentando, todo tempo tentando fazer estímulo de memória: “Olha que cor azul, olha que cor verde, olha o avião”. E era assim: “Olha o avião!” “Ah, que lindo!” Não olhava, né? E eu lá fazendo essas curvinhas e comecei a pensar: “Meu Deus, quantos espíritos aqui de pessoas que morreram, uns com a cruzinha bem arrumadinha, com uma florzinha, outros lá, aquela cruzinha despencada. Ô, meu Deus, cuida desses espíritos aqui perdidos no meio da estrada, acho que nem sabe que morreram!” E vai e vai. De repente, me dá uma pontada no meio da testa como se eu tivesse levado um tiro, uma dor de cabeça assim incrível, uma náusea terrível e não tinha onde parar. Eu parei o carro em cima das bananas mesmo e fui lá fora e precisei vomitar. E voltei pra dentro do carro e ele ali, nem viu. Se eu tivesse morrido ali no chão, ele não saberia nem voltar pra casa! Acabei de entrar no carro, acaba de fazer a serrinha, entramos na cidade que a gente ia ver. A igreja fechada porque já era meio-dia e, do lado da igreja, o pronto-socorro. Então, tiramos a fotografia da igreja e fomos pro pronto-socorro. Eu entro lá, o médico: “A senhora veio pela serrinha?” Eu falei: “Vim”. “Ah, essa serrinha dá labirintite em qualquer um que desça por ela!” Eu falei: “Então, pode contar que eu estou com ela!” “A senhora vai tomar soro aqui.” Eu falei: “Meu Deus, mas se o soro me dá um sono danado, e ele? Vai ficar aqui?” “Não, mas ele fica, né, Seu Gilberto? O senhor vai ficar aí.” Bom, eu sei que eu dormia com um olho, olhando o outro, e ele ficou ali quietinho, sentadinho. Terminou, e nós voltamos, ainda voltei dirigindo pra São Paulo. E essa foi a última viagem longa que a gente fez, porque aí meus filhos falaram: “Mãe, você já está se matando! Você já pensou se você batesse o carro lá no meio dessa estrada?” Ele, uma vez, muito antes disso, eu desci na estação do metrô e, conforme nós descemos a escada rolante, o metrô estava parado com a porta aberta. E nós viemos pra entrar. Eu não sei como, que eu andava sempre de mão dada com ele. Eu entrei, e ele ficou pro lado de fora, fechou a porta do metrô! Aquilo me fez na cabeça assim: “Abre essa porta!” Eu meti o pé na porta e abri e desci do metrô. E falei pra ele: “Gilberto, você viu que eu tinha entrado dentro do metrô e você não tinha?” “Não.” Eu falei: “E, se acontecesse isso de novo, que eu pegasse o metrô e fosse embora, o que você fazia?” “Ah, eu pegava o metrô e ia pra casa.” “E onde é que você mora?” “Ah, não sei.” Eu falei: “Então, entra no metrô”. Pegamos, fomos lá pra Rua Barão de Paranapiacaba, e falei: “Me faz uma medalha desse tamanho com o nome dele, com o RG, com telefone dos três filhos”. E ele usou essa medalha até ir para o hospital. Porque a gente não imagina, até que não acontece com a gente.
P/1 – Antes de a gente chegar nessa parte do hospital, eu tenho umas perguntas, Dona Cléa. Primeiro, dessa última viagem, qual era essa igreja?
R – Igreja de Santa Catarina. Era a igrejinha de Santa Catarina. E eu ainda tinha ido comentando com ele que a minha mãe, quando menina, dizia que tinha fé em Santa Catarina. Quando ela escutava uma chuva, ela se enfiava embaixo da mesa e ficava: “Ah, minha Santa Catarina!” E eu contando isso pra ele, quer dizer, sempre falando de alguma coisa pra distrair. E foi a igrejinha de Santa Catarina. E, aí, eu não fiz mais as viagens longas assim. Mas eu não estava me dando conta mais de que ele já não estava aproveitando nada. E ele falava que queria me levar a conhecer o Rio Grande, na divisa com o Mato Grosso, que era onde ele pescava com os tios dele quando era menino, em Santa Fé do Sul. E eu tinha feito um projeto pra ir no dia 7 de setembro de um ano com ele, eu falei: “Gilberto, nós não vamos no mesmo dia, é lógico. Vamos dormir em Ribeirão Preto, depois a gente dorme em Jales, vamos dormindo”. Ele falou: “Ah, legal!” Chegou na manhã, eu falei: “Vamos?” “Aonde?” “Fazer a nossa viagem pra ir até lá!” “Ah, não, não quero ir, não!” Ele não quis ir. Acho que, se eu tivesse ido, ia acontecer alguma coisa. E aí a gente parou. O projeto está lá no meu computador e eu agora estou escrevendo quatro livros ao mesmo tempo, que é um pedaço de um, um pedaço de outro, mas, quando terminar, eu vou voltar ao Projeto Municípios, mas sem ir até lá. Eu consigo todas as informações e compilo. Porque ficou interessante, eu colocava a capa do trabalho, era a igreja. Então, eu punha o nome do santo da igreja e punha o nome do gentílico de quem nasceu no lugar, porque, por exemplo, tem um lugarzinho chamado Cássia dos Coqueiros, fica lá em cima de São Paulo. Quem nasce em Cássia dos Coqueiros, o que é? É cassiano. Então, tem uns nomes até interessantes de... Chama patronímico, né? E depois eu punha na segunda página toda a história do município. Entrava na internet e pegava fotografias do local, do tempo, a primeira que tivesse, as mais antigas que tivessem, como foi colonizado, aquilo era uma fazenda, depois o filho do fazendeiro passou mal, ele fez uma promessa que acenderia uma vela, fazia uma igrejinha pra São Benedito lá e fez, aí aquilo se tornou uma vilinha, o pessoal vinha rezar a missa. Então, tem cada história interessante dos municípios de São Paulo. E não tinha, na época, nenhum trabalho nesse sentido assim completo, com todos os municípios. Tem município de São Paulo que você vai, você fala, mas isso aqui é município? Por exemplo, Perus, Francisco Morato, Franco da Rocha. É uma cidade dormitório, as pessoas dormem lá e trabalham em São Paulo. Mas é município. E tem a história, e tem a igreja. Não tem mais nada, mas tem a igreja. Então, é uma coisa que me fez fazer o trabalho.
P/1 – A senhora falou um pouco sobre como era planejar a viagem. Mas tinha um ritual – talvez essa pergunta seja mais espiritual – um ritual da senhora antes de começar a viagem?
R – Não, realmente não. Nessa época, eu não estava frequentando nada de religião. Eu tinha sido católica e eu não me sentia muito bem vendo aquele Cristo torturado e que eu era acusada por isso. Então, eu estava na escola ainda, no colégio de freira quando eu estudei, eu fiz o ginásio completo lá no Regina Mundi e quase que eu fui freira. Porque eu já tinha idade, e as sorores vinham de Santa Catarina, vinham pra ali e eu tinha amizade com todas elas. E eu comecei, eu nunca tinha namorado, então, eu falei: “Ah, acho que o meu negócio é ser freira mesmo!” E ia começar a ser. Até que apareceu um Gilbertinho na minha vida! Mas eu achava que aquela tortura me incomodava. “Meu Deus, o que eu faço pra ele não ficar naquela situação?” Ele já ficou, não tem o que fazer. Aí, eu passei a evangélica, eu via o Cristo renovado, glorioso, vencedor, lindo, presente! Mas, se eu não pagasse um dízimo, eu não teria condição de nem chegar e pedir nada pra ele! E aí eu fiquei quieta no meu canto. Quando o Gilberto começou a ver gente pra tudo quanto é lado, uma sogra do meu filho falou: “Leva ele num centro pra fazer um passe pra ele, pra acalmar ele, pra ver porque ele está vendo isso”. O único lugar que tinha aberto naquele momento era um centro que foi aberto em 1950, num bairro próximo onde eu moro, e que era numa casa antiga, tinha que descer uma escadaria pra ir lá embaixo. Eram várias casas ligadas umas nas outras, que fizeram sala pra cá, sala pra cá, biblioteca, sala de passes, mas muito antiga. Quando nós chegamos lá, ele começou a olhar pras paredes assim, tinha um quadro lindo no fundo, um parque de girassóis assim, lindo aquele quadro. Aí, ele ficou olhando e falou assim: “Sabe, Cléa, eu nunca vim aqui, mas eu já estive aqui”. Eu falei: “Como é? Você nunca veio, mas você já esteve?” “Já estive aqui. Eu conheço tudo isso que tem aqui dentro.” Eu, então, falei: “Nossa, é aqui o teu lugar”. Então, ele começou a frequentar comigo, a gente fazia orientação e tomava os passes, que só isso, nunca assistimos nada de... Ali nem fazem incorporação, não fazem nada, é um kardecista muito suave. E com isso eu comecei a frequentar, e com ele fazia o tratamento, mas que é assim também, você fez o tratamento e ficou bem, você não precisa ir mais. Então, lá não é uma coisa que nem na igreja, você tem que ir toda a semana, senão você está no inferno! Lá não, você vai, você se recupera e, se você quer voltar outra vez, você toma um passe espiritual só pra... Mas se você está se sentindo bem e não tem necessidade, é só você continuar fazendo o bem, amando o próximo, respeitando, está tudo bem. Aí, ele chegou num ponto que ele já não aproveitava mais, ele cansava, queria ir embora. E ele, quando foi pra casa de repouso, eu comecei a frequentar. Então, agora, eu tenho uma outra visão sobre tudo que me aconteceu na vida, e a visão religiosa, no caso, como você me perguntou, eu sinto assim: Deus está presente o tempo todo, o tempo todo. Ele é eterno, ele é presente. Nós somos também eternos, o nosso espírito é eterno. Então, cada vez que a gente vem aqui, a gente vem porque a gente pediu pra consertar alguma coisinha que a gente deixou torta ou pra ajudar alguém que esteja precisando. E a gente tem uma vida tão curtinha aqui perante a eternidade de Deus, 80, 100 anos até agora é nada perante a eternidade! É eterno, e o espírito da gente é eterno também. Então, quando a gente vem e resolve o problema que tinha que resolver, a gente cresce espiritualmente. E tem as vezes que a pessoa não faz nada, veio, perdeu um baita de um tempo e não aproveitou nada. Então, vai ter que voltar outra vez. E por isso que a gente fala: “Poxa, são cinco irmãos naquela casa, mas ninguém se combina!” Porque nós não somos filhos dos nossos pais, nós somos um espírito de Deus que cresceu como o mundo. Nós já fomos trogloditas, nós já fomos vikings, viemos com a evolução do mundo, viemos crescendo mentalmente e espiritualmente, aprendendo. E teve aqueles que aproveitaram pra fazer o bem. Então, você vê que tem os médicos, os médicos que vêm, a gente fala: “Hoje não tem mais nada disso”. Tem. Esses que vêm com noção de ser médico, ele tem já uma motivação pra ser isso. Tem aqueles que vêm só pelo dinheiro, que aí não vai dar certo! Mas a maioria vem porque precisou vir, porque tem uma coisa pra dar. Você vê uma criança, tem criança aí que, com quatro anos, que a gente recebe na internet, o menino regendo uma orquestra com quatro anos de idade! E sabendo cada instrumento que está entrando e a pausa. É uma coisa que não é normal! Mozart com quatro anos escreveu uma sinfonia no rodapé da sala! Então, são espíritos que vêm mesmo pra... Volta naquela criança. Agora, o que aquela criança vai fazer daquela espiritualidade depois de adulto não se sabe, porque ninguém vem... A gente esquece na hora que nasce, esquece tudo que a gente foi, graças a Deus! Porque já pensou se a gente lembrasse? Eu lembrava, chegava aqui agora e você dizia: “Ah, essa daí que foi aquela bandida, que era dona de escravos, nós éramos escravos e ela sentava... Vamos matar ela!” Então, não podemos lembrar o que a gente fez. Se a gente visse um que está ali pedindo esmola: “Meu Deus, esse foi meu pai, eu vou socorrer ele por obrigação”. Em vez, a gente socorre por amor, né?
P/1 – Mas, nesse contato com o espiritismo, a senhora conseguiu... Não descobrir assim: “Ah, me falaram que eu vim pra fazer isso”, mas teve uma autodescoberta enquanto pessoa sobre toda essa trajetória junto ao Gilberto? Quais foram as suas descobertas pessoais?
R – A princípio, a primeira coisa que eu pensei foi assim: “É uma missão”. Nunca pensei: “É um castigo”. Sempre pensei: “É uma missão”. E, com esse pensamento, é uma missão, às vezes, a gente erra, porque a gente começa a aceitar qualquer coisa errada que venha pesada demais porque é minha missão, eu mereço! Mas não mereço, não! Então, é assim. Depois que ele se foi, a morte dele foi uma coisa assim fabulosa, que me ensinou muita coisa, o momento da morte dele. Eu precisei sair de perto dele pra ele ir embora, porque ele não queria me deixar. Ele era muito apegado a mim. Desde que a gente começou a namorar, nunca mais nós saímos um sem o outro, eram os dois juntos pra tudo. A gente ia pro interior, eu já estava grávida da minha filha, e ele: “Vamos pescar”. Lá ia eu junto pescar, junto com meu sogro, meu cunhado e ele. E era assim, sempre presente, presente, presente. Então, ele não queria ir embora. Aí, eu tive uma vontade de vir embora, eu vir embora. Ele estava no hospital já em estado de... Como eles falam? De conforto. Eles dão morfina, quando o remédio não faz mais efeito algum e começa a atrapalhar o resto do organismo. Então, ele tomou morfina e pararam de dar o antibiótico que estava fazendo muito mal pra ele. E era o que venceria a infecção, mas já não estava vencendo mais. Ele começou com a gama mais baixa de antibiótico e foi até a máxima que um ser humano poderia tomar, durante todos esses anos, que foram 11 anos de doença. Mas, cada vez que a infecção vinha, até que ela não furasse, vazasse todo o pus, ele se transformava num monstro e o remédio não fazia mais efeito. Então, nessa última vez, que fez dois anos agora em julho, o médico falou: “Olha, Cléa, nós vamos ter que colocá-lo em conforto, eu espero que você compreenda”. Eu falei: “Eu compreendo e aprovo e peço!” Eu não aprovo eutanásia, dizer: “Eu vou te dar um remédio pra te matar”. Mas eu deixar o teu organismo fazer o que ele precisa fazer, sem dúvida. Sem dor, sem sofrimento, melhor ainda. Antigamente, como que a gente fazia? “Nossa, na casa do fulano lá está um moribundo lá na mesa, está morrendo, está morrendo e não morre nunca.” De repente, hoje morreu! O meu avô estava bom, saiu, passou, foi comprar o pão, voltou, teve um derrame cerebral, caiu pra dentro do portão, de noite estava morto. Então, não tinha tratamento nenhum, morria porque tinha que morrer! E, hoje em dia, com a medicina, se faz todo o possível pra aliviar aquela doença, mas às vezes esse alívio da doença causa muito sofrimento! Então, eu tive uma tia que ficou entubada quase um mês. Ela tinha tido um derrame cerebral, estava morta! Pra que vai entubar essa criatura, deixar a língua amarrada pra fora da boca pra não morrer, pra quê? Eu acredito que ninguém morre na véspera nem no dia seguinte, isso não morre mesmo! Cai um avião com 101 passageiros, um fica vivo, aquele não tinha que morrer. Mas por que todos os outros tinham que morrer junto? Por causa da vida pregressa que cada um teve. Eles já foram alguma coisa. Quando eu ouvi o processo da Boate Kiss, todos aqueles jovens morrendo de repente, sufocados. Eles não morreram amassados, não morreram pisados, não morreram queimados, eles morreram sufocados pela fumaça que tinha lá dentro. Qual é a maior população do sul do Brasil? Alemães. O que os soldados do Hitler fizeram com os judeus? Sufocavam. Algum de nós em sã consciência pediria a Deus salvação por aqueles soldados que mataram os judeus? A gente fala: “Que eles queimem no inferno pra sofrer o que eles fizeram os outros sofrer!” Mas Deus é tão clemente que ele arruma um jeito de fazer aqueles espíritos que mataram todos os outros sufocados renascerem nesses jovens amados, queridos, que morreram da mesma forma. O espírito está pagando o que ele fez. E as famílias todas, o Brasil inteiro rezando por eles, entende? Isso é perdoar os nossos inimigos, que a gente não entende. Então, uma pessoa que te roubou, você não vai dizer: “Ah, meu amigo, muito obrigado, leva de novo!” Não, você vai querer acabar com ele. Só que Deus dá um jeitinho, porque Deus ama a todos, porque todos são filhos dele. Então, ele dá um jeitinho, toda aquela família com as namoradas pedindo pelos namorados, com os pais pedindo pelos filhos, que salvem, que ele tenha o descanso eterno. Já morreram e morreram todos como? Sufocados com a falta do ar, do jeito que eles mataram os outros. Eu entendi isso aí muito claramente. E depois uma pessoa confirmou isso pra mim, que já foi aparecido uma resposta espiritual dizendo que foi isso mesmo. Então, eu acho que a gente não dá pra prever e não dá pra você se revoltar com as coisas que acontecem, a gente tem que aprender com tudo que acontece. Você vai sair do seu carro de manhã, tem um carro parado bem na sua porta. Você xinga, mete a mão na buzina, esbraveja, mas você perde ali uns dez minutos pra sair. Na esquina, poderia ter um assaltante que ia te matar. Aconteceu isso com uma amiga minha. O marido dela ia no banco, ficou preso dentro de casa, xingou, ia perder a hora do banco. Chegou, o banco estava fechado, tinha acabado de ser assaltado! Se ele estivesse lá dentro do banco, ele poderia ter levado um tiro. Então, a gente não pode, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que acontece. A gente tem muita pressa, não dá tempo de prestar atenção. “Não, mas eu tenho hora, eu estou cobrado!” Sim, mas pensa primeiro, pede uma luzinha aí que você vai ver como você acha a resposta.
P/1 – A gente estava falando das autodescobertas, né? E, nisso, ainda em relação ao Gilberto, teve algum momento que a senhora pensou que não ia dar conta?
R – Que eu não ia dar conta, não, não pensei. Eu sempre pensei que Deus iria me mostrar o que eu deveria fazer e eu pedia isso, que Deus me fizesse entender os seus desígnios. Que eu estaria como Maria: “Eis-me aqui, Senhor, me faz entender o que o Senhor quer que eu faça, que eu farei com a melhor boa vontade, mas eu preciso entender o quê”. Porque não adianta a gente querer sair feito uma mula sem cabeça, que não dá certo, né? Mas eu agora estou começando a escrever um livro, porque esse primeiro que eu escrevi foi sobre a doença dele. Aliás, não é sobre Alzheimer porque Alzheimer é uma coisa desconhecida, nenhum médico sabe te dizer “esse paciente está com Alzheimer”, hoje, no início da doença. Ou ele aconteceu por causa disso ou daquilo. Só depois que morreu, abre a cabeça e diz: “Nossa, não tem mais cérebro! Era Alzheimer”. Então, eu acho que a gente, eu fiz esse livro contando a minha vivência pra saber o que eu fiz de errado. O livro se chama Faça o que o seu médico diz, não faça o que eu fiz. O que eu fiz de errado não foi com ele, foi comigo, porque Jesus falou: “Ama ao teu próximo como a ti mesmo”. Então, a gente acha que tem que amar o próximo, mas a gente esquece de si. Como é que você vai amar ao outro como a si mesmo, se você não se ama a si mesmo, você não se cuida? Então, eu não me cuidei e passei e passo até hoje, porque fibromialgia não tem cura, é uma dor que te dói do fio de cabelo até a unha do pé, qualquer parte do corpo, a pele, se alguém te aperta assim é muito dolorido, parece que você está queimado, dói tudo. E não tem uma causa física alguma. Já fiz exames de tudo quanto é possível e imaginável, mas dizem: “Não, você está com um pequeno desgaste na coluna, mas relativo à idade, isso não era pra estar doendo desse jeito”. Eu tenho uma fratura de cervical de um acidente, mas foi uma coisa assim que eu nem percebi na hora. Eu estava grávida, não tirei radiografia, 24 anos depois, eu fui fazer exame por causa de todas as dores, e o médico disse: “Você caiu da escada?” Eu falei: “Não, sofri um acidente de carro, por trás, bateu, deu um chicote no meu pescoço”. Ele falou: “Você tem duas fraturas de cervical aqui, do quinto pro sexto e do sexto pro sétimo”. Mas nunca morri por causa disso! E ele disse: “Você ainda estava grávida, você podia ter ficado tetraplégica naquela hora e perdido tua filhinha”. Graças a Deus, não aconteceu nenhuma das duas coisas! E com esse exame foram descobertas outras coisas sobre meu corpo, que eu era pra ter sido paralítica desde nascença, porque existe uma coisa chamada espinha bífida, que o finzinho da espinha se abre em dois. Quando se nasce de parto normal com a espinha bífida, a criança, ao passar pelo canal de nascimento, fecha e quebra uma das beiradinhas dessas duas pontinhas da espinha. E a criança nasce paralítica. Eu nasci sozinha na cama com a minha mãe, de parto normal e dentro de um hospital. E não tive espinha bífida. Acabei de nascer, a minha mãe tinha revisto um drama que ela teve na vida dela, que eu já te contei, e ela entrou em choque, porque meu pai também não estava presente, e ela me chutou e o meu pai me catou porque ele tinha acabado de entrar na sala e eu estava caindo da cama com o cordão umbilical ainda preso em mim. Quer dizer, eu já era pra ter morrido três vezes, é que eu sou gato, ainda deve ter mais umas três ou quatro vidas aí, se Deus quiser! (risos) Mas são coisas assim que acontecem, que a gente não sabe porque a gente está vivo. Então, eu digo, se Deus me está dando chance, é porque eu tenho alguma coisa pra fazer ainda. Agora, também não fico procurando, não. Eu vou vivendo a minha vida da melhor forma possível, que não adianta ficar parada pensando: “É um carma! Eu mereço, eu devo ter sido uma praga na outra vida!” Não! Eu passei por isso porque Deus achou que eu deveria passar, quem sabe, eu também fiz alguma coisa ou não cuidei de alguém. Ou minha missão é cuidar. Já me disseram que a minha mentora espiritual é Ana Nery. Ana Nery era uma enfermeira. Eu cuidei da minha mãe quando meu pai morreu, cuidei da minha sogra, cuidei do meu sogro, cuidei dos meus três filhos, cuidei do marido e agora cuido de três gatos e faço o meu tricô, meu crochê e toco para os doentes. Eu toco em hospitais de doentes terminais. Ontem mesmo, eu fui tocar e assisti a uma coisa maravilhosa de uma pessoa muito revoltada que estava ali na cadeira de rodas, mas ela não estava e ela estava se rebatendo e ela ficava repetindo: “Eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora”. E eu toquei bastante, que eu toco duas horas seguidas lá. E aí no final eu toco aquele: “Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora...”. E ela foi se revoltando, daqui a pouco ela foi parando e ficou ouvindo a música. Aí, ela olhou pra mim, eu joguei um beijo pra ela, ela sorriu. E ela começou a fazer assim: “Mmm, mmm”. Só esse ruído ela fazia. Quando eu terminei tudo, que eu fui despedir dela, que eu tinha tocado essa música, ela estava assim: “Mmmm...”, estava cantando a musiquinha do “Tá chegando a hora”. Então, eu vi que a música faz milagres! E eu tenho um grande anjo músico comigo, porque ontem eu toquei até valsa vienense que eu nunca tinha tocado na vida e chegou uma senhora, que ela é escritora, ela é uma pessoa muito inteligente e ela está um trapo lá, morrendo, esperando a morte. Então, ela chegou no finzinho já, que eu estava me apresentando, que a gente fica tocando num corredorzinho que nem aqui assim. Vai chegando uma cadeira de rodas aqui, outra ali. “É espanhola?” Toco a Granada. “É japonesa?” Toco Sukiyaki. “É francesa?” Toco La Vie en Rose. Então, vai. E a pessoa, o brilho do olho da pessoa é uma coisa que só vendo pra acreditar! E essa senhora chegou e falou: “Você já está indo embora?” Eu falei: “É, nós já estamos no fim, faltam uns dez minutos só. O que a senhora quer que eu toque?” “Qualquer música que você toque.” “Tá bem. A senhora quer um samba?” “Não!” “Opa! A senhora quer um tango?” “Não!” “Meu Deus! Um bolero?” “Não, eu gosto de música clássica!” Eu falei: “Ah, tá bom! Meu anjo, vira o tape aí porque agora é clássico o negócio!” (risos) Toquei Danúbio azul, que eu nunca tinha tocado na vida, toquei valsas antigas assim. Aí eu acabei e falei: “Obrigada, anjinho, você me tirou de uma enrascada hoje, que eu não saberia o que tocar de clássicos pra essa coitada!” (risos) E ela ficou tão contente, com três músicas que eu toquei pra ela, ela saiu sorrindo e jogando beijo, me abençoando. Então, é uma troca tão gostosa, né? Então, eu acho que a minha vida é essa. Cuidei, cuidei, cuidei, cuidei, cuidei e não me cuidei! Agora estou cuidando de mim. Então, estou fazendo as atividades todas lá da Cinemateca, que tem essa senhora que está aqui ao seu lado, essa é uma pessoa maravilhosa que nos encaminha sem puxar pela corda. Ela dá corda assim e a gente fala: “O que eu vou fazer com isso? Não sei fazer nada!” Daqui a pouco, sai lá o tecido prontinho! Ela é uma saca-rolhas, ela consegue tirar cada coisa de dentro da gente que você nem imagina! E ela está me ajudando muito e eu estou trazendo várias coisas com fotografias, com a minha vida toda. E eu acho que esse encontro nosso aqui não é por acaso e é mais uma vez que eu vou ter que refazer a minha vida, porque eu preciso prestar bem atenção no que eu vivi. E o que eu tenho feito ultimamente e, uma vez ou outra, é reviver a minha história. Eu fiquei um tempo assim muito com a história da minha mãe, eu só falava da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe. Agora a minha mãe acho que já sossegou. Ontem eu estava pegando as fotografias pra trazer pra cá e eu fiz a retrospectiva dos meus bisavós, meus pais e o meu pai e minha mãe se encontrando e depois eu nascendo e eu encontrando o Gilberto, fiz toda essa história que nós estamos contando aqui, tudo por fotografia. E procurei bastante fotografia da minha mãe, que eu não tenho muitas dela, de moça. E a Patrícia, minha filha, essa noite disse que sonhou com a minha mãe, que ela estava muito feliz. Minha filha estava coando um café e tinha esquecido de pôr o pó. E ela disse que olhava pra minha mãe e falava: “Vó, esqueci de pôr o pó”. E disse que minha mãe ria muito desse fato. Eu falei pra ela: “Patrícia, pensa bem, você está esquecendo alguma coisa muito importante, que você esqueceu de pôr o pó no café, só que ainda dá tempo de consertar, se você puser o pó, você percebeu que esqueceu alguma coisa”. Hoje, ela me escreve: “Mãe, eu recebi meu imposto de renda que eu pensava que não ia receber nunca mais!” (risos) Eu falei: “Olha aí, quem sabe não é esse que era o pó que estava faltando no seu café?” Ela falou: “E era mesmo, chegou na hora certa!” Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que acontecem. Ah, sonhou com a avó, ah, legal. Não, procura que você encontra. E daí dá mais uma história. Então, é por isso, eu vejo história em tudo que eu vejo, em tudo que eu faço, em tudo que as pessoas me contam. Eu sei de histórias de pessoas que nem os próprios filhos sabem. A primeira história que eu fiz, que eu fiz em DVD inclusive, foi do meu sogro, que ele contou tempinhos antes de morrer. Que ele teve uma isquemia, não podia ficar sozinho em casa e eu ficava com ele até meio-dia, porque aí depois vinha uma pessoa ficar com ele, e eu ia pra loja trabalhar com o meu filho. E, pra ele não se sentir amargurado de ficar ali, que ele falava: “Imagina, você está aqui perdendo o seu tempo comigo!” “Mas não, Seu Edmilde, o senhor lembra quando o senhor veio da Bahia?” Menina, parece que eu destampei uma rolha! Ele sempre quis falar e nunca conseguiu. Ele começou a contar, mas ele me contou, eu tinha um caderno velho ali, eu peguei e comecei a marcar as datas e os fatos. Depois de dez anos que ele tinha morrido, ele morreu pouco tempo depois disso, eu fiz um DVD contando a história todinha com as fotografias da família dele inteira que eu consegui com a família toda e dei pra cada filho e pra cada neto. Agora ele encerrou, ficou lá. Agora eu vou fazer um livro disso, mas com outros nomes. É uma história, chama-se Uma história como tantas, que tem tantas histórias parecidas, mas essa foi a dele. Ele quis contar pra mim e não vai ficar jogado fora.
P/1 – É incrível como a memória vai e vem, né? A senhora vai ter que me ajudar nesse nome, “fibriomalgia”?
R – Não, fibromialgia.
P/1 – Porque eu lembro que a gente estava começando a falar dos primeiros sintomas do seu esposo, que foi quando a senhora começou a sentir. E aí a senhora acabou não contando da senhora e continuou a história do seu marido. Mas eu queria que a senhora me contasse, talvez pode até detalhar com sensações do corpo, como surgiu isso na sua vida, quais foram os primeiros sintomas? Em que momento isso aconteceu?
R – É, os primeiros sintomas realmente foram esses que eu já contei, mas que eu não associei nunca a alguma doença. Como ele tinha perdido o emprego, eu pensei: “É estresse, ele está desesperado, ele está fazendo de conta que não quer ligar pra nada, mas o corpo está reagindo”. Quando eu soube da doença, aí o que eu reagi foi isso que eu te contei, foi um balde de coisas na minha cabeça de uma vez. Eu fiquei assim paralisada. Fui pra casa, entrei na internet e fui saber o que era o Alzheimer. E tinha um médico que dava um atendimento nessa época pela internet. Ele foi proibido de fazer isso. E eu escrevi pra ele, à noite mesmo: “Doutor, aconteceu isso e hoje eu passei no meu médico e ele falou que possivelmente, possivelmente não, que ele já está com Alzheimer e ele está com esse e esse, deu esse e esse resultado dos exames”. Ele olhou e falou: “Infelizmente, minha senhora, ele está mesmo nesse sentido com o Alzheimer mesmo, já não é nem provável, ele está com Alzheimer mesmo”. E aí eu não me desesperei, nenhum momento. Eu não verti uma lágrima desde a doença do Gilberto até a morte dele, nem a morte dele. Porque a morte dele foi um alívio pra ele. E eu, então, procurei me informar, eu fiz quatro ou cinco cursos de cuidadores e fui fazer um curso no Hospital das Clínicas junto com ele. Ele ficava com os doentes, e eu com os cuidadores, aprendendo. Então, eu queria saber o que eu poderia fazer, a única coisa que me interessava era essa. Eu quero que ele aproveite até o último momento da vida dele bem, mesmo que ele... Se ele não quiser, é porque, que nem a viagem, o dia que ele falou “não quero”, eu não forcei mais. Mas eu estimulava pra que ele se interessasse por alguma coisa. E a única coisa que ele se interessou foi conhecer os municípios, que ele mesmo depois não quis mais. Mas eu não tive assim em nenhum momento: “Por que será que eu estou pagando por isso? Eu não aguento mais, eu quero parar, eu quero morrer”. Não! Isso a gente sente, todo mundo sente e eu sinto também, no momento em que você ainda não está ciente do que aquela pessoa... Você conhece a tua mãe, conhece o teu pai, conhece o teu namorado, teu marido, não sei se você é casada, como aquela pessoa. De repente, aquela pessoa tem uma atitude com você assim que te deixa desesperada. “Você está me fazendo de boba, está me fazendo de palhaça, não está querendo me entender!” Você fala, renega, você mostra a coisa, não é isso! Você chega num ponto que você está exausta, você deseja que ele morra! Isso não é pecado, não, a gente deseja se ver livre daquele problema. Mas na hora que você vê o sofrimento da pessoa, a gente quer é ver ela bem. Se o bem é morto, que seja. Eu fiz uma gravação, eu até trouxe aí se você quiser ver. Existe uma casa de repouso que se interessou pelo meu livro e eu fui procurar essa casa de repouso pra mim. Quando eu fiz 70 anos, no fim do ano passado, eu comecei a me avaliar. Eu falei: “Bom, eu já estou com 70, minha mãe morreu com 72, meu pai morreu com 53 e eu já passei dele”. Minha mãe morreu com 72 e eu já estou com 70. Meus três filhos me adoram, me tratam muito bem, minhas duas noras são maravilhosas. Mas, na vida de hoje, eu não queria ficar dependendo deles, nas casas deles, como tive que ficar com os pais dele e com o Gilberto e com a minha mãe também. Então, eu conheço algumas casas de repouso que foram as que cuidaram do Gilberto, ele esteve em três casas diferentes. É um lugar de cuidado de doente, então, a pessoa entra lá doente e ela tem que ter os cuidados, tem que tomar banho, tem que fazer tudo nela porque ela está doente. E eu não queria isso, eu queria um lugar que cuidasse de mim assim, tenho a cama arrumada, tenho a roupa lavada, tenho a comida feita, pra eu ficar só escrevendo, só fazendo o que me dá prazer. Chega no fim de semana, eu quero receber um filho, o filho vem, me visita, me leva pra casa dele, nós passeamos. De noite, eu volto para ali. Queremos ir num teatro, num circo, vamos lá. Mas que eu tivesse um lugar que cuidasse de mim, um hotel com serviços, que eu não precisasse estar arrumando a minha cama toda manhã. Então, eu passei na frente de um lugar que eu vi que era uma casa de repouso boa, famosa, e entrei. E a pessoa que me atendeu fez uma entrevista comigo. E eu contei por que eu estava sozinha. E ela se interessou pela história do meu marido, e eu falei pra ela que tinha escrito um livro. E ela quis um livro, comprou dois, um pra ela e um pra dar pro diretor da casa. Ela disse que leu o livro numa tacada só, e ele também, e quiseram um livro. Eles compraram 100 volumes do livro pra doar pros familiares das pessoas que estão nessa casa de repouso, que é uma casa chique, com Alzheimer. E eu participo de vez em quando de algumas palestras que eles fazem lá pela ABRAz, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Eu participo com a Doutora Vera Anita Bifulco, que ela faz uma palestra com aulas para cuidadores todo mês, uma vez por mês, era no Hospital Santa Catarina e agora é no Hospital Nove de Julho. Eu vou lá, geralmente é na primeira terça-feira do mês, e a gente faz a entrevista com eles, depois que ela conta, as pessoas estão ainda cheias de dúvidas, e a gente vai indo, depois eu começo a dar um pouco dos meus depoimentos. E muitos deles também já compraram o livro ali na ocasião. Então, essa casa se interessou muito por isso e eu falei pra ela: “Eu agora gostaria de fazer um livro sobre o cuidador, o que eu senti”, que são essas perguntas que você está me fazendo. E eu vou sem pudores nenhum dizer mesmo que tem momento que dá vontade de dizer: “Por que não morre? Já está aí mesmo mais morto do que vivo e só dando problema e sofrendo!” Mas, na hora da morte, foi uma coisa tão sutil, tão sublime, que Deus me levou até ele sem eu estar lá. Eu tinha ficado com ele, você tinha me perguntado alguma coisa a respeito disso, eu fiquei com ele das 11 até às três e meia da tarde. E com vontade de ir embora pra casa. Já fazia 12 dias que nós estávamos no hospital, ele já estava em conforto, mas estava vivo. E eu cheguei e pensei: “Mas por que será que eu estou com vontade de ir embora pra casa? Eu vou”. Cheguei até ele, ele não estava entubado, nada, ele só tinha o oxigênio e tomando soro e proteínas, só pro corpo não morrer de fome. Aí, eu falei: “Gilberto”. Ele respirou mais fundo, quer dizer que ele me ouviu. Falei: “Olha, olha ali, está teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, Jesus, estão todos te esperando. Vai, vai fazer teu trabalho. Você tem um trabalho muito bonito pra fazer lá, que agora aqui você não está conseguindo fazer. E, quando menos você esperar, eu vou também aparecer por lá, mas agora eu não vou, eu vou ficar aqui, só você que vai”. Ele continuou imóvel, eu rezei um pai-nosso, uma ave-maria, e saí dali. Eram três e meia da tarde. Na esquina da minha casa tem um Extra, um Hiper Extra. Eu entrei no mercado e fiquei andando dentro do mercado que nem uma sonâmbula até às seis e meia da tarde. Três horas andando dentro do supermercado, vi preço de tudo, não peguei nada. Aí, falei: “Ah, tem aquela novelinha Eta mundo bom terminando, eu quero ver o finzinho dela”. Fui pra casa e com uma dor aqui nas costas que eu não podia dormir deitada de costas, que doía, doía. Se eu passasse mais de cinco horas dormindo, acordava de manhã que parecia que tinham me torcido a noite inteira assim. Aí, eu cheguei na cozinha, pus um chá de hortelã pra fazer no micro-ondas e voltei pra sala. Liguei a televisão, deitei no sofá, pus os pés em cima de uma almofada, meu pé estava bem inchado. E eu tenho um gato que, quando eu não estou muito bem, eu deito e ele vem na minha cabeça, encosta a testa assim e faz rrrrr, rrrrr. Parece um scanner! Vai passando, passando, passando, daqui a pouco ele desce, vai embora, e a gente se sente mais leve. É um gato curandeiro, eu só estou cercada de anjo, gente! Aí, eu peguei, deitei ali e ele não veio. Ele foi no outro sofá e ficou assim deitadinho com as patinhas assim, encostadinho, olhando pra mim. E eu vi lá, seis e meia, Eta mundo bom. Daqui a pouco, eu senti assim, shhh! Eu abri o olho, eu não sabia onde eu estava. Falei: “Onde que eu estou, onde que eu estou?” Olhei lá, o gato na mesma posição. Olho na televisão, Programa do Jô, meia-noite! Eu fiquei das seis e meia até a meia-noite deitada de costas e falei: “Não vou conseguir levantar daqui, como é que eu vou levantar agora?” Peguei, sentei, levantei sem dor nenhuma, parecia que eu tinha acabado de deitar. Falei: “Nossa, o chá, ainda bem que eu pus no micro-ondas, se tivesse posto no fogo, tinha posto fogo na cozinha!” Acendi de novo o micro-ondas pra ele esquentar o chá, falei: “Vou tomar um banho, tomo um chá e vou dormir”. Conforme entrei no banheiro, tirei o sapato, tocou o meu celular: “Dona Cléa, aqui é do hospital, o Seu Gilberto faleceu às 23 e 59”. Eu falei: “Eu estive lá com ele. Eu estive lá com ele!” Ele, sozinho, não iria. Então, ele foi. Aí fui lá, não me desesperei, liguei para os filhos, o meu filho caçula ficou muito desesperado, ele sentiu muito a morte do pai, não sei por quê, mas sentiu. Que em vida não ligava muito (risos). Aí, nós fizemos todas as tratativas e de manhã estava tudo certinho e ele foi cremado. Então, depois de uns dias, um mês, eu fui buscar as cinzas. Ele morreu dia 19 de julho de 2016. Aí, eu falei: “O que nós vamos fazer com as cinzas?” Nós tivemos um apartamento no Guarujá, que era o sonho da vida dele morar lá. A gente ia, eu detestava praia, mas eu concordava com ele: “Nós vamos morar lá, vai ser legal”. Mas já tínhamos vendido o apartamento. Mas era na Praia da Enseada, uma praia que ele adorava. E teve o Dia dos Pais, dia 10 de agosto. Aí, nós pegamos as cinzas, os três filhos, levamos lá no Guarujá e colocamos as cinzas na beira da praia, encostadinho no muro, um lugar que ninguém vai pisar nunca, porque tem uma descida de barco pra lá que ali ninguém vai pisar. Estava um dia lindo, lindo, lindo, um céu azul, um ar fresquinho, embaixo de um coqueiro. Ele ficou tão bem lá! E minha filha tirou uma fotografia linda da gente. Estava um sol forte, já era meio-dia e meia, mais ou menos, e pegou as nossas quatro sombras em cima da areia assim. Eu pus até essa foto no livro também. E assim ele ficou lá. Mas ele não está lá, está lá a areinha. Já falei pros meus filhos, quando eu apagar também, se vocês conseguirem catar a areinha, traz aqui também e põe aí! E assim ele foi. Mas eu tinha certeza que, se eu não tivesse insistido, ele não iria. E, depois disso, eu senti uma noite, fazia um mês, mais ou menos, que ele tinha ido. Eu estava deitada na sala onde a gente dormia antes e eu senti um peso aqui em cima do meu ombro. E eu estava com o lençol assim e sentia um ar, uma respiração aqui, quente aqui assim. Eu não tive medo nenhum, eu virei e falei: “Gilberto, vai embora, você não mora mais aqui. Agora eu estou aqui, eu te falei que logo, um dia, eu ia te encontrar, mas não é agora, não. Eu não sei se eu vou te encontrar. Vai que você tem uma coisa muito importante pra fazer”. Parou, eu virei do outro lado e dormi. E agora, faz uns dois meses, eu estava já no meu quarto e ele apareceu em sonho, não vi de olho aberto, não, sonhei. Ele estava do lado da minha cama, mas num lugar muito claro, muito claro e ele estava com uma calça jeans delavê, que nem a calça dele, e uma blusa clara, branca. E ele estava moço, bonito. E ele chegou e me abraçou, falou: “Ah, Cléa, eu estava com tanta saudade de você!” Eu falei: “Ah, eu também estava”. E, puf, acordei. Então, acho que ele pediu licença pra vir ver se eu estava ainda ali. Tá, estava ali ainda! (risos) Então, isso me consola, sabe? É uma coisa que não me dá tristeza, não me dá mágoa dizer “ele morreu”. Não, ele foi fazer o que ele precisava fazer.
P/1 – Então, voltando, a gente estava falando como foi depois do falecimento do seu esposo. Eu queria saber quais foram os primeiros cuidados com a senhora.
R – Olha, o Gilberto foi tão nobre, tão digno, que ele foi saindo da minha vida física aos pouquinhos. Então, ele teve 11 anos de doença, que ele era o Gilberto e ele foi deixando de ser o Gilberto, até o ponto de ele ir pra uma casa de repouso, que também não foi assim: “Família, vamos decidir mandar o papai pra uma casa de repouso”. Não. Eu estava reformando a minha casa, porque uma obra do fundo, construíram 30 andares no fundo da minha casa, derrubou areia, entupiu as minhas calhas, a água subiu, pegou o estuque da casa, na parte que era estuque ainda e veio pra baixo. Então, nós tivemos que fazer uma laje dentro da casa, morando na casa! Com ele doente dentro da casa! Então, nós fomos pro andar de baixo e começaram lá em cima. Só que, pra ele, aquela entrada e saída de pedreiros, mesmo que ele conhecesse o pedreiro, Seu Manoel, era um pedreiro de muitos anos nosso, um senhor baixinho. Ele, acho que pela doença, ele se sentia inseguro e de ser o meu dono. Então, ele não podia me ver conversando com homem nenhum. Tinha um vizinho de frente, que era um rapaz que tinha uma empresa de caminhões, que fazia lajes de ferro, então, vinham aqueles caminhões, paravam lá, ele achava que o caminhão estava subindo em cima do telhado, ele odiava, ele xingava, ele gritava! E o rapaz às vezes até fazia uma mudança, trazia uns móveis pra gente, ele foi maravilhoso com a gente. Um dia, eu estava conversando com ele no portão, o Gilberto saiu de dentro de casa, nervosíssimo, encontrou o rapaz: “Oi, tudo bem, tudo bem”. E começou a chutar o pneu do meu carro, chutando, chutando, chutando. Eu falei: “Dá licença que eu vou entrar”. Quando eu entrei, ele quase me bateu lá dentro, ele chegou às raias assim de se segurar pra não me agredir. Eu falei: “Mas o que aconteceu?” Ele: “Você fica falando com qualquer um no portão!” Então, era insegurança da doença, né? E eu, então, nós tivemos que ficar com ele ali dentro, com aquela obra, com aquela insegurança dele e tínhamos tido um problema com um cuidador que veio cuidar e derrubou o Gilberto. E eu, pra evitar que ele caísse, pulei por cima da cama hospitalar pra enfiar a cadeira de banho embaixo dele, pra ele não ir pro chão direto. O moço quis pegar ele no colo que nem uma criança! Um homem de 80 quilos vai pegar? Não aguentou. Aí ele começou a deslizar, cair e eu enfiei a cadeira lá embaixo. Bom, o rapaz não veio mais, no dia seguinte veio uma primeira cuidadora que tivemos, mas ela falou: “Só venho hoje, não vou mais poder trabalhar, amanhã não estou nem em São Paulo”. No sábado, teve a noite o casamento do meu filho solteiro, então, nós fomos, fizemos o casamento dele e no dia seguinte íamos começar a laje, porque meu filho ainda dormia em casa, então, como ele ia embora, na segunda-feira ia começar a laje. E, nesse domingo, no sábado, nós fomos com essa cuidadora antiga que veio só pra cuidar no sábado, fomos no casamento do meu filho, tudo bem. No domingo, o meu filho não viajou em lua de mel, eles já tinham feito uma viagem antes, ele falou: “Não, agora eu só vou casar, depois a gente passeia”. Vieram todos os três filhos em casa, ajudar a tirar todos os móveis lá de cima, porque ia começar a laje. Então, aí a balbúrdia ficou muito pior! Eu sem cuidador, pedi pra vir alguém. Era uma empresa de cuidados que fazia o serviço, me mandaram uma menina. Eu falei: “Meu Deus do céu, mas você conhece paciente de Alzheimer?” “Ah, sim, minha amiga tinha uma prima que tinha Alzheimer e eu ia lá visitar ela.” Eu falei: “Ah, meu Deus do céu, em que lugar eu amarrei meu cavalo!” Mas tudo bem. Então, tá: “Fica aí cuidando”. Ah, e pra ajudar, as minhas duas netas, do meu filho do meio, vieram ficar em casa porque a mãe delas saiu do casamento do meu filho e foi pra China a trabalho. Então, tudo de uma vez! E eu estava lá assim, não sabia nem a comida que as crianças gostavam, porque elas nunca ficavam comigo, e a menorzinha tudo que pegava vinha me mostrar: “Ó, vovó, ó, vovó!” Tá tudo bom, e orientando a moça com o Gilberto, a moça não sabia nada! Ela chegava e dizia assim: “Dona Cléa, Dona Cléa, posso medir a pressão do Seu Gilberto?” “Pode, bem.” “Ah, está bom. É que eu gosto de perguntar.” “Tá, mas você faça aquilo que você já sabe fazer.” Tá. “Dona Cléa, Dona Cléa, estava com 12 por... Ah, espera aí que eu já vou ver.” Eu falei: “Não, eu não quero saber, marca lá”. “E onde que eu marco?” “Você não tem uma ficha pra marcar?” “Ah, é mesmo, que cabeça!” Bom, e eu ali: “Vovó, faz batata frita?” Tá bom, vou fazer. E minha filha: “Mãe, onde nós pomos aquilo que a gente está tirando do seu guarda-roupa?” “Ah, amarra tudo lá, põe na sala e depois eu vejo.” O gato correndo pro meio. Essa menina me vem ali na porta, eu falei: “Olha, tem que dar a comidinha dele, tá? Aqui tá prontinha a sopinha, você dá pra ele”. “Ah, está bom.” Terminei, eu falei: “Agora você tem que escovar os dentes dele”. “A senhora tem assim um palito de sorvete?” “Não tenho, bem, não tenho palito de sorvete. Pra que você quer?” “É porque eu quero fazer uma boneca de gaze pra limpar os dentes dele.” Eu falei: “Olha, ele tem a escova de dentes, você passa ali um pouquinho, faz um enxaguante, está ótimo”. “Ah, está bom.” Daqui a pouco ela volta de novo: “Olha, Dona Cléa, eu achei um bolinho de gaze lá, a senhora não tem mesmo nem um palito de sorvete?” Vem a minha neta: “Vovó, olha, eu quebrei.” Eu tinha comprado um aromatizador que tinha uma florzinha assim de madeira com um palito. Ela pegou e quebrou. Eu peguei o palito: “Tá aqui o palito, pronto, vai! Deixa a florzinha que a vovó vai ver depois!” Meu filho, que tinha casado, viu esse mal estar e falou: “Mãe, essa cara não faz nada?” Eu falei: “É, é o que temos pra hoje!” Daqui a pouco eu estou lá, vem essa mocinha atrás da porta da cozinha assim: “Dona Cléa! Dona Cléa, bonequinha, bonequinha, Dona Cléa!” Ela tinha amarrado a gaze naquele palitinho. Ah, meu filho falou: “Olha, bem, não precisa vir mais, pode arrumar suas coisas e ir embora. Pelo amor de Deus, mãe, você está ficando louca com essa mulher, ela não sabe fazer nada!” Então, eu falei: “Meu Deus, e como é que nós vamos fazer agora?” Eu tinha passado, na quinta-feira, uma vizinha do lado tinha me falado de uma casa de repouso do Ipiranga. Eu nem sabia que tinha casa de repouso ali naquele lugar. E eu na sexta-feira tinha ido buscar material pro pedreiro, pra ele começar na segunda-feira, eu já ia deixar o material pra ele lá em casa. Então, eu fui na Leroy Merlin e na volta eu subi a Rua da Imprensa e entrei à direita, como fazia sempre, o meu carro morreu na frente da casa de repouso! Eu falei: “Jesus, é um sinal!” Desci e fui lá. Conversei com as pessoas, era muito simples, mas eu falei: “Não, pelo menos é um lugar que ele fica acomodado”. Mas não pra agora, pra um dia. Pois o dia chegou no domingo mesmo! Aí, meus filhos falaram: “Mãe, vamos pôr o pai lá até terminar a obra, depois ele volta pra casa. Assim, ele não fica vendo esses pedreiros aí dentro”. Eu falei: “Boa ideia”. Liguei pra lá: “Pode trazer”. Então, no domingo mesmo, eles foram pra lá. Eu fiquei lá com ele até umas nove da noite, e ele estava pensando que estava no hospital, ficou quietinho, tinha as enfermeiras, cuidavam dele. Na segunda-feira cedo, eu tinha já marcado há muito tempo um eco-doppler de varizes, e eu fui fazer, pra de tarde visitá-lo lá na casa de repouso. Conforme chego na clínica pra fazer o eco-doppler, o técnico falou assim: “Dá uma olhada nisso aqui”. Virou a tela pra mim, uma parte assim da veia vermelha. Ele falou: “A senhora está com um trombo de 15 centímetros a um centímetro da veia femoral. Se escapar um pedacinho, vai pro pulmão e a senhora vai ter uma trombose e vai morrer!” Eu falei: “Quê? Trombose?” Ele falou: “Está, está aqui em cima, bem pertinho da veia femoral. A senhora vá pra casa devagarinho, não faça esforço, não bata essa perna”. Eu falei: “Jesus, ontem eu pulei em cima da cama hospitalar com essa perna e ainda me estiquei toda lá!” Eu falei: “Senhor, o Senhor está me dando sinais aí e eu não estou obedecendo”. Tá bom. Então, fui pra casa e aí ele já estava na casa de repouso. Foi uma forma que Deus achou pra não me dar remorso de ficar sozinha em casa. E eu ia toda tarde, só isso que eu fazia, pegava o meu carro e ia pra lá, ficava das quatro às nove da noite com ele. Foi o pior período da minha vida, porque, enquanto eu estava lá, ele gritava, ele não conhecia nada, ele virava, ele virava, ele virava e, quando eu saía, eu ia escutando: “Cléa, Cléa!” Aquilo foi muito triste pra mim, foi o pior momento. Mas ele foi ficando, foi ficando e ficou ruim e fomos pro hospital e ficamos 18 dias internados, eu com ele, no hospital, por causa da infecção. Melhorava, estourava a fístula, rasgava tudo, ele voltava pra casa bem da fístula, calmo, mas a cabeça, aí, piorava tudo mesmo! Isso se repetiu muitas e muitas vezes. Então, o momento dele fora da minha casa foi assim, o choque do primeiro dia, mas o conforto de saber que eu não estava abandonando ele, era uma necessidade. E isso só Deus mesmo, porque eu fiz um tratamento de três meses e não tinha mais trombo nenhum. Dá pra desconfiar, né? O meu anjinho lá falou: “Só mandando uma trombose pra essa mulher parar!” Aí ele ficou nessa casa uns oito meses. Aí, de repente, o dono começou com umas exigências descabidas pelo conforto que tinha na casa, eu tirei de lá e fui pra casa da esposa dele, que eles eram separados, cada um ficou com uma casa. E ela era enfermeira, a filha também era enfermeira, então, eles montaram uma outra casa muito boa, ficou lá também uns seis meses, mais ou menos. Eu sei que, ao todo, ele ficou três anos em três casas de repouso diferentes. E a última foi lá perto de casa mesmo, um lugar muito tranquilo, também muito bem organizado, e até essa moça que atendia nessa casa de repouso, que era a chefe de enfermagem lá, ela se desentendeu com o dono, porque ele começou a mandar embora pacientes que estavam demorando muito pra morrer (risos). Então, dizia: “Ah, esse aí só está dando trabalho, manda pra casa!” E dois pacientes que ela conhecia, um era de Mato Grosso, era um rapaz novo ainda que não se sabia por quê, ele ficava só em cima do sofá, escorregava e caía, tinha que amarrar e ele muito mal. Eles mandaram ele pra lá e diz que, de lá, a irmã pôs ele num hospital e voltou pro Mato Grosso. Quando voltou, ele estava sedado no hospital, amarrado na cama pra não dar trabalho, porque ele não parava. Aí, essa moça saiu de lá da outra casa, montou uma casa de repouso e, até montar a casa, ela ficou com ele, ela pôs ele na casa dela, cuidou dele na casa dela por três meses, ela e o marido dela, até pôr a casa de repouso. E agora é pertinho da minha casa, e eu vou lá tocar de vez em quando na casa. E tem pacientes que eram de lá, que eles tinham posto pra fora, ela pegou todos. E eles me reconhecem quando eu chego pra tocar, e a gente, eu toco aquelas músicas, tem uma senhora que ela é cantora mesmo, tem uma voz de soprano maravilhosa. Aí, eu toco Torna a surriento, essas músicas italianas assim, e ela já não lembrava mais. Eu cheguei assim: “Dona Luísa, eu sou a Cléa que tocava, lembra?” “Ah, sim.” Quando eu comecei a tocar, ela já abriu o olho e começou a cantar. Então, a música faz muito bem pra todo mundo e eu levo aonde eu posso.
P/1 – Eu tinha perguntado de como foi após o falecimento do seu esposo, o que a senhora fez com a senhora, quais os cuidados quando a senhora se viu cuidando da senhora?
R – De mim. Então, e aí eu falei, eu já estava sem ele durante esse tempo e no último ano antes dele se ir, eu sou da Prevent Senior, nós somos da Prevent. E a gente, eles tinham um convênio com o Clube Juventus e tinha todas as atividades físicas de atletismo, de tudo, fisioterapia, até de hidroginástica, tudo no Juventus. Eu não posso fazer hidroginástica porque eu tenho alergia ao cloro, nem com a piscina da outra eu não posso fazer. Então, a gente se reuniu lá tocando. Um dos professores era cavaquinhista, ele tocava num conjunto de cavaquinho, pagodeiro. E aí a gente se reuniu, tinha um senhor que já faleceu também, o Seu Antônio, ele tocou até no canal sete, tocava violão muito bem. E, então, reuniu, eu com a harmônica, o Seu Antônio com o violão, o rapaz com o cavaquinho, veio o Seu Mário com o bandolim e veio o Seu Luiz com pandeiro. E a gente tocava pra chuchu. Então, a gente fazia os ensaios toda a semana nas quartas-feiras e durante a semana a gente ia tocar numa das entidades das unidades do convênio, tocava na portaria pras pessoas que estavam ali esperando, tocava para os doentes. Então, tocamos assim por mais de um ano, muito gostoso. Mas, depois, eles desmancharam o convênio lá e eu parei. Então, o que eu fazia era tocar, sempre foi tocar. Eu tocava com o Gilberto também, então, no começo da vida, eu aprendi a tocar com sete anos de idade e depois não toquei mais, porque acharam que estava atrapalhando os estudos. Porque eu me interessei mais pela música do que ficar estudando matemática com sete anos de idade! Estudei oito meses, eu já estava tocando o Frevo dos Vassourinhas, estava tocando valsas grandes, porque tinha facilidade de tocar. Aí, quando paramos, a harmônica ficou lá guardadinha, eu tinha uma pequenininha. O meu pai tinha comprado uma de 80 reduzida, ela é pequeninha, mas tinha 80 baixos também. E ficou lá a harmônica. Um dia, minha mãe estava ouvindo uma música no rádio e eu peguei a harmônica e comecei a tocar a música que estava tocando no rádio. Minha mãe falou: “Você está tocando essa música?” Eu falei: “Estou. Tá certo?” Ela falou: “Não sei se está certo, mas que você está tocando, tá!” Aí, eu fiz uma seleção de 150 músicas num caderno com o número de um a 150. Então, durante a tarde, eu falava assim: “Mãe, fala um número aí de um a 150”. “78.” É tal música. Aí, tocava a música. E tocava assim sozinha com a minha mãe. Depois que eu fiquei adulta, que eu casei, eu parei de tocar, nunca mais toquei. Porque foi assim: no primeiro ano de casada eu tive a Patrícia. Eu casei dia 8 de janeiro, ela nasceu no dia 20 de outubro. Voltei da lua de mel grávida! E ela já estava com oito meses, que era no dia 7 de setembro do ano seguinte, com uns nove meses já, eu fui visitar minha mãe e ela tinha um sofazinho de vime, bem levinho. Eu pus no meu quarto, o quarto estava montado ainda, então tinha a minha cama, a janela, o sofazinho ali, eu pus o sofazinho de frente pra janela e pus minha filhinha ali, que ela já ficava em pé, olhando no jardim, porque tinha um muro, não dava pra ver a rua. E peguei a harmônica na cama e dei o primeiro som. Ela virou pra trás pra ver, bateu a mão nas costas do sofá levinho, virou e ela veio com aqui na beirada da cama, que era uma quina assim, abriu aqui a testinha dela! Eu joguei a harmônica e falei: “Nunca mais eu vou tocar!” Peguei ela ali, corremos pro hospital, aí vai dar ponto, segura a criança, põe um pano aqui segurando. Segura a mãe que está desmaiando lá atrás! Então, eu nunca mais toquei. O meu pai, quando comprou essa harmônica pequenininha, eu tinha sete anos. Quando eu já era maior, que ele viu que eu estava tocando as outras músicas todas de ouvido, ele me comprou uma de 120 baixos, italiana, Scandalli. Pesava uns 20 quilos a harmônica! Eu tocava, ficava com uma marca roxa aqui e aqui na perna. E eu tocava nas duas. Depois que eu parei, meu pai morreu, aí nunca mais toquei, fui parando tudo. Quando eu me casei, aconteceu isso com a nenê e, depois de um tempinho, o Gilberto estava desempregado e eu vendi as duas harmônicas a preço de banana com as caixas, os estojos, tudo, com o carimbo da Itália que tinha vindo da Itália tudo. Uma harmônica que hoje valeria uns 20 mil reais. Vendi as duas com o estojo e tudo por dois mil cruzeiros! (risos) Era a necessidade, né? E fiquei sem instrumento, nunca mais toquei. Quando meus filhos tinham dez anos, começaram a fazer a primeira comunhão, catecismo pra fazer a primeira comunhão. E eu vi a moça que tocava violão na igreja. Aí, o Gilberto me comprou um violão e eu comecei a fazer um cursinho só pra aprender as primeiras posições. E eu tocava na igreja, na hora de fazer o evangelho pras crianças, tocava uma musiquinha lá e eu tocava essa musiquinha. Aí, comecei a tocar alguma coisa de ouvido e depois comprava esses livrinhos de violão, já estava tocando violão razoavelmente, mas tocando aquele violão que você tem que acompanhar e cantar, porque não tinha solo. Aí, eu falei: “Ah, esse não tem muita graça”. Um vizinho de frente encontrou com Gilberto e falou: “Olha, Gilberto, agora em junho nós vamos fazer uma festa junina lá numa chácara que a gente tem em Ribeirão Pires. Vocês vão lá, vão fazer quadrilha, vão fazer tudo. Só não temos assim um sanfoneiro, se tivesse pra fazer!” O Gilberto disse: “Mas a Cléa toca”. “Ah, ela toca? Então, vamos lá!” Ele disse: “Mas ela não tem a harmônica”. “Ah, compra uma harmônica pra ela!” E aí vinha o Dia das Mães, e o Gilberto me comprou essa aí. E, daí, nós começamos a ir, nós fomos lá nessa festa, eu levei a harmônica e minha mãe tinha um afuxê, aquele chocalho que você tchictchictchic! E ele tinha um ritmo maravilhoso, eu nunca tinha sabido disso. Então, a gente ia à festa, tocávamos até rachar com os amigos lá, que tocavam violão, tudo, juntava tudo, chegava em casa, eu guardava a harmônica, guardava o afuxê, nunca mais a gente tocava. Nunca tocamos juntos em casa. Mas hoje vai ter uma festa, nós íamos lá, parecia que tínhamos ensaiado a semana inteira, tocava tudo direitinho. E, quando ele foi pra casa de repouso, eu, no casamento do meu filho Renato, que foi esse último, que foi em 2014, foi a última vez que ele tentou tocar pra me acompanhar, que eu falei que ia tocar no casamento do Renato e que ele iria tocar junto. Nós fomos e aí ele começou, eu amarrava o chocalho pra ele não derrubar. Ele começou a tocar, de repente, ele parou no meio da música assim e largou o instrumento, não saiu mais nada. Aí, ele foi, casou, olha só, foi no dia do casamento dele. No dia seguinte, foi o domingo que ele foi pra casa de repouso. Então, eu comecei a ir tocar na casa de repouso. A primeira vez que eu fui, eu levei o afuxê e tentei tocar com ele, ele começou a chorar e não conseguiu tocar. Aí, eu não fui mais tocar nessa casa. Quando ele estava no quarto, eu ia tocar pras pessoas lá debaixo. E ele ouvia só de lá, mas não percebia que era eu que estava tocando. E tinha uma música, A comadre Sebastiana, que era “a, e, i, o, u, ypsilone”, que ele gostava dessa música, então, ele levantava e saía tocando e dançando. Eu, na terceira casa, na casa de repouso que ele morreu, ele já estava com... Tomava muito remédio, já não ficava acordado, olhando, ficava com os olhos fechados. Então, ele estava assim numa sala, no sofá assim deitadinho com os pés na poltrona e com os olhos fechados. E eu tocando A comadre Sebastiana. E o dedo do pé dele marcando o compasso. Então, isso me marcou muito, eu falei: “Ele ainda está tocando comigo!” E, daí pra cá, ele se foi e eu continuei tocando. Quer dizer que, então, a música é o que me liga e liga com pessoas doentes e pessoas idosas. Eu não sei o porquê, mas eu toco num asilo uma vez por mês que é só de senhoras, que tem um grupo de jovens que fazem o aniversário das pessoas. Então, eles reúnem todo mundo e fazem um bolo, e eu estava tocando na casa quando um dos rapazes chegou: “Ê, parabéns, não sei o quê!”, eu não sabia o que estava acontecendo, ele viu eu tocando e falou: “Nossa, mas você viu como a turma se anima?” E ele dança com as senhorinhas na cadeira de rodas, é um espetáculo, elas ficam supercontentes! E aí ele falou: “Ah, você não quer acertar pra vir tocar quando a gente vier? A gente vem tal dia, tal dia...” – me passou o cronograma do ano inteiro. E eu tenho ido sempre com eles, já faz acho que dois anos e meio que a gente toca. Inclusive, domingo agora, eu vou tocar de novo. E toco todos as semanas, nas terças-feiras, nesse hospital. Já toquei em muito hospital que as pessoas me conheceram por uma ocasião, uma situação qualquer e disso, eu quero ir tocar e vou. E toco nessa casa de repouso perto de casa também. Então, é assim, uma delícia!
P/2 – Eu queria perguntar sobre quando você estava descendo, quando você ia fazer as viagens com ele, que lugar era aquele que você disse que tinha as cruzes?
R – Era... Não é Juquitiba, não. É pra cima de Registro um pouquinho, é uma cidadezinha dali, não vou me lembrar do nome dela agora. Mas é um pouquinho antes de Registro, no sul do Estado de São Paulo, quase em Registro já.
P/1 – E agora eu queria saber um pouco sobre a fibromialgia.
R – Muito bem. A fibromialgia apareceu em mim, como eu já lhe disse, em 1980. Então, a minha mãe tinha vindo morar comigo, já cardíaca, porque eu tinha... (risos) Eu nunca consigo dizer tal coisa, eu tenho que contar a história pra se entender a coisa! A minha sogra, ela era hipocondríaca. Então, se você ia visitá-la, ela estava muito bem lá, tudo bem. “Como é que você está?” “Ah, eu estou com uma dor no braço hoje, eu não sei o que aconteceu, amanheci com uma dor no braço.” Dali a pouquinho, falava pro marido dela: “‘Veio’, vai lá na farmácia me comprar um Gelol pra passar aqui porque eu estou com uma dor no meu braço que eu não aguento!” E estava mesmo, ela sentia a dor no braço! E minha mãe era cardíaca, mas não sabia. Ela tinha uma dilatação da aorta, que ela descobriu uma vez há muito tempo quando era moça, mas nunca cuidou. E eu já estava com as três crianças, e ela vinha a pé da Vila das Mercês até na Vila Vera pra me visitar, porque a gente não tinha telefone naquela época. Ela tinha, mas eu não tinha. E a gente morava de aluguel porque a minha casa, que era minha, era aquela do aeroporto que eu falei, estava lá alugada pra outra pessoa, porque nós não fomos morar lá, porque ficava longe do emprego do Gilberto. Aí, um dia, a minha mãe vinha visitar, quando ela chegou em casa, ela estava com as pernas muito inchadas. Eu falei: “Ô, mãe, a senhora está com a perna tão inchada!” Ela falou: “Ih, tem inchado todo dia minhas pernas, eu tenho sentido uma canseira!” Eu falei: “Ah, por que a senhora não passa num médico?” Tinha um médico da família na Via Anchieta, Doutor Floriano Basaglia, que era médico desde a minha avó, cuidou do meu pai, cuidou da família inteira. “Passa por ele.” “Ah, eu vou.” Aí, ela foi, ele deu Higroton, que era pra esvaziar, e deu um Digoxina, um comprimidinho pra ela tomar. Mas eu não fui com ela, porque eu tinha as três crianças, ela foi sozinha. Quando terminou o remédio, ela parou de tomar. Aí, a minha sogra tinha estado com a minha mãe e perguntado pra ela: “Nossa, sua perna está bem melhor, né, Dona Rosa?” Ela falou: “Tá, então, eu fui lá no Doutor Floriano”. “Ah, a senhora foi lá? Ah, então, eu também vou, porque ele vai me curar, eu sinto uma dor de estômago, minhas pernas estão inchadas!” A perna dela seca que nem minha mão aqui! “Olha como está inchada minha perna, eu preciso ir lá!” “Tá bom, então, vai.” E a Dona Maria, minha sogra, foi nesse Doutor Floriano, já fazia uns três, quatro meses que minha mãe tinha ido e, quando ela chegou lá, ela se apresentou: “Eu sou a mãe do Gilberto, marido da Cléa, a Cléa, filha da Dona Rosa”. O médico falou pra ela: “E a Dona Rosa já morreu?” Ela falou: “Como? Como morreu?” “É, porque ela esteve aqui, ela tinha uns dois meses de vida.” Ela disse: “Mas o senhor falou isso pra ela?” “Não, não ia falar pra ela, mas ela tinha.” “Mas não avisou nem a Cléa, nem nada?” Ficou por isso mesmo. Aí, o Gilberto chegou do serviço, passou na casa da mãe dele, e ela: “Gilberto do céu, a Dona Rosa está mal, o Doutor Floriano falou isso”. Aí, eu peguei a minha mãe e levei no dia seguinte, nós tínhamos consulta com os meus pediatras, do meu convênio. Quando fomos lá, minha mãe ia junto comigo, porque, com três crianças ao mesmo tempo, era difícil. E, quando chegou lá, eu perguntei pro médico assim, não falei nada pra ela, falei: “Doutor, o senhor conhece algum cardiologista bom, porque a minha mãe está precisando passar”. Ele falou: “Sim, eu vou te indicar o meu cardiologista”. Ele deu o nome do Doutor Januário de Andrade, que ele é catedrático da USP [Universidade de São Paulo] e tudo, uma sumidade. Aí, eu marquei consulta com ele e fiz uma lista. Primeiro, conversei com minha mãe do que ela tinha tido quando era criança, quais doenças que ela teve, porque ela teve câncer e ela não sabia. Ela foi operada, perdeu o seio e depois teve de novo debaixo do braço, e o médico tinha dito: “Se em cinco anos voltar, não tem mais jeito”. E, com três anos, voltou e ela operou de novo, sem saber, e não aconteceu nada. Ela morreu do coração, não morreu de câncer. Aí, eu fiz essa lista toda, pus lá e cheguei lá na clínica: “Ó, doutor, esta aqui é a vida da minha mãe, eu gostaria que o senhor desse uma examinada nela”. Ele olhou e falou: “Poxa, se todo mundo fizesse uma lista dela, como seria fácil a gente trabalhar com o paciente!” Ele disse: “É, se ela tivesse vindo aqui dez anos antes, eu trocava uma válvula desse coração dela, ela ia morrer de tudo, menos do coração. Mas agora não dá mais tempo. Mas nós vamos tratar dela”. E, aí, eu passei a tratar da minha mãe, marcava consulta pra uma da tarde, ia ser atendida às oito e meia da noite, e eu com as crianças pequenas, deixava as crianças na casa da minha cunhada. Minha filha perdeu o dentinho da frente na sala do médico, esperando lá fora, e eu com a minha mãe lá dentro, era uma barbaridade! Então, foi tudo muito assim, muito peso, muito peso. Eu comecei a me sentir com dores. Dava um choque aqui que parecia que alguém tinha dado uma pancada assim. E vai no médico: “Me dói o cotovelo, me dói o ombro, me dói o pulso”. Eu estava passando o rodo, bati a mão na ponta da mesa e eu passei a não poder segurar a panela em cima do fogão. Pensei: “É por causa da pancada”. Em vez, não, já era a fibromialgia. Não aguentava a panela de pressão de cima do fogão. Tinha que pegar na frente, pegar atrás e jogar em cima da pia pra tirar do fogão. Fui em vários médicos, até que um foi aquele que me disse: “Ah, a senhora tem que tirar férias”. Eu falei: “Tirar férias? Com a mãe doente, três filhos etc. e tal, como é que eu vou fazer?” “É, se você não mudar de vida, você nunca vai sarar. Então, você vai fazer fisioterapia, vai fazer tens, vai fazer choquinho, mas isso não vai sarar. Você tem que mudar de vida, você tem que tirar umas férias.” Eu estou aqui com 70 anos, jamais tirei um dia de férias na minha vida, nunca, nunca! Dizer: “Fecho a porta, vou alugar uma casa na praia e vou ficar lá uma semana”, nunca! Nem quando eu tinha o apartamento no Guarujá, descia com ele pra gente pintar o apartamento inteiro no fim de semana e vir embora sem ver a cor do mar. Arrumava as coisas correndo, sempre pensando que tinha que arrumar uma coisa, falta alguma coisa, tudo em cima de mim, tudo em cima de mim. Então, a fibromialgia sempre existiu comigo. E eu já tomei antidepressivo, já tomei relaxante muscular, fiz tratamento que a médica falou: “Você vai tomar Voltaren de uso contínuo três vezes por dia por três meses corridos”. Eu falei: “Gente, isso ataca o rim!” Ela falou: “Você vai ter que reaprender a viver sem dor. A sua mente está acostumada a viver com dor”. Aí, fiz uns tratamentos na própria Prevent. Eles faziam uma massagem aqui atrás que doía demais, eu chorava de dor no lugar. Ela falava: “Não é de dor do lugar, isso aqui é um gatilho, você está até aqui de mágoa”. A gente sempre tem uma mágoa na vida, certas formas que a pessoa às vezes fala alguma coisa pra gente, e eu nunca gostei de fazer intriga entre minha mãe e meu marido, sempre querendo adoçar o mel dos dois lados. E a mágoa causa a fibromialgia. E eu tenho uma memória muito... Eu guardo as coisas na memória, né? Eu não guardo rancor, mas eu guardo o que aconteceu. E não pode ser assim, mas eu estou usando isso agora pra escrever. Tudo que eu lembrei, eu escrevo a minha história usando aquilo ali na história.
P/1 – Mas a dor sempre existiu, ou teve algum...
R – Sempre existiu.
P/1 – Qual foi a primeira lembrança dessa percepção de dor?
R – Eram estas: doía o ombro, doía o braço, dava aquele choque aqui no braço. Eu ia pegar uma coisa, não aguentava. Sempre doendo. Meu marido: “Mas por que? Você está fazendo muita força?” Não estava. Passa isso, passa aquilo, faz banho de não sei o quê, toma catuaba, jurubeba, faz chá de não sei o quê lá! (risos) Eu fiz de tudo que foi indicado. Agora eu estou usando, a médica me deu um antidepressivo pra ajeitar o meu sono. Porque o meu corpo dói tanto quando eu durmo que eu não consigo ficar oito horas na cama. E são necessárias oito horas de sono pra que as endorfinas se formem e cubram as dores. Mas eu não chego a ficar. Se eu for dormir às três e meia da manhã, às oito eu estou acordada. Se eu for dormir às oito horas da noite, à meia-noite eu estou acordada. Eu durmo cinco horas só, cinco horas é o necessário pra mim. Mas eu continuo com a dor. Então, a médica disse: “Você precisa tomar alguma coisa pra fazer você produzir essa endorfina, na hora que dormir, dormir mesmo, sem pensar em nada, sem ficar preocupada e acordar várias vezes”. Eu falei: “Não, eu não fico acordando, não tenho insônia”. Graças a Deus, porque dizem que é horrível ter insônia. Mas eu durmo muito pouco e não dá tempo de formar a endorfina. Agora eu estou dormindo, estou vendo se eu vou dormir um pouquinho mais cedo e, por sorte, ontem e hoje, eu acordei sem dor nenhuma, até agora. Vê, se eu começar a procurar, eu vou achar! Mas não está me incomodando. E dói o pé, doem as unhas do pé, dói tudo! É uma dor constante, você vai andar, você anda até torta, porque dói o pé. A gente com o pé doendo, meu Deus do céu, não tem graça nenhuma! (risos) Então, a fibromialgia é isso. Como ela é a dor das fibras musculares, e no corpo da gente tudo é musculo... A língua dói, eu chego a morder a língua aqui atrás. Eu não sei se tem a ver com a fibromialgia, mas eu estou às vezes comendo e às vezes nem comendo, estou dormindo, acordo com aquela dor, mordi lá atrás assim! Já não chega a dor, ainda vai morder a língua pra doer mais um pouco! (risos)
P/1 – E como que veio esse encontro com a escrita?
R – Ah, então, como eu estava cuidando só do Gilberto, eu comecei a escrever. Aliás, tudo começou com a história do meu sogro, que ele teve a isquemia, fiquei lá com ele e comecei a anotar. Mas isso ficou dez anos num papel velho lá, até que um dia eu falei assim: “Eu vou pôr isso no computador, porque, senão, eu vou esquecer essa história”. Conforme eu fui pondo, foi dando a ideia de escrever com lógica. Não é dizer assim: “Meu sogro teve 14 irmãos”. Então, quem foi a mãe do meu sogro? Foi a Dona Clemência – Clemência e Francisco se casaram no ano de... E já vou procurar. A idade, o senhor tinha tantos anos, quantos anos ela tinha quando o senhor nasceu? E fiz a história lógica. Então, tudo é assim, eu comparo datas de nascimento pra saber que ano foi, o que estava acontecendo naquele ano, era guerra, era escravidão. Então, vai tudo encaixando e com isso vai saindo a história. Então, a primeira história que eu escrevi foi a vida do meu sogro nesse DVD. E, depois, a segunda história se chamou Do outro lado da rua, que foi uma história verídica também, que aconteceu na casa em frente à minha casa. Foi um drama muito grande de uma filha, que eram só a filha única e a mãe, o pai já tinha morrido, e essa filha arrumou um namorado e ela nunca tinha namorado, ela já estava com uns 30 e poucos anos. Então, pelo medo de perder o namorado, ela fazia tudo que ele sugeria. E ele era muito mais novo que ela, era bonito, e eles arruinaram a vida da mãe totalmente. Ela foi hospitalizada e, quando voltou do hospital, eles tinham mandado ela assinar um documento lá no hospital pra liberar dias a mais pra ficar no hospital e não era, era uma procuração pra eles venderem a casa dela. E venderam. E ela falou: “Eu morro nesta casa, mas não saio daqui”. E morreu mesmo. Então, é uma história dramática, que eu vi o que aconteceu, agora eu contei o entorno de como começou, a imaginação, mas o final também, no final da minha história, ela mata o rapaz – a moça. E, na realidade, eu fiquei sabendo que o rapaz suicidou-se. Vai saber por quê. Eu juro que ele não leu meu livro! (risos)
P/1 – (risos)
R – Mas é assim, esses dois livros... Aí, como se imprime um livro? Por isso que o primeiro eu fiz em DVD, porque eu queria fazer um livro da história do meu sogro, eu imaginava que você chegava ali: “Faça um livro pra mim, muito obrigada!” Fica uma fortuna você fazer um livro decente! Aí, eu era da Prevent, a Prevent acabou o negócio do Juventus, a turma que era do Juventus, que éramos todos amigos, cada um procurou alguma coisa pra fazer. Uma procurou uma escola de violão, outra procurou o curso de teatro, outra procurou circo, cada um foi procurar alguma coisa pra fazer. E uma turma se reuniu na Cinemateca. E eu fiquei quietinha na minha casa, fazendo minhas casinhas de argila. De repente, alguém do grupo falou: “Cléa, vai ter um sarau lá no...” – nem sei onde foi o primeiro sarau que eu fui, mas acho que foi lá – “num parque que chama Lina e Paula Raia”. Atrás da estação Conceição do metrô, tem um parque ali, tem uns lugares da prefeitura, dão aulas de música pra criança, é uma beleza. “E tem um palco lá, eles vão fazer um sarau lá.” Eu falei: “Sarau? Que será um sarau? Eu não sei o que é um sarau”. Disse assim: “Não, é um sarau de uma editora chamada Beco dos Poetas. Eles se reúnem todos lá e fazem”. Eu falei: “Ah, é? Tá, vamos ver”. E peguei e fui. E estava alguma turma da Prevent que também gostava de poesia, fazia poesia. Eu falei: “Mas eu não faço poesia”. Também nunca tinha escrito nada. Tinha posto esse negócio do livro e estava lá o DVD, tinha dado. Mas eu toco, né? Eu falei: “Só se eu levar a harmônica”. “Isso, leva, claro!” Bom, cheguei lá, toquei lá uma musiquinha e eles falaram: “Mas agora tem que falar alguma coisa, tem que contar alguma história”. Eu falei: “Bom, pode contar um causo?” Porque eu gosto muito dessas coisas meio engraçadas. Disseram: “Pode”. E eu contei a história de um menino e quatro nomes. Então, eu acho que eu vou te contar essa história: era uma família italiana que tinha tido um filho no dia de Santo Antônio, e o bisavô chamava-se Antônio. Então, puseram o nome de Antônio no primeiro filho. O segundo filho teve o nome do avô materno, que era Arcanjo, pôs o nome de Arcanjo no menino. E teve um terceiro filho que ia se chamar Humberto, porque o rei da Itália era o Rei Humberto. Mas o pai do menino trabalhava numa oficina mecânica, tinha uma oficina dele, e ele nunca registrava o menino, não dava tempo de sair pra ir registrar o garotinho que tinha nascido. Já fazia uns três meses que o menino tinha nascido e ninguém tinha registrado. Então, a mãe italianinha, baixinha, brabinha, chegou e falou: “Olha aqui, Amadeo, se você não registra o menino hoje, você não entra em casa!” E ele pegou: “Não, vou registrar, claro que vou!” Pegou, foi trabalhar, chegou na hora do almoço, ele falou: “Porca miseria, eu não vou nem poder almoçar hoje. Ô, Bepe, vai lá você, registra o menino pra mim?” Ele falou: “Claro, como é que vai chamar?” “Vai chamar Humberto Magnani, tá bom?” “Ah, tá bom.” E o Bepe foi lá almoçar primeiro, tomou um vinhozinho, uma cervejinha, uma caipirinha, almoçou e foi fazer o jogo do bicho. E estava lá fazendo o jogo do bicho: “Mamma mia, esqueci de registrar o menino! Deixa eu sair correndo, se não o cartório vai fechar às quatro horas”. Entrou correndo lá pra registrar: “Eu vim registrar o filho do meu amigo”. “Ah, tá bom, como é que chama?” “Meu amigo chama Amadeo Magnani.” “Tá, e o menino?” “O menino? Mannaggia, como é que ele vai chamar? Ele falou pra mim... Mas como é que ele falou pra mim o nome do menino que eu não me lembro agora? Ah, quer saber? Eu vou ser padrinho, eu me chamo José, põe aí José Magnani e está acabado!” E o cartório pôs, José Magnani. E ele volta pra oficina, o Amadeo: “Escuta, registrou o menino?” “Ah, registrei, está aqui.” “Mas você pôs José? Era Humberto!” “Ah, eu não lembrei, tá bom? E nós não vamos ser compadres? Ele vai ter meu nome, tá tudo bem.” Quando esse Amadeo chegou em casa, a italianinha velhinha: “Deixa eu ver? Mas quem é José? Eu não conheço nenhum José, você foi pôr nome errado no meu filho! Quer saber? Ele vai chamar Ricardo, que é o nome do teu pai e acabou!” E esse menino cresceu sabendo que ele se chamava Ricardo Magnani. Ele foi pro grupo escolar, Ricardo Magnani, e teve o quarto ano do grupo, trouxe o diploma em casa e ficou lá. Quando ele estava com 16 anos, ele falou: “Eu quero fazer a Escola de Comércio Álvares Penteado. Pai, preciso ir lá, preciso levar o diploma do quarto ano e o registro”. “Tá bom, está lá na gaveta.” Ele vai lá: “Antônio, Arcanjo, José. José? Nossa, acho que eu tive algum irmão chamado José que morreu! Américo, Fioravante, Annunciata. Pai, não está aqui”. “Como que não está?” “É, está o Arcanjo, está o Antônio e tem o José.” “É você!” “Eu sou José?! Com 16 anos sempre sendo Ricardo, eu sou José?” “É José.” Ele pega o diploma, pega o registro e vai à Escola Armando Álvares Penteado. Chega lá: “Tá aqui o diploma.” “Mas o diploma é do Ricardo, e o registro é do José. O José não fez o quarto ano, e o Ricardo não tem registro. Então, vamos resolver, José Ricardo Magnani.” E pôs o nome nele lá! E ele virou o meu pai, que é um atleta, que em todos os jornais aparecia lá José Ricardo Magnani, que na verdade era só José! (risos)
P/1 – Que era pra ser Humberto!
R – Era pra ser Humberto, virou Ricardo, virou José e José Ricardo. Tinha quatro nomes! Então, eu contei essa historinha. Nossa, o pessoal gostou muito! Aí, eu comecei a participar desses saraus. Tinha de sábado e depois tinha no último domingo do mês também. Eu fui participando, participando, cada vez eu contava uma história diferente, eu tinha outros causos engraçados que a gente escuta e conta, e tinha os causos como esse que eram os meus mesmos, não eram inventados, eram de verdade. Quando eu descobri que eles eram uma editora, eu falei: “Eu quero fazer um livro”. E eu vi alguns livros deles, tinha muito erro de grafia. Eu falei: “Puxa vida, vocês não têm corretores de texto?” Ele falou: “Não, aqui a gente tem até um documento, o escritor é responsável pelo que ele traz”. Eu falei: “Então, deixa comigo!” Aí, peguei, eu e uma amiga minha, porque mudou a gramática, mudou o acento, né? Fizemos o livro sobre O outro lado da rua, e imprimi. Gostei, o livro vendeu todinha a edição também. Agora fiz o segundo livro, que foi esse Faça o que o seu médico diz, não faça o que eu fiz. E agora estou fazendo um infantil, contando sobre a história dos bichinhos que eu tive em casa. Eu tive até um sapo chamado Douglas! E estou fazendo um outro, que é a história de meus tios, mas com nomes diferentes, com os dramas de cada um, que são todos problemas sérios. E agora eu vou querer fazer um de cuidadores, esse ainda não bolei o nome dele. Eu comecei os alinhavos.
P/2 – E as atividades na Cinemateca?
R – Ah, então, como eu comecei com as atividades, foi assim: como esses amigos que estavam presentes em outras atividades vieram em casa no lançamento do livro, que eu fiz o lançamento na minha própria casa, e vieram contando que eles estavam na Cinemateca e queriam que eu fosse pra lá. Ia ter uma festa de encerramento da Cinemateca naquele ano, e eles iam fazer um show. E um deles costumava cantar comigo lá no Juventus. Ele cantava aquele “a five hundred miles, a five hundred miles” e falou: “Eu queria cantar essa música, você toca pra eu cantar?” Eu falei: “Eu toco!” Então, eu entrei na Cinemateca com a harmônica também, com a música. É sempre ela que está me introduzindo em todos os lugares que eu estou. E o pessoal gostou tanto da minha presença ali e tudo que, aí, eu conheci a Nori e ela falou que estava fazendo um estudo sobre os museus, que a gente fosse visitar os museus, ela levava a gente. E a gente vendo os quadros que tinham ali, os estilos de cada um, por que cada um desenhou aquilo naquela época, os problemas de vida que eles tinham. Então, a gente começou a analisar, tirar umas fotos. E ela falou assim: “Agora quero fazer uma pergunta pra vocês: sua vida daria uma obra de arte?” Hum, meus bichinhos começaram, o Tico e o Teco lá dentro, uma briga danada, eu falei: “Ah, e pode fazer assim, da vida da gente mesmo?” “Pode.” Eu falei: “Com fotografia?” “Sim!” “Deixa comigo!” Saiu um dessa grossura, o meu volume. Tem 200 e tantas fotos com a história da minha vida, desde o meu nascimento, as mesmas fotos que eu trouxe aqui pra você agora. Então, tem tudo isso que eu te contei e acho que não chega com tantos detalhes, mas tem lá a historinha toda da minha vida fotografada e prontinha. Ela levou pra corrigir e nunca mais me devolveu! (risos) Eu agora vou querer o meu livro de volta.
P/1 – (risos) Qual é o nome do livro?
R – Esse não foi propriamente um livro, foi um trabalho. E, nesse trabalho, eu descobri uma coisa interessante. Todos os pintores, sejam quais forem, fizeram um autorretrato. Então, a Tarsila do Amaral era uma mulher lindíssima. Ela se retratou linda, com uns brincos assim, o cabelo todo puxado pra trás. Ela fez outro autorretrato com um casaco de pele de vison vermelho lindo, lindo, sempre assim, exaltando a beleza dela. A... Meireles? Não me lembro o nome dela agora, ela tinha um defeito na mão, então, ela se retratava sempre com a mão escondida. E ela fez os desenhos de uma que ela chamou de A boba, é uma mulher assim com uma cara de bocó mesmo, que, se você olhar bem, é ela. Ela fez uma outra estudante, que, se você olhar bem, é ela. Então, ela se retrata, mas sempre assim, amarga, triste, porque ela tinha um defeito e ela tinha um trauma disso. O Di Cavalcanti se retratou de uma fotografia, você pega a fotografia dele e vê o retrato que ele fez da fotografia. Ele copiou a fotografia em tamanho maior, sem emoção nenhuma. E cada um pôs alguma coisa. Teve um... Eu estou péssima pra me lembrar de nomes, ele é de Pernambuco, ele fez muitos quadros, muitos quadros mesmo, mas alguns deles, ele se autorretratou de uma forma grotesca, assim, piadista. Aquele que era pequenininho, o Monet? Não, tem um pintor francês que ele era um anãozinho. Ele se retratou sentado numa xícara. Então, era tudo referente àquilo que eles estavam sentindo. E eu nunca pensei nisso, eu fui olhar nas minhas fotografias lá, porque eu andei pintando uns quadros quando o Gilberto ficou doente, em 2005, eu cuidei dele desarvoradamente até 2006. Em 2006, eu comecei a pensar um pouquinho em um espacinho pra mim. Mas ele não me dava um sossego, nem um minuto no dia, era da hora que eu acordava às oito horas da manhã, era o banho, era isso, era o remédio, era o almoço e, à tarde, o lanche, a janta, e dez horas da noite eu dava o último mata leão nele, aí ele ia dormir. “Graças a Deus, agora eu vou pensar em mim!” Eu vinha pra cozinha, ficava assim, com o cavalete de pintura e pintava. Eu nunca aprendi a pintar, eu tinha fechado a loja e tinha sobrado uns quadrinhos, umas telinhas e umas argilas também, que argila eu comecei a fazer casinha. E comecei a fazer uns quadros. Só que ele acordava duas horas da manhã e eu pintava até três horas da manhã. Depois ia dormir e oito horas da manhã já estava acordada cuidando dele. Tudo isso faz parte da minha fibromialgia. Aí, ele acordava e vinha, descia assustado, não sabia onde eu estava, eu escutava ele descendo a escada, aquilo me dava uma raiva, porque eu dizia: “É o meu momento, o que ele está fazendo aqui?” Aí, olhava pra ele: “Gilberto, vai deitar”. “Mas você não vai dormir? É tarde.” Eu falei: “Já vou, já vou”. Ele pegava, ia na sala e sentava na sala e ficava lá cochilando na sala. Aí, eu largava tudo e ia dormir! Então, nesse período todo, era o meu desafogo, mas era um desafogo temeroso, eu não queria que ele acordasse àquela hora pra me perturbar. E, numa dessas, eu não sei, eu não me lembro disso, mas eu fiz um autorretrato meu desenhado de lápis, num papel. E eu estou assim, com o rosto muito marcado por rugas, em 2006, uma expressão séria. E eu achei esse quadro, esse desenho, e eu pus nesse trabalho também. Então, eu pus todos os quadros de autorretrato dos artistas e falei: “Olha aqui o que revela a emoção mesmo”. Então, eu fiz isso aí e olha que eu fiz e nem tenho noção de que fiz! Eu achei o quadro, mas até agora eu olho nele: “Eu fiz isso? Meu Deus do céu!” (risos) Então, é assim. A fibromialgia me levou a fazer alguma coisa por mim, mas, mesmo assim, não era satisfatória. Eu acho que eu precisaria mesmo tirar umas férias! (risos)
P/1 – Então, Cléa, voltando, eu tenho duas perguntas finais.
R – Minha barriga está roncando!
P/1 – Está com fome?
R – Não sei, deu um apito aqui! (risos) Deixa ela quieta!
P/1 – (risos) Tem alguma coisa que a senhora queira falar, que eu não estimulei, alguma história?
R – Não, tivemos o sítio quando eu era criança, mas acho que eu já contei dele também.
P/1 – Sim.
R – Acho que da minha infância eu contei tudo até o Gilberto, né?
P/1 – Sim, foi lindo.
R – É, não, do Gilberto... O apartamento do Guarujá eu já falei, que era o lugar que ele gostava de ficar. Eu acho que não. Bom, agora tem as netas!
P/1 – Sim, pois é! Como foi ser avó, ou como é ser avó?
R – Então, eu estou sendo avó agora. Porque a primeira neta nasceu em 2004, e o Gilberto teve o diagnóstico em 2005. E ela nasceu em setembro. Quer dizer que estava com dois meses de nenê, quando já veio essa cacetada que a família inteira se apavorou. Então, eu creio que, por isso, afastaram a menina da minha presença, porque eu já estava com um baita de um problema na minha vida. Eu fiquei algumas vezes com ela em casa por necessidade, mas assim de dizer “hoje vou deixar a nenê na casa da vovó”, nunca tive esse prazer! Da segunda, então, menos ainda, porque o Gilberto estava muito pior, ela nasceu quatro anos depois da primeira. A Beatriz, eu praticamente não via, nunca ficou em casa um dia pra eu cuidar, nada, nada, nada. Era só a Gabriela que eu fiquei algumas vezes. E elas cresceram assim, a gente se vê no Natal... Não, a gente se vê no Ano-Novo, que é o dia que vem todo mundo em casa. Vinha, né? Agora eu faço uma reuniãozinha no Ano-Novo em casa só pra gente trocar os presentes, fazer aquela baguncinha. E vem no meu aniversário, quando não viajam antes, porque é 29 de dezembro. Já todo mundo se encheu do Natal, vai embora! Só assim. Dia das Mães, antes, vinha, esse ano nem Dia das Mães, porque foram passar com as próprias mães. Meu filho; “Mãe, feliz Dia das Mães!” “Obrigada, tchau e bênção.” Agora, nem telefona, já escreve ali na hora que dá tempo. E agora eu estou curtindo a Júlia, que é a filha do Renato, que o Renato foi o último a casar e foi o último a ter nenê. Ele demorou bastante pra ter nenê. E teve a Julinha, que está uma graça! Está fazendo a alegria de todo mundo. E ela ainda não fica em casa comigo porque, pela fibromialgia, eu não posso pegar peso. Então, o dia que ela vem e eu pego, pego, pego, ah, meu Deus do céu! É uma dor danada! Mas, sentada, dá pra pegar. Aí, quando ela vem em casa, ela pega o gato pelos pelos da cabeça, levanta do chão, é uma beleza! (risos) Está aprendendo a começar a falar agora, falou: “Aju!”, porque mostraram um desenhinho azul que ela tinha que pôr sabe aqueles cogumelinhos que têm uma bolinha, um quadradinho? Que têm que pôr, né? E ela ganhou no aniversário, então, a tia começou a arrumar, falou: “Olha, o verdinho vai aqui, o vermelhinho vai ali”. E ela olhava lá dentro. Ela pegou e achou o redondinho, que era o azul, ela pegou e pôs. A tia falou: “Olha, você acertou o azul, que legal!” Ela olhou lá dentro, abriu tudo e pegou de novo o azulzinho e falou: “Que é ‘icho’?” A tia falou: “É o azul”. “Quê?” “Azul, bem, esse aí é o azul.” “Aju?” Mas ela falou um azul assim tão “isso é azul?”. Mas só foi aquela palavra, não falou mais nada até agora. Agora ela anda por dentro de casa, “lek lek lek”, chega pro gato: “Lek lek lek”, e pega o gato pelos cabelos, o gato não gosta nada dela! (risos) Mas é assim. Essa aí está me divertindo na medida em que eu posso curtir, não ter que cuidar, né? A outra não, a outra ficava quando eu precisava cuidar, aí, a nora ligava toda hora: “Já deu água? Ela está dormindo? Não era pra estar dormindo”. “Ela já mamou.” “Mas não era pra mamar!” (risos) É assim!
P/1 – E como foi pra senhora contar essa história pra gente?
R – Olha, realmente, ultimamente, eu tenho contado a minha história tantas vezes! (risos) Por coincidência, você vê? Eu contei no livro, eu contei na casa de repouso, que eles fizeram o DVD e eles fizeram o lançamento do livro com uma chamada. E nessa chamada eu falo algumas coisas, até vocês vão ver depois. Umas chamadas a respeito dos focos do livro. Eu não conto toda a história, eu não contei. Foi uma entrevista de duas horas também lá em casa pra elas tirarem ali uns quatro minutos, só pra fazer a chamada do livro. E agora novamente. Então, cada vez que eu conto, ela vai ficando mais distante das tristezas que eu passei. Interessante! Está ficando assim mais, uma história. Mas eu tenho outra história ainda pra viver, e essa história ainda não conheço, ainda não escrevi. Mas é muito bom.
P/1 – E a última pergunta antes de a gente tocar, de a senhora tocar pra gente, quais são seus sonhos, Dona Cléa?
R – Meus sonhos? Viver bem o dia de hoje. Viver bem o dia de hoje. Eu não tenho previsões assim: “Ah, eu gostaria de fazer isso”. Viagens, sair do Brasil, pegar um navio, ir conhecer a Itália. Não tenho, não tenho esse sonho. O Gilberto tinha, ele sempre falava: “Eu queria levar você conhecer a Itália, seus parentes lá, os Magnani que ainda tem lá”. Eu estou tão bem aqui, eles estão tão bem lá, nós nunca soubemos que um viveu, que o outro existiu, né? Vai lá chegar, daqui a pouco diz: “Ah, você precisa resolver meus problemas!” Ah, não, chega! O meu sonho agora é fazer bem aquilo que eu tenho que fazer. O dia que eu fui levar esses livros lá na casa de repouso que eu falei, eles têm uma central lá atrás do Shopping Eldorado. Há muitos anos, quando justamente a Gabriela, quando minha nora engravidou da Gabriela – ela está com 14 anos –, eu fornecia casinhas de argila pra essa, pra uma lojinha no Shopping Eldorado. Mas eu parei pra fazer o enxovalzinho dela. E ela nasceu, o Gilberto ficou ruim, e nunca mais mexi com argila. De vez em quando, fazia uma casinha pra dar de presente pra alguém, mas não mexi mais. Tanto que o resto da argila está um tijolo lá, não dá pra usar mais. Eu fui levar os livros e deixei o carro dentro do estacionamento do Shopping Eldorado, porque não podia parar na rua. A entrada do shopping é ali, do estacionamento, e aqui a loja da casa de repouso. Mas, quando eu entrei com o carro lá, eu não podia sair pela saída do estacionamento a pé. Então, tem que entrar dentro do shopping e sair na Rebouças lá na frente e dar a volta em todo o quarteirão, com uma chuva, e ali achar a ruazinha de novo. Ninguém conhecia a ruazinha dentro do shopping, nem os guardinhas que tomavam conta. Eu falei: “Como chama essa rua que o carro sai aí atrás?” “Ah, faz umas duas semanas que eu estou trabalhando aqui, não conheço nada aqui.” Eu falei: “Meu Deus do céu! Taxista, por favor, o senhor sabe a rua tal?” “Ah, eu não sou daqui, dona, eu vim só trazer alguém.” Eu falei: “Meu Deus do céu!” Eu liguei o GPS pra ver se ele me levava a pé, mas ele me levava de carro, tinha que dar uma baita de uma volta! Eu falei: “Mas não é possível isso!” Perdida dentro do shopping! Bom, acabou que eu saí, pra entrar depois, pra pegar o carro, é outra novela, porque o carro fica no nível térreo, mas você tem que subir até o primeiro andar e descer a escadaria toda até o térreo. É uma loucura! Bom, eu estou perdida lá dentro do shopping na saída, e eu olhei um canto assim do shopping e falei: “Engraçado, parece o lugar onde eu vinha vender as casinhas. Moça, a senhora trabalha aqui, ainda tem uma loja chamada Casinha Pequenina aqui dentro?” “Tem, é ali mesmo. São duas anãzinhas, né?” Eu falei: “É, são”. São duas irmãs desse tamanhozinho. E elas vendem só miniaturinhas de tudo que você imaginar no mundo, maquininha fotografiquinha, de costurinha, tudo que é pequenininho o pessoal leva pra vender lá. E eu vendia as casinhas pra ela. Aí, cheguei lá por causa dos erros... Por isso que você vê que nada é por acaso! Cheguei lá, ela: “Nossa, quanto tempo que a senhora não vem!” Eu falei: “É, quando eu vinha, eu ainda tingia o cabelo, faz tempo! Faz 14 anos”, falei pra ela. “Nossa, nós temos a loja aqui há 25, olha quanto tempo.” E me fizeram um pedido de casinhas. Então, eu já vou ter mais uma ocupaçãozinha pra fazer! Por isso, nada é por acaso! (risos) A gente tem que prestar atenção quando acontece qualquer coisa pra você. Você está andando na rua, dá um tropeção. Vou prestar atenção, por que eu dei esse tropeção? Eu diminuí o passo um pouquinho porque ia cair um tijolo lá na frente na minha cabeça, eu não sei! Mas a gente tem que procurar, que a gente acha (risos).
P/1 – Vamos tocar?
R – Vamos, uai! Este é um tango chamado Uno.
P/1 – Lindo! Mais!
R – Está igual ao que você conhecia?
P/2 – Lindo!
P/1 – Temos tempo pra mais uma?
P/2 – Temos.
P/1 – Se a senhora...
R – Não, é que nem aquele, vai pedindo que a gente vai fazendo!
P/1 – Faz assim: o que seu anjo mandar!
R – O que vai ser? Vamos com uma brasileira.
P/1 – Lindo, Dona Cléa, lindo, lindo, lindo!
R – Ah, que bom!
P/1 – O que a senhora pensa quando a senhora toca?
R – Nada, nada! Por isso que eu falo: não sou eu quem toca. Eu não conheço música, eu toco tudo de ouvido. E principalmente a mão esquerda é um lugar que a gente não consegue olhar pra tocar. E eu erro menos na mão esquerda do que na mão direita. Às vezes, eu estou aqui, eu estou pensando o que eu vou pegar. Eu não sei, a minha mão vai lá pra cima, a minha mão vai lá pra baixo. Por isso que eu falo: o meu anjo era músico! É músico! (risos) É uma coisa engraçada. E eu tenho duas primas professoras de música, não tocam nem Parabéns a você! Tem que estudar partitura, tem que treinar muito e tocar com a partitura na frente. Eu não, eu não toco com partitura. Eu estudei até oito meses tocando com partitura. Aí, o professor de música me deu essa música aqui, chama Kalu. E por aí vai. E ele fazia assim pra me atrapalhar... Aí, ele falou: “Na próxima aula, eu quero essa música de cor”. Tá bom. Ele foi embora, eu dei uma estudadinha lá durante a semana, quando ele chegou, ele mostrou a música pra mim, tirou a música da frente. Falou assim: “Agora toque de cor”. E eu peguei e toquei. Ele falou: “Você está tocando de ouvido?” Eu falei: “Não sei, eu estou tocando com a mão!”
P/1 – (risos)
R – Eu tinha sete anos! Ele falou: “Mas você está fazendo isso, isso não tem na música! Eu pus pra te atrapalhar. E você está tocando. Você vai ser uma música analfabeta, vai falar, mas não sabe ler nem escrever!” Só faltou me chamar de burra. E eu fiquei: “Mas está errado?” Ele falou: “Não está errado, mas você vai ficar assim. Se você não conhecer uma música, te dão uma partitura e você não sabe tocar”. Eu falei: “Mas, se alguém cantar, eu vou tocar!” (risos) E aí ficou. Ele até parou de me dar aula, porque eu estava, imagina, Carlos Gomes estava virando na tumba! Ah, eu falei: “Gente, não era tão bravo assim só tocar de ouvido”. Eu toco de ouvido, ué!
P/1 – E como o seu corpo responde depois de um tempo tocando?
R – Encharcada de suor, sem dor nenhuma! Ontem, eu toquei lá das duas às quatro e vinte. Quando eu tirei assim, aqui estava escorrendo água. Não dói nada! Eu venho pra casa, pego aquele trânsito danado... Ah, meu Deus!
P/1 – Não tem problema!
R – Italiano é fogo, viu?
P/1 – (risos) Não tem problema! Pode deixar, Dona Cléa.
R – E peguei um trânsito danado ali na Bandeirantes, nem ligo pro trânsito, está tudo leve! É uma coisa interessante a música na minha vida.
P/1 – Posso pedir uma e aí a gente encerra?
R – Pode.
P/1 – Lamento sertanejo.
R – Por ser de lá... Vixi.
P/1 – E, se não for essa, pode ser uma que a senhora escolher.
R – Vou tentar.
P/1 – Lindo!
R – Nunca toquei!
P/1 – Muito obrigada, Dona Cléa, foi um prazer. Não sei nem o que falar, que prazer foi esse, foi lindo, muito obrigada!
R – Imagine, o que é isso? Eu que agradeço, gente! Porque vocês dão chance pra gente tirar lá do fundo do baú coisas que a gente nem lembrava mais. E isso é muito bom, a gente se esvazia um pouco, porque a gente vai guardando as coisas, guardando e vai amontoando. E lá embaixo começa a criar mofo, né? Vocês me puseram do avesso aqui duas vezes, hein?
P/1 – Sim!
Recolher
















.jpg)













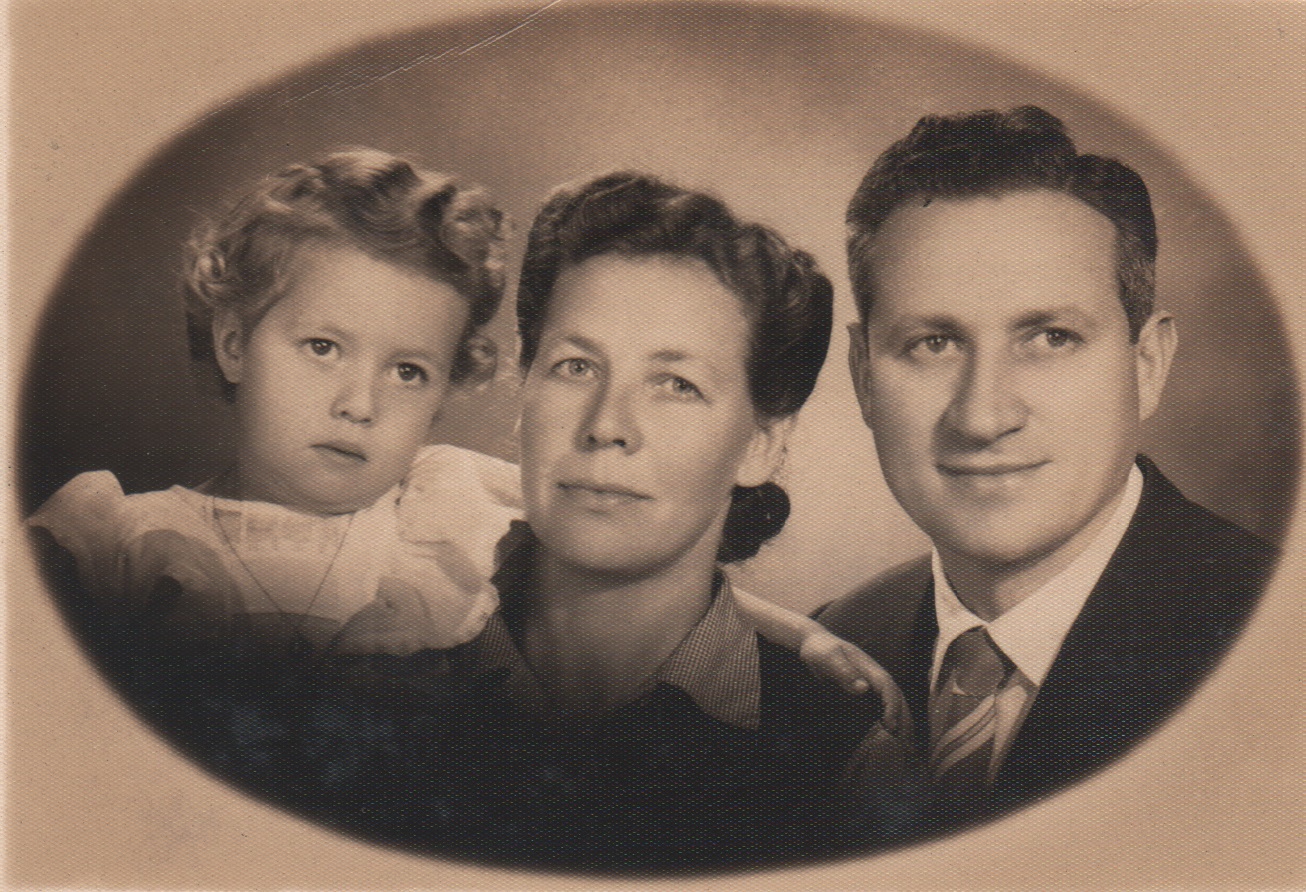








.jpg)





