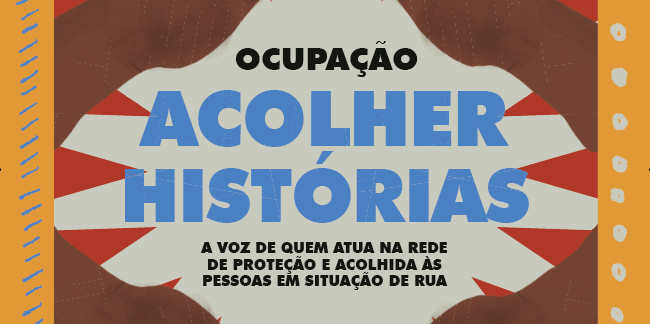Entrevista de Adriano dos Santos Abreu
Entrevistado por Luiza Gallo
São Paulo, 01/02/2024
Projeto: Acolher Histórias
Entrevista número: ACOH_HV009
Transcrita por Selma Paiva
Revisado por Luiza Gallo
P/1 - Adriano, primeiro eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente e topar contar um pouco dessa história. E, pra começar, gostaria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e o local de nascimento.
R - Meu nome é Adriano dos Santos Abreu. Eu nasci em dois de junho de 1988, em São Paulo, precisamente em Guarulhos.
P/1 - E te contaram como foi o dia do seu nascimento?
R - Me contaram como foi o dia do meu nascimento. Eu não sei muito bem, mas foi a maior confusão, assim, tipo: pra eu nascer. Envolveu polícia, envolveu um monte de coisa, assim, tipo: acho que caminhão, carroça, uma série de coisas assim, pra eu nascer, porque a pessoa que ajudou meu pai a socorrer minha mãe, a polícia o enquadrou, enquadrou o carro, parou, porque estava socorrendo a gente e tal. Foi uma loucura, assim. Aí eu fui nascer num hospital chamado Santa Terezinha, que não existe mais, que fica no... na verdade, eu só atravessei o rio pra nascer, que onde eu moro é São Paulo com divisa de Guarulhos, né? E aí o rio que divide, o Rio Tietê. O rio que divide, né? E aí eu nasci, atravessei, pra nascer, o rio, nesse Hospital Santa Terezinha e eu nasci lá e foi essa luta pra eu nascer. Tipo, até eu chegar no hospital e tal foi essa confusão aí. Não sei muito bem a história, que até é meio confusa até pra mim. E aí quando eu estava voltando do hospital, recém-nascido, eu caí na enchente, caí no rio que era uma extensão do Rio Tietê e aí meu pai me tirou da água, meu pai me salvou. Eu estava vindo, lá na região alaga, né, região que eu nasci e a gente estava vindo numa capota de perua, que eram os barcos da galera lá, desse período aí, era capota de perua o que podia boiar, né? E aí eu caí, a gente tem até uma música...
Continuar leituraEntrevista de Adriano dos Santos Abreu
Entrevistado por Luiza Gallo
São Paulo, 01/02/2024
Projeto: Acolher Histórias
Entrevista número: ACOH_HV009
Transcrita por Selma Paiva
Revisado por Luiza Gallo
P/1 - Adriano, primeiro eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente e topar contar um pouco dessa história. E, pra começar, gostaria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e o local de nascimento.
R - Meu nome é Adriano dos Santos Abreu. Eu nasci em dois de junho de 1988, em São Paulo, precisamente em Guarulhos.
P/1 - E te contaram como foi o dia do seu nascimento?
R - Me contaram como foi o dia do meu nascimento. Eu não sei muito bem, mas foi a maior confusão, assim, tipo: pra eu nascer. Envolveu polícia, envolveu um monte de coisa, assim, tipo: acho que caminhão, carroça, uma série de coisas assim, pra eu nascer, porque a pessoa que ajudou meu pai a socorrer minha mãe, a polícia o enquadrou, enquadrou o carro, parou, porque estava socorrendo a gente e tal. Foi uma loucura, assim. Aí eu fui nascer num hospital chamado Santa Terezinha, que não existe mais, que fica no... na verdade, eu só atravessei o rio pra nascer, que onde eu moro é São Paulo com divisa de Guarulhos, né? E aí o rio que divide, o Rio Tietê. O rio que divide, né? E aí eu nasci, atravessei, pra nascer, o rio, nesse Hospital Santa Terezinha e eu nasci lá e foi essa luta pra eu nascer. Tipo, até eu chegar no hospital e tal foi essa confusão aí. Não sei muito bem a história, que até é meio confusa até pra mim. E aí quando eu estava voltando do hospital, recém-nascido, eu caí na enchente, caí no rio que era uma extensão do Rio Tietê e aí meu pai me tirou da água, meu pai me salvou. Eu estava vindo, lá na região alaga, né, região que eu nasci e a gente estava vindo numa capota de perua, que eram os barcos da galera lá, desse período aí, era capota de perua o que podia boiar, né? E aí eu caí, a gente tem até uma música lá, que a gente canta, que alguns coletivos que eu fiz parte, que eu movimentei lá, de sarau, na região tinha um sarau chamado Sarau do Cotovelo e um espaço cultural chamado Quilombo Quebrada, que ainda existe. E a gente criou uma música junto com o coletivo Bloco Fluvial do Peixe Seco e outros coletivos, que fala assim:
“E tem menino que caiu na água
Da capota da perua
Desviando da carcaça
Tem Conceição em luta por justiça
Construindo o próprio chão em areia movediça”
Meio que um samba falando dessa trajetória, porque a região que eu moro é uma região que teve muitos loteamentos, porém teve muitas ocupações, porque é área de manancial, é área de PPP, área de produção permanente, porém não existe nenhum projeto habitacional, ainda não existe, desde que o Brasil só existiu projeto de população para imigrantes, inclusive para imigrantes europeus, para a gente até hoje ainda não tem.
P/1 - E você é filho único?
R - Não, eu sou o caçula. Minha mãe me teve, ela tinha 42 anos já. A minha mãe vai fazer 78 agora, de documento, que eu acredito que ela tem mais. Eu sou... nós somos em três. É minha irmã, que não é filha do meu pai, mas, porém, meu pai adotou, a registrou, porque o pai dela não a tinha registrado. E o meu irmão, que é mais velho que eu. É a minha irmã Andreia e meu irmão Anderson.
P/1 - Qual é a diferença de idade entre vocês?
R - Do meu irmão são quatro anos. E da minha irmã eu acho que é mais de dez, porque quando meu pai conheceu a minha mãe, a minha irmã já tinha uns seis anos, por aí.
P/1 - E você sabe como escolheram seu nome?
R - Eu acredito que foi a influência do meu pai, né? Mas eu acho que veio da tríade aí, né? Que o nome da minha irmã era Andreia, do meu irmão Anderson e o meu Adriano, mas acredito que vem... tem essa origem com o mar, por causa que o meu pai é português. Acho que você vai entrar nessa pergunta aí, quando você entrar acho que eu respondo.
P/1 - Vai, vai, pode ir.
R - Meu pai é português da Ilha da Madeira, né? E ele, até ele chegar aqui, ele passou por muitos lugares, né? Inclusive, veio de barco pra cá, pro Brasil, desceu no norte, nordeste do país e veio vindo pra São Paulo.
P/1 - Você sabe um pouco dessa história dele?
R – Sei, em parte, mas ele veio de barco.
P/1 - Tem algum caso...
R - Ele veio de navio, sei lá, barco, não sei dizer. Oi?
P/1 - Tem algum caso, alguma história que ele contava dessa vinda, desse trajeto?
R - Ele contou mais pro meu irmão, porque eu perdi meu pai, eu tinha doze anos, então não lembro muito das histórias que meu pai contava, mas ele contou, ele viajou por todo o Brasil aí, viajou pra caramba. Não pra caramba, porque ele morava numa ilha, né? Ilha da Madeira é uma coisa bem pequena. Assim, comparado a São Paulo, por exemplo, né? Então, ele era... meu pai era agricultor, meu pai era meio que semi rural. Na ilha ele praticamente trabalhava com roça, com essas coisas. E aí ele teve, aconteceu umas questões. Meu tio lá se suicidou, que ele era do Exército, lá em Portugal. E aí meu pai, acho que sobrou um dos únicos homens da família, que ele tem mais quatro irmãs mulheres e aí, mais esse irmão, né? E aí ele veio pro Brasil. Largou a família e veio pro Brasil. Veio ele e um amigo, de Portugal, e eles vieram juntos e tal. E aí chegaram aí, acho que, se eu não me engano, ele desembarcou foi em Sergipe, ou foi Paraíba, não recordo agora e veio vindo, até chegar em São Paulo, então ele trabalhou em vários estados do Brasil, até ele vir pra São Paulo, onde ele foi moído e dichavado, que nem O Homem que Virou Suco, sabe aquele filme que tem? E aí foi isso.
P/1 - E você sabe como ele conheceu a sua mãe?
R - Ele conheceu minha mãe através dos meus tios. Que aí minha mãe veio, minha mãe também é de Ilhéus, minha mãe é da Bahia, do sul da Bahia. Veio pra cá com vinte anos, pra São Paulo. Veio primeiro, veio só e trouxe o restante dos irmãos dela pra cá e aí eles moravam em Itaquera. E aí, através dos meus tios, um dos meus tios apresentou minha mãe pro meu pai e aí eles começaram a se conhecer e tal, minha mãe já deu uns apertos nele e falou: “Eu não sou essas mulheres de ficar se... como é que é? Derrubando muro não, não sou essas mulheres de ficar namorando em muro não, tem que ser um compromisso sério” etc. O enquadrou lá e aí deu seus ‘pulos’ lá, arrumou um barraco para eles morarem e assumiu a responsabilidade.
P/1 - Como é o jeito dessa mãe?
R - Minha mãe, ‘meu’, é um amor de pessoa. Minha mãe é a pessoa mais serena e calma que eu conheci na minha vida, assim: tipo uma pessoa mais correta, honesta que eu já vi. E minha mãe foi mãe e pai para mim, então, tipo: ela é uma pessoa, uma mulher extremamente foda assim, e falar dela meu olha já começa a lacrimejar, porque minha mãe é... hoje ela é meio que a matriarca da minha família, da minha e da dela, né? Que ela é uma das pessoas mais velhas vivas da minha família, por parte de mãe. E hoje ela está com Alzheimer. Então, está sendo bem difícil esse processo.
P/1 - Tem alguma história muito significativa que você lembra dela, de vocês, da família?
R - Da minha mãe?
P/1 - É.
R - Da minha mãe, mil histórias, assim, tipo, até da infância dela, minha mãe falava muita coisa da infância dela, de... minha mãe começou a trabalhar cedo. Cuidava dos irmãos, o resto dos irmãos. Aí tem uma história engraçada dela, tipo, ela, lá no Sul da Bahia e acho que roubaram um brinquedo dela, um pertence dela e tal e aí ela sabia, na região que eles estavam morando, né? Que meu vô, ele trabalhava nas estradas, né? Que eles falam estradas de rodagem, né? O que eles falavam, né? O linguajar utilizado. E aí eles mudaram bastante ali, na região da Bahia, ali no sul da Bahia, para alguns lugares. E aí, eles sabiam, né, quem tinha pegado as coisas deles lá e juntou minha mãe e mais dois tios meus, né? O meu tio João, que já é falecido e meu tio Reinaldo, o tio Re. E aí foram buscar, dentro da casa das pessoas, que eles tinham saído pra roça e tal, o pessoal e buscaram embaixo da cama o brinquedo e resgataram o brinquedo da minha mãe, que eu nem lembro o que era, mas eles resgataram. Eles contam até hoje. E outra que eles iam pra roça com meu avô, aí meu avô tomava conta de roça e aí (risos) eles iam ajudar meu avô e escondido eles iam pro meio da roça e comiam, né? Comiam melancia. Aí o cara da roça vinha falar com meu avô, né? “Estão comendo as melancias”. (risos) Aí diz que esse meu avô falava, né? “Não”. Ele era muito calmo, sereno, assim: “Não, o que é isso? Os meninos não estão comendo melancia. Não, os meninos tudo...”, porque eles revezavam, né? Eles, tipo: um sumia, ia lá, comia, falava: “Está em tal lugar e tal”. Aí outro ia lá e comia também, né? Tipo, eles deixavam meio escondido, pro meu avô não ver, né? Aí eram essas histórias aí que tem, pelo menos de infância dela.
P/1 - E já mais adulta, tem alguma?
R - Adulta? Não sei, não lembro agora. Tem meio que da adolescência dela, né? Tipo, que ela ia... minha mãe ia ajudar... minha avó a incumbia de buscar minha tia, que fugia, pra ir pros forrós. E aí ela ia tentar resgatar minha tia, que senão ela também entrava... ela também meio que apanhava, né? Tipo, porque ela era mais velha e meio que responsável pelas irmãs.
P/1 - Você conheceu seus avós?
R - Eu conheci minha avó, mas eu era muito pequeno, né? Conheci minha avó só, meu avô não.
P/1 - E como era a dinâmica da sua casa na infância? Sua mãe te criou, seus irmãos também? Os amigos...
R - Minha mãe, minha mãe e meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, né? Só que eu nasci no período das ‘vacas magras’ da minha família, porque meu pai era comerciante, né? Meu pai era português, aí ele trabalhou muitos anos na construção do metrô, trabalhou por alguns anos, na verdade, até ele sofreu um acidente no metrô, caiu um bate estaca na perna dele e o lesaram, não fizeram o que deveriam se fazer com ele e tal e aí ele passou por um processo de cuidar da perna e tal, de perder o trampo, né? Aí ele começou a tentar, com as economias deles ele montou um bar, né? E aí esse bar foi, ele sortiu o bar, comprou bastante coisa e roubaram o bar dele. Roubaram o bar, levaram tudo do bar. E aí ele começou a trabalhar como ambulante, fez uma série de outros serviços, como pedreiro, como... olhou moto, enfim, né? Então, ele trabalhava e minha mãe sempre trabalhou também, né? Só que quando ela casou com meu pai, meu pai meio que a proibiu de trabalhar. Então a colocou meio que pra ser dona de casa. O machismo estrutural que trouxe minha mãe pra dentro de casa. Mas ela sempre trabalhou como doméstica e cuidadora. Minha mãe cuidava, trabalhava em casa de família e cuidava de criança, antes de eu nascer. Não sei se no período da minha infância ela chegou a trabalhar, continuou trabalhando, porque quando ela veio pra São Paulo ela trabalhava em casa de família. E aí as histórias, inclusive, de adulta, dela, são nossas histórias. Sempre de trabalho, das dificuldades que passou nesses lugares. Que até hoje as domésticas não têm condição de trabalho, garantia, ou direitos trabalhistas nenhum. Então era esse o trabalho dela. Esse era o que ela mais trabalhou, assim, que eu tenho um relato de trabalho dela, era esse e várias atrocidades, de querer trabalhar meio que 24 horas, tipo: “Dorme aqui, dorme naquele quartinho de empregada” e tal. E da exclusão também, ela via, fez, preparou a comida, às vezes serviu, fazia de tudo um pouco, não era só cuidar das crianças, cuidava da criança e da casa e comia o que sobrava, porque é isso que os patrões dão para as empregadas. Comeu ali uma picanha, mas fala que acabou, mesmo ela sabendo que tem e dá o quê? É isso, mas eu fui criado pela minha mãe, minha mãe sempre foi muito presente, meu pai também. Eu vinha trabalhar no Centro com meu pai nesse período de infância, eu adorava andar de trem, ver os prédios e tal, ir pro Centro. Meu pai olhou moto ali na Mário de Andrade, na Sete de Abril, na Xavier de Toledo, ali ele olhou moto nas galerias que tinha ali e esse período foi o período que eu o acompanhei, assim, em São Paulo, vinha e pegava o trem. Eu e meu irmão, meu irmão mais velho e a gente acompanhava algumas vezes, no resto a gente ficava com a minha mãe, lá na região e tal.
P/1 - E quais eram as brincadeiras de infância?
R – Ah, diversas, porque a região que eu fui morar era semi rural em São Paulo, extremo da zona leste, divisa com Itaquá, já. E eu acho que por muita influência dos meus pais, porque minha mãe também era agricultora, no sul da Bahia e meu pai. Então ele foi buscar um lugar que foi prometido pra ele, foi vendido uma coisa pro meu pai, só que ele foi enganado, de certa forma, porque falaram que o lugar era X, mas convivendo, eles passaram a ver que era outro. Então, eu era... minhas brincadeiras eram diversas. Até andar de cavalo pra mim era uma brincadeira. Jogar bola. Eu tive uma infância que hoje as crianças não têm, de ter liberdade de ir, de ter rio, ter lagoa, por mais que o Rio Tietê já estava num processo de poluição, ali no Alto Tietê, antes de algumas indústrias ali, o rio não era tão poluído. Então, tinha muitas lagoas próximas no local. Então minha infância era jogar bola, empinar pipa, rodar pião, brincar de bolinha, andar de bicicleta, andar de cavalo, entendeu? Era variado, assim, tipo, eu tive muitas possibilidades de brincar, brincava bastante. Isso quando eu não fugia, então quase não ficava dentro de casa.
P/1 - Você queria ir pra rua?
R - É, eu gostava mais da rua, nunca gostei de ficar dentro de casa, assistindo televisão.
P/1 - E sua família tem algum costume específico, tipo datas comemorativas, aniversários?
R - Costume não sei, a gente se reunia muito, meu pai e minha mãe sempre gostaram, principalmente meu pai, gostava muito de visitar a família da minha mãe, porque a família dele está na Europa, então quase não ia. Não sei, a gente tinha o costume de comer junto, meu pai gostava muito de peixe, dessas coisas assim, mas não tem costume assim, tipo data, a gente sempre comemorava as datas comerciais. Mas o costume era pelo menos no aniversário de cada um, minha mãe sempre fazia um bolinho, por mais simples que seja, ela sempre fazia um bolo. Então era costume. Tipo, tem que ter pelo menos um bolo, no aniversário. Basicamente, é esse, assim, costume que eu acho que a gente adquiriu, que até meu pai gostava de ir, ele era obrigado a ir à igreja em Portugal, porque senão o padre ia em casa, buscar. Isso em Portugal. Aqui ele já não ia, não tinha esse apreço, assim, pela igreja, pela... e nem minha mãe, minha mãe também. Mas num período da vida dela, até agora ela é evangélica. Mas quando criança ia nos terreiros, que minha avó era praticante.
P/1 - A mãe dela?
R - É.
P/1 - Você tem recordações?
R - Da minha avó? Não.
P/1 - Do terreiro?
R - Eu ia no terreiro quando criança, porque a região que eu moro tinha muito. Tinha dois terreiros bem grandes, bem famosos, na época. Então, como eu brincava a região inteira, eu sempre estava lá, ajudava em várias coisas. Ia lá, na festa de Cosme e Damião, principalmente, ia lá comer um docinho, mas nas festas eu ajudava. Até ajudar a matar um boi pro pessoal fazer um churrasco, eu ajudava. Então, eu sempre circulei bastante lá no território, porque era um território grande, então eu circulava muito, brincava, fazia uma série de coisas, várias peripécias também. Tenho bastante cicatrizes.
P/1 - Tem alguma história boa?
R - Várias. Com dois anos de idade eu me queimei. O chá mate, o chá que me mata, quase que me matou. Minha mãe tomava esse chá. (risos) E aí ela estava fazendo, deixou lá, acho que não sei se estava no fogão, se estava na pia, pra esfriar e eu fui lá e puxei o chá. Aí eu me queimei aqui, o ombro e o pescoço aqui, essa região aqui era queimada. Como eu era muito pequeno, então foi mudando, mas as cicatrizes são de queimadura. E eu estava com uma blusa de lã, então tirou a blusa, arrancou um pouco da pele. Essa era com dois anos, eu acho.
P/1 - Você lembra disso?
R - Não, não tenho lembrança. Tenho só as marcas e o que me falaram, né? Minha mãe. Daí por diante eu tenho várias. Levei cinco pontos no olho, brincando de pique-esconde. E esse daqui acho que foi do mesmo dia, essa cicatriz que eu tenho aqui. Depois, com uns onze, doze, treze anos eu tenho esse daqui, empinando pipa. Daí daqui e aqui. Peguei uma pipa e, no meio da disputa da pipa eu briguei, eu acho e aí a linha ficou presa no meu dedo, aí cortou meu dedo, que eu consegui ver o osso desse dedo. Aí, depois disso eu virei alpinista, aí caí da laje, (risos) aí bati a cabeça, fiquei desacordado. Meu olho inchou, assim. Aí me levaram pro hospital, deu tudo certo.
P/1 - Várias histórias.
R - Várias. Porque houve uma desapropriação. Acho que em 1996, se não me engano. E aí tinham as casas que eram meio que sobrados e tal. E eu sempre gostei de ver essas questões de esporte e tal, de alpinismo, de montanhismo, de coisa radical, de aventura, de natureza e tal. Aí eu vi umas paradas na televisão, juntei uns amigos e aí fui escalar, fui descer de rapel, sem instrução nenhuma. (risos) Aí cai, pisei num limo lá, escorreguei. Eu já tinha descido e subido pela corda e tal e estava fazendo um outro caminho. E aí eu pisei num negócio, escorreguei e caí. Foi triste.
P/1 - Esse você já lembra? Essa história.
R - Lembro. Isso daí eu já tinha, sei lá quantos anos, nesse.
P/1 - E a família do seu pai, você conheceu alguém?
R - Eu não conheço ninguém pessoalmente da família do meu pai. Eu conheço algumas tias, que sempre mandaram carta, cartão postal. E hoje eu falo com a minha prima, falo bastante e com a minha tia, uma das minhas tias, porque minha família em Portugal é um pouco espalhada. Tem um tio na Inglaterra, tem um tio acho que em Lisboa e em alguns lugares de Portugal e em Funchal, na Ilha da Madeira. Então, não tenho tanta proximidade. Recentemente minha tia falou que ia me mandar uma passagem para eu ir para Portugal e eu ainda não tirei minha nacionalidade. Preciso tirar minha nacionalidade e tirar meu passaporte, que nem passaporte eu tenho.
P/1 - E escola, como foi esse período?
R - Escola sempre foi ruim pra mim, nunca gostei muito da escola. Gostava das atividades da educação física, mas eu fiz bastante coisa na escola. Em algumas partes eu gostava, de outras não.
P/1 - De quais?
R - Eu gostava de jogar bola na sala, com a cadeira, fazer a cadeira de golzinho no fundo da sala, de bagunçar, de fazer os amigos e tal, nos intervalos. Naquele tempo a escola tinha, pelo menos, refeição. Hoje já não tem mais. Hoje os ‘caras’ dão farinata e (risos) água e sal e suco industrializado. Antes não, antes tinha pelo menos refeição na escola. Hoje já nem tem mais. Mas já era sucateada. Porque a gente via a estrutura da escola. Eu sempre me senti preso na escola, porque a escola parece uma cadeia. Todas as escolas. Uma relação com a cadeia. O que o Foucault diz, que na sociedade burguesa capitalista, a escola é o primeiro estágio de prisão. E aí eu me sentia preso. Eu acredito que eu aprendi muito mais depois que eu saí da escola. Na escola a gente aprende a formar fila e sentar com o ‘rabo’ entre as pernas e só dizer sim. Não pode questionar, não pode bagunçar, não pode se expressar, não pode ter liberdade. Na escola é um pouco ‘engessado’, mas eu tive bons professores, eu tive uma professora... que eu tive dificuldade de aprender. Eu não sei se eu tenho TDAH, ou se eu tinha, porque hoje todo mundo tem TDAH, virou moda ter TDAH. E aí eu não prestava atenção. Eu sou uma pessoa meio que... não sei se sou disléxico ou não, mas eu tinha dificuldade de aprender, principalmente Português. Matemática eu sempre fui bom, hoje já não mais. E aí eu tive uma professora que deu um pouco mais de atenção para mim que, até hoje, na escola pública você tem um professor para 35, 45 alunos. Então, isso eu acho que dificulta a vida de qualquer professor e qualquer aluno também, que tem alguma... que não consiga acompanhar a turma. Então, eu tive alguns professores bons, essa professora de Português, que me deu uma atenção. A partir disso eu tive uma evolução, assim. Aí tive dois professores de história muito bons, assim, que tipo, traziam muita coisa, sabe, davam coisas dinâmicas para fazer, além de ficar... como eu também tive professores péssimos em história, que falavam para você elaborar um texto do livro de história, tipo, elabore perguntas e respostas do livro de história, basicamente isso.
P/1 - Você estudou sempre na mesma escola, ou não?
R - Não, eu estudei em duas escolas. Estudei fundamental numa escola e ensino médio em outra.
P/1 - E nessa época a música fazia parte da sua vida?
R - Sempre fez. Acho que uma das coisas que me despertou para o mundo em consciência social, política, história, foi a música. A música teve um papel fundamental, revolucionário na minha vida. E aí a música, a arte sempre me fascinou. Então, isso que fez eu aprender mais.
(29:114) P/1 - O que você consumia, do que você se nutria, nessa época?
R - Nessa época? Ouvia muito o rap, principalmente, eu acho que eu ouvia. Anos 2000, o rap estava assim, pesado. Então, tem muita... meu irmão ouvia também, então tinha referência muito do meu irmão, da família e dos vizinhos. Tipo, que em periferia o pessoal nunca ouve o som sozinho. Aí sempre é compartilhado, então eu tinha muito isso, então eu ouvia muito isso. Na rua, onde eu ia, eu gostava muito de samba, eu gostava de samba, eu gosto ainda, pra caramba, de samba. O reggae eu tive depois uma proximidade com o reggae, com umas ideias assim, mas eu ouvia muito som, muita música. Acho que a música foi um divisor de águas. E também eu tive uma professora que... uma das, no último ano da oitava série, que ela me deu um aperto, porque eu bagunçava muito. Só que eu sempre fiz as coisas. Então eu fazia rápido, pegava muito rápido as coisas, já fazia rápido e depois ia bagunçar. Aí não tinha como me segurar, entendeu, porque eu já tinha feito o que ela pediu. Então, fazia muito rápido, tudo rápido. E o restante eu usava pra brincar, pra... aí algumas pessoas iam no embalo e não passava de ano.
P/1 - E que artistas você destacaria?
R - De qual tipo?
P/1 – O que você quiser. Rap, funk...
R - Ah, eu destaco vários artistas. Veio na mente quando você falou artista, eu pensei no Basquiat, no som do Basquiat, mas eu gosto de vários artistas. Muitos artistas. Acho que eu gosto do Milton, o Milton Nascimento. Eu gosto do Racionais, Sabotage. Foi um dos ‘caras’ que tipo... Planet Hemp, eu ouvia pra caramba. Raimundos. Eu ouvia muito, assim, porque meu irmão ouvia bastante. E aí eu ouvia também Charlie Brown, Rappa, pra caramba. Na cena musical, assim. Nas artes eu sempre fui pirado em vários artistas diversos, assim, tipo... até da pintura, eu... teve um tempo que eu aprendi a desenhar, então eu era viciado em mangá, essas coisas. O que tinha de desenho, porque era um dos poucos que eu assistia, aí eu passei a gostar de desenho, assim, porque eu vi alguns desenhos e queria desenhar. Comecei a desenhar. Então, eu gostava de pintura, de arte. Eu fui pesquisando. Passei a gostar de vários artistas que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Além de Tarsila do Amaral. Que a gente é obrigado a desenhar Tarsila do Amaral. Só tem a Tarsila do Amaral, parece, no Brasil, de desenho.
P/1 – E sua proximidade com seu irmão? Vocês eram próximos?
R - A gente era próximo, porém a gente brigava muito. Meu irmão sempre judiou de mim, sempre. Meu irmão mais velho, sempre queria me bater. Mas tem uma aproximação legal com meu irmão. Sempre tive, assim, com meu irmão, com a minha irmã. Mas nunca foi tão boa, assim, não, acho. Sempre de conflito. Mas a gente sempre teve uma relação legal, mas é que meu irmão sempre foi da rua. Meu irmão, desde os treze anos de idade ‘sumia no mundo’, dava uns ‘perdidos’ e tal. Mas a gente fez muita coisa junto, eu e meu irmão. A gente, por um período, fazia contraturno escolar, que hoje é o CCA, no período que eu fiz, era o CCA do Maluf. (risos) “Eu ponho a Rota na rua”. E aí eu estudei no contra período escolar, por um período eu fiz Guarda Mirim, que eu odiava, mas eu tinha que ir, minha mãe me obrigava a ir, mas algumas coisas eram boas, mas algumas coisas péssimas, porque chegava lá e você tinha que fazer uma ‘pá de merda’ chata pra ‘caralho’.
P/1 – O que é isso?
R - A Guarda Mirim era meio que um projeto, né? Assim, tipo, era polícia que administrava um CCA. Tipo, era no contraturno escolar. Eu saía da escola de manhã, estudava de manhã e à tarde eu ia pra Guarda Mirim, que era vinculado com a polícia, com a Rota. Era vinculado com a Tobias de Aguiar, que é um dos fundadores da Rota. Então, a gente ia lá e tinha que usar calça jeans e a camiseta deles lá, uma camiseta polo e tal. Isso aí tinha coisas boas, mas tinha coisas muito chatas e burocráticas e meio que abusivas. Era meio que um projeto de um soldadinho. Então, você ia lá cantar Hino Nacional, cantar uma pá de hino, marchar, fazer desfile de aniversário de São Paulo, desfile cívico. Eu cheguei a fazer um desfile na minha vida. Com boininha lá, aqueles coletinhos, tal, todo sapatinho social. Um mini soldadinho, sabe? Um Soldadinho de Chumbo. Era ruim pra ‘caralho’, mas tinha muitas coisas boas, pra as pessoas da periferia, como eu, que tinha poucos acessos, poucos lugares pra ver, minha mãe achava isso como positivo e bom porque, no mundo, não só hoje, na periferia, mas existem muitas outras possibilidades e coisas que atraem a gente. Principalmente a criminalidade. Então, tipo, minha mãe colocava a gente pra ir pra lá, porque ela via como uma escapatória, assim como num período histórico do Brasil as pessoas mandavam as crianças para a Fundação Casa, como um projeto de vida, um projeto de: “Ah, o seu filho vai sair doutor”. Assim como tem aquele contador de história, que fala um pouco da história dele, dos abusos que tinha com a Febem, com esse aparato midiático, que induzia as pessoas a acreditar que determinadas coisas eram boas para elas, mesmo sendo ruins. Então, era um investimento do Estado naquele período, dar dinheiro para a polícia administrar e cuidar de pessoas, de vida. Apesar de ter pessoas lá que não era só isso que tinha. Além de ter uma alimentação lá, que era uma das coisas que mais atraía, acho, a população, era ter uma alimentação minimamente adequada pra gente crescer, porque uma criança com fome não aprende. Acho que isso, os governadores deveriam entender e ver que criança com fome não aprende, ninguém com fome aprende. Isso não tem como, com fome você não consegue fazer nada. E aí eu tive um reforço escolar lá, básico, mas tive, tipo de... às vezes eu saía com algum dever de casa, alguma lição de casa e lá eu fazia e tal, mas lá tive aula de meditação, tinha música, tinha fanfarra lá, mas só queriam tocar as porcarias de hino, né? Aí eu não dei certo, tentei tocar trombone de pisto, mas não deu certo, não sei fazer o biquinho lá, pra assoviar e não deu certo. Aí eu era do esporte, fazia esporte lá também. Aí, isso aí e desenhar, desenhava lá, fazia outras coisas que tinha lá, pra... só que era tudo regrado, tudo muito ‘engessado’, muita regra, muita coisa assim, tipo, eu lembro de você ter que marchar, ter que ficar cantando todo dia, praticamente.
P/1 - E o ensino médio, que recordações você tem dessa época?
R - O ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, eu mudei meu... minha história, tipo, porque eu perdi meu pai com doze anos. Eu fiz 12 anos no dia dois de junho, dia nove de julho meu pai faleceu. E aí, ‘mano’, mudou tudo, aí eu comecei a ‘trampar’, com doze anos eu comecei a trabalhar. E aí já mudou meu paradigma, então não tinha tempo a perder. Então, eu estudava. Na oitava série eu já estudava com mais afinco. Aí eu comecei a ler uns livros. Na oitava série eu já estava lendo. Eu comecei a ler MV Bill e Celso Athayde. Se não me engano, eu dei uma sapeada no Cabeça de Porco. Depois eu li Falcão - Meninos do Tráfico, que abriu minha mente. Foi o livro que transformou, mudou minha vida, minha trajetória.
P/1 - E você que foi buscando?
R - Eu que fui buscando… um livro que chegou até mim, porque na minha infância praticamente não tinha livro em casa, o que tinha eram aqueles livros antigos, sabe? Enciclopédia, aqueles... como é que se diz? Aqueles que tinham de telefone, sabe como era? Não lembro o nome. Tipo lista telefônica, aqueles livros gigantes lá, aquele mapa, sabe? Eu gostava de mapa, uma das matérias que eu gostava era geografia. Sempre gostei de geografia. Então, no ensino médio eu já comecei a ver outras coisas. Então, tipo, às vezes eu nem descia pro intervalo, ficava lendo. Até algumas professoras e diretoras que me viram em outros cenários falavam assim... entravam na sala e viam: “Pô, esse é o Adriano que eu conheci, que ‘tocava o terror’ lá, que...”, assinei mil vezes o livro negro, que tinha: “Ah, você vai tomar advertência”. Quantas advertências eu joguei e rasguei no meio do caminho? Então, eu comecei a mudar, mudou, deu uma mudança de paradigma, porque na oitava série mesmo tem uma professora que falou: “Se você não mudar em algumas matérias e tal, você vai repetir de ano”. Eu falei: “Eu que não vou repetir de ano”. Ainda mais que tinha uma excursão no final do ano, eu falei: “Não, eu vou”. Porque eu perdi algumas excursões, que me impediam de ir, porque eu era bagunceiro. Por mais que às vezes eu tivesse nota em matérias que eu me dava bem, geometria, todas as áreas da matemática, desenho, geografia, me dava bem. Português sempre foi uma questão pra mim, mas eu me saí bem. Foi essa professora de Português que falou pra mim que eu não ia passar de ano, mas aí eu fiz o que era para eu fazer, o básico. Mas eu sempre fazia, só que às vezes algumas matérias e algumas professoras eu não fazia, porque as professoras também tinham uma dinâmica um pouco diferente. Então, acho que eu fazia para contrapô-las mesmo, porque elas não tinham uma didática legal. Então, nesse período eu comecei a buscar outras informações. Aí eu li também o Caco Barcellos, a História da Polícia que Mata, Rota 66. Também foi um livro que abriu o meu horizonte, que ele fala também da questão de classe, querendo ou não, no livro, assim como o MV Bill também fala, traz várias histórias. Então, eu sempre gostei de histórias, de fatos, que tem a ver com a minha realidade, que vão se desenrolar de uma forma que eu consiga me sentir parte da história. E aí eu comecei a ler esses livros, assim, daí eu comecei a ler outros, aí comecei a ler outras ‘paradas’, comecei a buscar informação, comecei a me dedicar mais, até que tinha algumas piadinhas da diretora, que era da outra escola, dava aula na outra escola, falou: “Adriano aí tem alguma coisa errada. Está quieto, está no fundo da sala, está lendo, está estudando e tal”, aí aparecia algum... por exemplo: teve um fato que era só algumas pessoas da sala que iam ter acesso a alguns livros porque, como a gente sabe, a escola é precária e eram poucos livros para a turma. Então você ia fazer estudo compartilhado, só que algumas pessoas iam ser responsáveis pelo livro e aí eu era uma delas. E aí eu cheguei lá na biblioteca, porque era a diretora da outra escola e bibliotecária na outra escola. Ela era a diretora da escola anterior e bibliotecária da escola que eu estava, no ensino médio. E aí eu fui buscar o livro, ela falou assim pra todo mundo, tipo assim: “O Adriano está aqui e tal”. Aí todo mundo falou: “Mas o Adriano é um ‘cara de boa’, parece CDF, nerd da sala e tal” “Mas agora, ele mudou e tal”. Aí todo mundo veio perguntar, ficaram curiosos pra saber. Eu tinha tido esse start aí, de mudar, porque eu entendi que nessa época eu tinha tido uma percepção de que só conseguiria mudar um pouco minha concepção estudando. Minha ‘arma’ maior era estudar. Nesse período eu aprendi que a única coisa que os ‘caras’ não conseguem roubar de nós é o conhecimento e a formação. Então, fui buscar a informação.
P/1 – E você foi pra excursão?
R - Fui, eu passei de ano. Fui pra excursão.
P/1 - E essa época… você já comentou que participava de alguns coletivos, saraus. Já era nesse momento?
R - Nesse momento eu comecei a buscar. Foi nesse momento que eu comecei a buscar. E aí eu comecei a participar de movimentos de moradia. Luta por moradia. Eu participei do coletivo, lá chamava MULP, Movimento de Urbanização e Legalização do Jardim Pantanal. Foram os primeiros movimentos que eu participei e aí eu comecei a, assim que eu saí do ensino médio, fazer cursinho para vestibular. Um pouco antes, na verdade, porque quando meu pai faleceu, demorou um bom tempo para as coisas se andarem e tal, até estabelecer. Teve que fazer vários ‘corres’ para a gente sobreviver. E também aí vieram algumas questões de Portugal para a gente. E aí, numa delas veio da gente estudar, fazer faculdade e tal, que eles mandariam bolsa ou ajudaria com algum incentivo, mais pro meu irmão, que era o primogênito do meu pai, mas meu irmão já era ‘vida louca’, né? Meu irmão começou a dar trabalho pra minha família desde os treze anos de idade, nesse período que estava em transição, um pouco antes do meu pai falecer e aí ele ficava muito na rua, meu irmão passou por Fundação Casa, teve algumas passagens em penitenciária, no estado de São Paulo e fora. Então eu era a pessoa que estava à frente de casa, então fui buscar informação, estudar e tal. E aí eu comecei a participar dos movimentos, comecei participar de movimento de associação de bairro, de organização, assim, movimento de moradia. E aí eu fui buscando essas informações, aí até eu chegar no cursinho pré-vestibular, que existia, mas era autogestionário, né? Era uma organização que a gente entrava e a partir do momento que você entrava você fazia parte do processo de construção e organização do cursinho. Então eu organizei o cursinho por mais de oito anos, fui organizador e fui fruto do cursinho, porque eu comecei a estudar, eu passei na Federal, passei em algumas universidades, até fazer faculdade, até escolher o curso que eu queria.
P/1 - Como foi essa escolha?
R - Primeiro eu fiz outras coisas. Eu fiz ETEC, eu fiz desenho de projetos mecânicos, eu sou projetista mecânico de formação, porém nunca atuei. Eu fiz, enquanto eu trabalhava, minhas formações foram todas trabalhando, porque eu nunca deixei de trabalhar, desde os doze anos. Eu já trabalhava com meu pai, né? Já trabalhei com meu pai. Meu pai fez de tudo um pouco. E aí eu comecei a querer fazer alguma coisa. E aí eu desenhava, eu fui autodidata no desenho, em algumas coisas, comecei a aprender sozinho a desenhar. E aí eu vi um curso de desenho e tal, na ETEC. Aí eu falei: “Vou me inscrever”. Não sabia nem o que era. Cheguei lá, me ‘ferrei’, no primeiro dia de aula era aula de cálculo. O professor me ‘fodeu’, deu risada na minha cara, tirei zero, no primeiro dia de aula da ETEC. Estudei na Aprígio Gonzaga, na Penha. E aí eu falei: “Vou estudar, cheguei aqui”. Não sabia, porque era desenho de projetos. Tipo: eu achei que era, sabe, design? Pra você desenhar móvel, sei lá, qualquer coisa, era tipo criação, mas eu não sabia, eu cheguei lá, era tudo desenho milimetrado, calculado, você tinha que... sabe, você não desenhava o que você queria, você desenhava o que a pessoa queria, o que os ‘caras’ querem, tinha que fazer cálculo, aí tinha que fazer mil cálculos, tinha que medir, cada linha tem um nome, um significado, a ‘porra’ toda. Aí eu fui estudar, ‘mano’. Aí eu estudei, a primeira prova eu tirei zero. O professor: “Não, tranquilo, você vai aprender, você não sabe os cálculos e tal, né? Você não sabe as fórmulas. Tudo tem uma fórmula, tudo tem uma regrinha de cálculo e tal, você vai aprender e memorizar isso daí. Comprar uma calculadora, porque o desenho técnico é tudo...”. Só tinha gente lá que já tinha estrutura, que estudava em Senai, que estudava em escola particular, a maioria da ETEC, a grande maioria. E aí eu ‘corri atrás do prejuízo’ e me formei. Em cálculo nunca foi muito bom nesse período, aí eu já não era tão bom em cálculo, eu já tinha abandonado as exatas, mas na parte de desenho, eu ‘desenrolava’. Tanto é que teve um período que deu até um chabu lá nas provas finais, que a galera xerocou uns desenhos meus. Xerocou e passava. Xerocava fininho, né? Xerocava numa impressora meio que apagando e os ‘caras’ contornavam com a lapiseira, que é um desenho técnico que é muito... é meio burguês, porque pra você comprar um escalímetro, um paquímetro, um micrômetro, algo do tipo, um compasso bom, você tem que ter dinheiro. Até pra você comprar uma lapiseira boa, que não rasgue a folha. Você tem que ter o material técnico que é específico. Você comprar uma plancheia A3 é caro, mas eu trabalhava e eu comprava. Não da qualidade que algumas pessoas lá tinham, mas... até em ter um computador que gerasse um autoCAD ou um corelDRAW, porque a gente também tinha aula de desenho em autoCAD e corelDRAW. Mas aí eu tirei de letra. Depois eu comecei a buscar uns cálculos, comecei a aprender, comprei uma calculadora científica e me formei. Aí, depois que eu me formei, aí eu vi que eu não queria fazer esse tipo de desenho, né? Aí eu passei em História da Arte, na Unifesp, passei pra Belas Artes, mas eu não fui em nenhum dos dois, eu falei: “O que eu vou fazer nessa ‘porra’, ‘mano’? Estudar a história da arte, ‘trampar’ em museu”. Sei lá, não tinha meio que um cenário pra mim, não encaixava. Aí eu me inscrevi em educação física, ‘mano’. Os ‘caras’ me ‘tiraram’, me zoaram, que o ‘cara’ falou: “Você é ‘louco’, ‘mano’. Você fez projetos mecânicos, vamos fazer engenharia mecânica, vamos fazer, pelo menos...”, mas só que eu não tinha esse tempo, pra ver se dava certo ou não, está ligado? Pra experimentar: “Vamos fazer um tecnólogo, vamos fazer Fatec, fazer mais um pra ver, pra você pegar uma bagagem, depois você prestar pra engenharia mecânica, ou se seu pai tiver dinheiro você paga e faz engenharia mecânica”. Eu falei: “ ‘Mano’, ‘foda-se’ engenharia mecânica, eu não quero saber, não”. Aí fui fazer educação física, aí passei no Prouni, eu já tinha passado antes. Das provas que eu achei que eu tinha feito de pior forma foi que eu ganhei bolsa também. Aí ganhei uma bolsa 100%, aí fui em alguma ‘Uniesquina da vida’, que era o que tinha mais incentivo no Prouni, eram as universidades privadas. E aí fui fazer educação física. Aí eu me achei, ‘mano’. Sempre fui uma pessoa meio que ativa pra caramba, sempre gostei de fazer esporte, de diversos esportes, quase joguei profissionalmente.
P/1 - O quê?
R - Futebol. Joguei no... nas categorias de base, nem chega a base, né? Tipo, fazia escolinha de futebol, só que eu jogava bem, então os ‘caras’ meio que não deixavam, não precisava pagar. Tipo, paguei por um período, depois não paguei mais. Antes do meu pai morrer ele pagava e aí depois meu cunhado me ‘deu uma força’. Minha família, com minha mãe, me ‘dava uma força’ pra eu treinar, só que eu ia treinar longe e aí eu passava o maior perrengue pra ir treinar, porque eu só ganhava uma condução, minha família só tinha direito de dar uma condução pra mim, então eu tinha que - naquela época, era passe - me ‘virar’, ‘mano’, pra chegar e pra eu voltar e às vezes eu pegava várias rotas de ônibus, eu sabia o itinerário de vários ônibus pra mim, pra casa, porque eu ficava com vergonha de pedir pra passar por baixo, porque ou passava por baixo na ida ou na volta. E eu ia treinar bem cedo. Na ida, os ônibus eram lotados, eu tinha vergonha de passar por baixo, de pedir pra passar por baixo, porque ou gastava a condução na ida ou gastava na volta. Eu só ganhava um passe pra eu treinar o mês inteiro. Tipo, por mês eu ganhava um passe só, que é a condição que a minha família tinha pra me bancar. E aí, às vezes eu vendia o passe e comia. Quando eu conseguia ida e volta, né? Aí eu comia, né? Eu trocava o passe. Naquele tempo, você conseguia trocar o passe. Tipo, você tinha um dinheiro. Hoje você não passa o bilhete único em lugar nenhum. E está mais caro ainda. E aí eu fiz isso por um período, aí depois eu abandonei. Eu fiz uma pequena cirurgia. E aí eu abandonei, aí os ‘caras’ começaram a correr atrás de mim, pra eu jogar, fazer uns testes de sub-20. Eu já cheguei a fazer algumas ‘peneiras’ em alguns lugares, tive convite pra ir pra Europa, mas a gente não tinha tanta informação, então a gente ficou com medo de assinar contrato, de ir e tal. Tinha muita propaganda enganosa naquele tempo também, tinha muita coisa incerta e eu vi que... aí eu comecei a entender também. Nesse período já tinha uma compreensão maior e vi que quem tinha dinheiro ia para os lugares, quem tinha dinheiro jogava no time, quando o time precisava, colocava para jogar. Quando não precisava, deixava os ‘caras’ que pagavam jogar, porque senão o ‘cara’ não jogava, o pai dele não paga. E para ir para viagens e tal, eu nunca tive dinheiro, então ia quando os ‘caras’ precisavam. Quando não precisava, eu não ia. Então, meio que era uma... aí eu meio que desisti dessa perspectiva de ser jogador e tal. Aí foi quando eu falei: “Tenho que estudar. Não tem outra alternativa para mim, a não ser estudar. Roubar eu não quero, nunca quis, nunca quis vender droga, nunca quis fazer nada desse tipo, então vou estudar”.
P/1 - E aí você se encontra na educação física?
R - Eu me encontro, na verdade. Tenho vontade de fazer outras coisas. Eu queria fazer medicina, mas eu não tenho dinheiro, nem tenho um pai rico. Então, no Brasil você faz medicina assim, né? Eu cheguei, nessa época que eu comecei a fazer cursinho, eu queria fazer pediatria. Eu sempre trabalhei com... sempre gostei de criança, assim, tipo, sempre tive uma facilidade de trabalhar com criança. E aí eu participei, em 2007, se não me engano, de um grupo chamado Brás Cubas, que a gente se reunia lá no Jardim Pantanal. Eu sempre participei de vários coletivos, várias frentes na cidade de São Paulo. Tipo, a gente ia pra fora de São Paulo pra pautar o movimento de moradia no Brasil. E a reforma agrária, que até hoje a gente está na luta. E aí eu comecei a ver, em alguns países da América Latina e Cuba principalmente, tinha uma proposta de universidade gratuita, sem esse filtro que é o vestibular, que é um ‘puta’ de um filtro, para a gente não acessar universidades públicas. Nesse período já tinha uma discussão, um avanço de conhecimento e informação que muita gente não tinha e muita gente não tem, na verdade, esse acesso, assim, essa informação de que a universidade é pública e você pode acessar, por mais que tenha um filtro imenso, porque não dá para comparar com a escola pública, em muitas escolas públicas, não todas. Se é que você vai estudar numa escola pública na região central próximo a USP, por exemplo. Vai estudar na Amorim Lima, em outras escolas que são modelos no Brasil, que têm uma disparidade imensa de conteúdo, não só programático, mas de estrutura. E aí eu ia para Cuba, estudar, mas acabei não indo. Minha realidade precisava de mim aqui, eu não pude ir para Cuba. Mas a meta era ter estudado medicina. Mas eu me encontrei na educação física e faço vários ‘trampos’ da hora.
P/1 - Quais?
R - Eu já fiz muita coisa na educação física, mas eu também, no primeiro ano de formado eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos. Trabalhei com articulação de jovens, sempre articulei em movimento cultural e tal. Então antes de eu atuar como educador físico, eu já atuava com vários projetos, já ‘trampei’ com projetos audiovisuais. Estava falando antes, aí. Já fui fotógrafo, já fui desenhista de canga. Um dos meus trabalhos na infância era desenhar em canga, desenhar canga. E as que mais vendia eram as minhas criações, minhas ‘brisas’ de fazer além dos desenhos que as pessoas me pediam, eu fazia canga. Então, eu ‘trampei’ como autônomo, há alguns tempos, como ‘freela’. Fiz ‘freela’, fiz um documentário chamado Favela Fábrica, com a Pública. Fiz casamento, fiz book, fiz muita coisa já, fiz projeto de cinema na rua, nas regiões, na periferia, por mais de dois anos, a gente ganhou prêmio por fazer projeto de cinema, de fazer acesso, realmente, tinha um projeto chamado Pop Cine Pantanal. Se a população não vai ao cinema, o cinema vai à população. Espaços culturais e nem as estruturas de cultura da cidade. Porque pra eu chegar no Centro hoje é cinco reais, no mínimo. Se eu não tiver dez reais, eu não saio de casa. E então a gente fazia os projetos culturais para além do movimento cultural, movimento de moradias e movimentos sociais, a gente sempre pautou várias coisas, do cursinho pré-vestibular, a gente fazia feira cultural e a gente fazia meio que uma economia solidária, que a gente vendia sempre alguma coisa, camiseta, enfim. Aí a gente fez esse projeto de cinema, a gente fez o projeto de jornal comunitário, também a gente ganhou um prêmio.
P/1 – Não é um com jovens, ou não?
R - Com jovens e adultos, né? O projeto a gente escreveu... um dos que a gente escreveu na época era o Vai, a gente ganhou alguns Vais. Então, antes, até depois de formado, eu trabalhei como monitor de uma escola, de uma igreja X, que tinha um contra período escolar também e uma escola de até, acho que, ensino fundamental também e nesse período também trabalhava. Estudava, aliás, trabalhava lá e estudava, nesse período. E aí, depois disso já ‘trampei’ como educador, porque a gente fazia muitas atividades, então no movimento social eu fazia muita gincana, dinâmica com criança e tal, muita mística. Então, a gente sempre está envolvida na mística do movimento, de fazer atividades culturais, de organizar feira, de organizar sarau, de organizar festa. Então, sempre estava nessa articulação cultural com vários espaços, várias instituições, várias organizações, coletivos. Mais coletivos, sempre os coletivos... prioritariamente os coletivos autônomos, independentes. Então eu fiz muita coisa antes de chegar a dar aula, chegar a trabalhar com educação física. Então quando eu fui para a faculdade, eu já debatia com meus professores e os meus professores me tiravam nota, porque eu debatia com eles e provava que eles estavam errados. Então, o professor falou: “Mas é o que eu que estou pedindo. Quero isso, assim, assim, ‘assado’, senão está errado”. E aí, até eu chegar nesse período de trabalhar com educação física, eu tive um longo caminho. Por ser bolsista eu tinha que ter nota boa. Porque a pessoa acha que vida de bolsista não... é fácil, né? Mas não é.
P/1 - Qual foi o trabalho que você mais se identificou?
R - O trabalho que eu mais me identifiquei? Eu acho que foi dar aula, quando eu era monitor. Mas eu era monitor, porém eu dava aula. Eu tinha diário de classe, eu tinha turma. E aí eu, nesse período eu estava estudando modelos educacionais do mundo. Tipo, além de... eu sou paulofreiriano. Tipo, eu queria colocar na minha pesquisa de conclusão de curso o Paulo Freire, mas eu tive que estudar Alexander Neill, que é um pensador que discute a educação pelo amor, pela liberdade e tal. Ele meio que discute a democracia no modo de pensar, de educar. Pós-Iluminismo e tal. E aí vem dessa linha. As ideias dele se aproximam de outros pensadores, como Montessori, como Escola da Ponte. Basicamente parecido com essa linha. E aí eu comecei a implementar isso na prática, assim. Além, claro, trazendo o Paulo Freire pra linha de jogo, porque eu sempre... na faculdade eu tinha aprendido Paulo Freire, porque eu colocava as ideias e discutia isso também já, porque eu já era uma pessoa que já tinha lido muito, enquanto a galera foi aprendendo a faculdade algumas coisas que eu já conhecia, algumas teorias que eu já sabia e inclusive tinha contrapontos sobre elas. Então, às vezes os professores ficavam ‘putos’ comigo, porque eu trazia informações que eles não tinham, que questionavam aquela informação que eles estavam dando. Eles ficavam muito ‘putos’ da vida e aí não queria deixar eu falar, não queria essas coisas. E aí eu comecei a, nesse período, eu gostei muito de trabalhar com jovens, porque eles queriam uma coisa e eu trabalhava tudo e trabalhava o que eles queriam. E a dinâmica das crianças é muito ‘louca’. As crianças são ‘fodas’, sensacionais. A criança é muito espontânea, você aprende, ela te questiona, adolescente e tal, mas a criança tem o maior afeto, o maior amor, me via do outro lado da rua, dava o maior gritão: “Ah, não fala meu nome”. Me chamava de tio também, porque tem essa paradinha do tio e do professor. Aí a mãe até tomava um susto. O filho dava um gritão, saía pra me abraçar. Tipo, tem aquela sinceridade, aquele carinho, assim. Criança, ‘meu’, você não sai pesado de trabalhar com criança. Diferente, porque eu trabalho hoje com adulto, você tem que chegar em casa e tomar um banho de sal grosso, porque é muito caro, muita energia, está ‘ligada’? E a criança não, limpa a sua energia, ‘mano’. Então, o trabalho que eu mais gostei foi trabalhar com criança, porque eu fiz várias discussões, eu criei time, a gente foi jogar aqui na USP, na Copa Danone. Eu os levei pro Museu do Futebol, pra vários lugares, pra museu. Os tirei um pouco da realidade, fiz várias discussões. Eu consegui discutir com eles pão e circo. Coisa que você não consegue discutir, acho que nem na universidade direito. Tipo, falar pra eles dos grandes espetáculos, falar pra eles da história do futebol, desses grandes espetáculos e tal, de como é essa discussão, porque eles viam um pouco na pele algumas coisas. E eu comprava briga até com o campo pedagógico. A coordenadora pedagógica, uma vez, foi me questionar por que eu tinha um mapa-múndi na minha sala, se eu era professor de educação física. Aí primeiro eu quis matá-la, depois eu falei: “Acho que ela não sabe, acho que ela não tem noção do que é a ideia”. Aí tive que dar uma aula pra ela também, aí depois ela entendeu, porque, né, só porque eu só dou aula de educação física, eu não posso trabalhar em geografia? Tipo, teria cinquenta mil motivos para falar de geografia na aula de educação física, até para georreferenciar o aluno que está aqui, que está num mundo de uma realidade extremamente excludente, uma segregação de tudo, ambiental, enfim, do mundo, saber que existe uma outra realidade ali e várias perspectivas e ele não conhece, ele não entende, ele não sabe, porque está imposta naquela realidade que a mídia vê, que a mídia mostra. Então, eu comecei a trabalhar isso com meus alunos, então foi tipo um período rico pra caramba pra mim, que eu aprendi pra caramba, consegui passar bastante coisa, que até hoje eu encontro meus alunos desse período, já encontrei em baladas, já encontrei em vários lugares diferentes, diversos, assim. Meus alunos têm uma lembrança boa daquilo que eu passei, daquilo que eu levei pra eles, além de várias modalidades. Eu pude experimentar tudo que eu estava vivendo na universidade, na faculdade. Tipo, eu fiz, eu apresentei pra eles baseball, apresentei basquete, apresentei esporte olímpico, apresentei futebol americano, apresentei golfe, apresentei baseball. Já falei baseball, apresentei tênis pra eles. Mesmo que adaptado a gente começou a desenvolver e fiz uma competição com eles como se fosse uma olimpíada, esportes de atletismo, porque eles só queriam futebol. E aí a gente começou a criar vários outros mecanismos de ensino e aprendizagem com eles, diferentes. Eu tinha uma turma que era problemática, mas eu consegui fazer essa turma ser uma turma boa e apresentar vários resultados e consegui fazer com que eles aprendessem também e trouxessem várias outras coisas, porque dar aula, hoje em dia, é muito difícil. Eu não quero mais dar aula, por exemplo. Eu tive uma experiência, porém a gente não tem valor. Você vê quantos concursos abre para educação no Brasil? O último que eu prestei foi na Bahia e tinha gente do Brasil inteiro. Não tem mais. Agora, se você perder a identidade, você entra para a polícia, para o GCM. Não existem mais concursos. Tanto na Saúde, quanto na Educação. Então, tipo, eu não me vejo mais dando aula por causa desse sucateamento, por causa dessa estrutura. Do pouco que eu tive experiência em dar aula e uma coisa que eu queria dar aula, queria fazer, trabalhar com vários projetos, além de dar aula, só que a gente vê que a escola, lá atrás, quando a gente tem um olhar, a gente vê que a criança traz diversas questões familiares, tipo, ela reproduz a violência, reproduz a agressividade. E quando você vai entender e buscar uma mínima melhora, você sabe que você não tem ferramentas e uma estrutura organizacional, pedagógica ou estrutural para lidar com essas questões extramuros. Porque a criança traz e que é a realidade que ela está inserida também. Bom, acho que foi uma experiência muito ‘foda’ para mim, dar aula.
P/1 - Você tinha quantos anos, nessa época?
R - Eu estava fazendo faculdade, quando eu estava... tinha uns vinte e alguma coisinha. 21, 22.
P/1 - Era numa escola?
R - Não, era uma... sabe o que era? E eles até começaram a perceber. Era uma igreja. Uma igreja, uma instituição de irmãs, não sei o que lá, que elas têm uma ‘puta’ de uma escola, na Ana Rosa, uma escola ‘puta’ burguesa, que a mensalidade, na época, era mais de dois, três mil reais e aí eles tinham uma contrapartida social, uma filantropia lá, que é pra você abater aqueles impostos, aquele dinheiro que você ‘lava’ bastante, aí eles faziam lá, na periferia, mas eles não davam bolsa lá na escola deles, eles davam bolsa lá em outro lugar, pra dizer que vai salvar as almas ali. E aí a molecada... uma vez eles vieram me questionar, tipo, trocar ideia comigo, que eles me acessavam bastante e eu os acessava, porque uma vez a galera foi lá ver, que eles faziam umas doações e tal para as crianças. Aí eles foram lá conhecer, foram no zoológico, acho. Aí no dia que eles foram lá, eles serviram num prato de louça. Só que eles comem a semana inteira num prato de plástico. Aí eles viram a contradição. Tipo, foi apresentada ali, pra eles, né? Aí eles falaram, eu falei: “É”. Aí eu tentei dialogar um pouco com eles, né? Apesar de eu ser ‘cortado’, assim, em algumas coisas. Porque tipo, tinha meio que uma grade. Assim como o Estado tem, né? Tipo, não vai querer professor de filosofia, não vai querer professor de sociologia, não vai querer psicólogo nas escolas. Eles sabem que isso tem o poder de transformar, de acessar, de dar informação, eles não querem isso. Então eles começaram minimamente a ver, né? Tipo, de onde eu... sempre partia das minhas aulas de onde a gente está pro mundo. De onde que eu estou, pro mundo. Então a gente precisa primeiro entender onde que a gente está, onde que é o seu cenário. Então quando eu tinha o meu mapa na sala e quando eu fazia algumas questões, eu trazia a provocação deles: “Olha, vocês são isso aqui, ‘meu’. A mesma coisa eu contar a minha história aqui. Eu sou isso aqui, eu não sou nada. Eu sou um grão de areia”. E aí eles tiveram um pouco de sacada, assim, além das outras coisas que eu trabalhava com eles, tipo da gente construir uma proposta, da gente construir um objetivo junto, da gente discutir coisas que eram em comum com todos. Até eu criar uma dinâmica legal com eles, pra todo mundo participar e inclusive inserir, não ser excludente, porque todo mundo tem um processo de aprendizagem e de entendimento. Então, foi um período muito ‘foda’.
P/1 - E quando surgiu a oportunidade ou o interesse de trabalhar junto com a população em situação de rua?
R - Na verdade, não surgiu assim bem antes, porque eu, como eu falei, trabalhei numa implementação de uma política pública, que era o Juventude Viva, um programa que eu não queria nem falar esse nome, porque era uma discussão, uma pauta, na verdade, um movimento social, diversos movimentos sobre a letalidade do Estado, sobre as vidas de jovens periféricos, especificamente negros. E eu me inscrevi, fiz todo um processo e tal. Lembro que o texto que eu escrevi foi uma base da música do Gog, que é Carta à Mãe África. Pra mim, um dos processos que eu passei. E aí era pensar a política pro jovem, sabe? Isso é pro jovem periférico, né? Não é um jovem que está em situação de rua, mas é um jovem periférico, que também está em situação de abandono, de vulnerabilidade extrema. Então, eu já entendia essa dinâmica, porque eu trabalhava com população em situação de rua há muito tempo, quando eu trabalhei com moradia, o movimento de moradia. O déficit habitacional da cidade de São Paulo é imenso, então a população de rua é muito grande e ela é marginalizada, ela é jogada pras margens. Então, na verdade eu sempre lidei com pessoas em situação de rua. De pessoas que moravam numa região que era tida como imprópria. Só que tem a mansão do Lula... não, a mansão do Maluf lá no litoral, que é imprópria também, não pode construir uma mansão em cima do morro. Tem o morro do Maluf lá no litoral de São Paulo. Tem várias casas na beira da praia. Tem casa que está em cima do rio, tem casa que está… tem fábrica em cima do rio. Então, tipo, isso traz uma concepção imensa desse meu entendimento com a população em situação de rua porque, quando a pessoa perde uma casa, que é um direito subjetivo, que está na Constituição, porém não é colocado em prática. Então, tipo, eu já entendia essa concepção de situação de rua, porque as pessoas que não têm um teto pra nem chorar, pra conseguir pensar, dormir, pra pensar outro dia, pra se abrigar, não tem perspectiva de mundo. Pessoa que não tem moradia, que não tem um teto, né? Tipo, ‘o último a dormir apaga a luz’. Ela não tem perspectiva de vida, ela não tem nada. Quando você não tem um teto, você não tem nada. Então, tipo, quando a pessoa é desabrigada, quando a pessoa sofreu com uma enchente, ela sofreu com uma calamidade pública, ela está desamparada do mundo. Ela já é desamparada pelo Estado, porque o Estado não oferece nada, a não ser as cobranças e as coisas. Então, tipo, já lidava com essa população em situação de rua, em São Paulo, há muitos anos. Nas periferias, quando há uma repressão, há incêndio em favelas, porque houve muitos incêndios em favelas, o Brasil tem um histórico muito sujo. Não só em favelas, porque eu tenho proximidade e entendimento desde criança com o aldeamento. A população indígena, que nem gosta de ser tido como indígena, sofre no Brasil há muitos anos. Então eu já tinha essa concepção de pessoas em situação de rua, porque praticamente eles matam e desmatam populações historicamente há muito tempo. Então, eu já tive proximidade de pessoas, tipo de aldeamentos que eram saqueados, que eram queimados, incendiados ou até mesmo exterminados. A história moderna atual do nosso país tem, se for citar: Corumbiara, Sonho Real, Pinheirinho, Eldorado dos Carajás, enfim, várias comunidades foram exterminadas. Então, já tinha essa bagagem de... eu caí na situação de rua atual, no momento que eu trabalho agora, por acaso. Eu prestei um processo seletivo, do qual a minha categoria estava colocada lá, que é uma categoria bem ‘coxinha’, por acaso, bem militarista, bem nesse culto do corpo, bem greco-romana e tal, bem voltada para alguns lugares, tipo, de trabalho, são alguns lugares, apesar de ter uma possibilidade imensa, mas a maioria que tem uma grande concentração é escola ou nas academias ‘da vida’, ou nesses modelos meio militar. Então, eu passei por um processo seletivo, antes de eu trabalhar com um projeto muito ‘louco’ também, numa comunidade da União de Vila Nova, no outro Pantanal. Eu saí de lá, num projeto que eu ‘trampava’ com criança, experimentação de brincadeiras populares na rua, que esse é um projeto muito ‘foda’ que eu trabalhei. Eu saí, aí eu prestei esse processo, assim que eu acabei meu projeto, que eu trabalhava como MEI, eu prestei esse projeto e aí eu fui como pesquisador pra esse lugar, né? Chegando lá eu fui parar na Cracolândia. E aí, pô, tomei um choque assim, falei: “ ‘Caralho’, o que é isso?” Eu não sabia nada de saúde mental, de população em situação de rua, não tinha essa noção, essa dimensão do que eu tenho hoje. Tinha uma dimensão diferente da população em situação de rua, de diversas outras áreas. A gente trabalhava, trabalhei com muitas ocupações na cidade de São Paulo, fiz muitos projetos de ocupações da cidade de São Paulo, justamente lutando por espaço dentro da cidade, porque a gente sai pra trabalhar, os trens vêm lotados das periferias pra trabalhar em São Paulo, no Centro. Então, tipo, a gente via a população em situação de rua na periferia, diferente - nos interiores de São Paulo, nos outros estados - da população em situação de rua em São Paulo, mais precisamente. Quarta maior metrópole do mundo aí, e tal. Eu cheguei para trabalhar, porque eu entrei como pesquisador, que era para fazer esse projeto de pesquisa, implementação e trabalhar com população em situação de rua, na Saúde e eu não tinha noção nenhuma, praticamente, nesse quesito, mas eu estava aberto a aprender. Então, eu cheguei fazendo a pesquisa sobre álcool na cidade de São Paulo e, posteriormente, implementar núcleos poliesportivos e tal, com caráter de... não só de pesquisa, mas de ofertar outros cuidados, que fizessem com que as pessoas acessassem a Saúde. Então, eu comecei a entender um pouco do cenário que eu estava e fui mergulhando e aí eu fui tentando entender a dinâmica e conhecer o cenário que eu estava e a população que eu estava lidando. Então, comecei a fazer pesquisa para entender e fui aprendendo, tanto na prática quanto na teoria, fui buscar, tive uma formação na Unifesp, na USP, tanto em pesquisa, quanto no cenário cultural das drogas, no cenário cultural da população em situação de rua, do histórico. Fui aprender, fui fazer curso de drogas, de A a Z, enfim. Entender a história da droga, porque eles pulam muita parte. E eu já tinha esse contato quando eu ‘trampei’ com esse projeto de implementação sobre a guerra às drogas, porque o extermínio da população e o encarceramento da população tem muita ver com situação de rua. O sistema carcerário é cruel e ele devasta. Muitas pessoas passam a ir para a rua depois de ser egresso do sistema prisional, por N questões. Então, é um caminho muito... ele se encontra em vários cenários da construção política do Brasil. Então, a situação de rua se depara de diversas formas. E aí eu comecei a pesquisar, a entender, a ler, curioso pra caramba. E tipo, várias perspectivas me trouxeram à situação de rua, no cenário que eu estou hoje. Entendendo assim me choca pra caramba quando eu comecei a entender, porque eu não conhecia nada do cenário de situação de rua no Brasil. Não conhecia, sabe, a fundo e a realidade, o dia a dia. Conhecia por ver, por passar. Pô, você se chocar e até hoje eu não naturalizo a situação de rua. Nunca vou naturalizar uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em extrema vulnerabilidade. Nunca. E até hoje eu não consigo ver isso como natural, como normal. Pras pessoas virou tipo cotidiano. Evita, né? Virou um cenário ruim. E aí eu... uma das coisas que tinha, uma das perguntas que mais me chocou nesse cenário, que me chamou a atenção nos trabalhos de situação de rua, foi quando eu estava fazendo mapeamento da pesquisa da densidade e distribuição de algumas cidades de São Paulo, eu passei por um lugar e estava numa época de frio, né? Estava nas baixas temperaturas. E aí eu fui acordar uma pessoa. Eu já estava começando a trabalhar com abordagem em pessoas em situação de rua. E aí eu acordei o ‘cara’. E aí ele... aí eu conversei: “Pô, está tudo bem e tal. Está precisando de alguma coisa?”. Expliquei um pouco: “Pô, trabalho com X, Y, Z situações e tal, vi você aí e vim acordar, se precisa de alguma coisa, como é que esta? Passou a noite bem?”. Falei, porque nesse cenário muitas pessoas vêm a óbito, no frio, por várias situações. Aí ele falou: “Graças a Deus sobrevivi mais um dia, ‘mano’”. Tipo: isso aí ‘rasgou’ meu coração. Entrou assim, de uma forma que eu falei: “ ‘Porra’, ‘mano’, a realidade da pessoa em situação de rua: ela está vulnerável”. Ela estava atrás do Masp, lá embaixo, nuns viadutos que tem, pra cima da [Avenida] Nove de Julho. Aí eu falei: “ ‘Mano’, ‘foda’”. Tipo, sobreviver na rua é uma parada muito ‘foda’, assim.
P/1 - Queria te perguntar como você vê o cenário dessa população, hoje em dia, pensando nesse conhecimento que você tem do funcionamento, de como você enxerga, do que você aprendeu nesse... se aproximando desse pessoal.
R – Putz, é muita coisa, né? O cenário, eu acho que o cenário das pessoas em situação de rua está piorando. Depois do período pandêmico aumentou a população em situação de rua, tem vários estudos que apontam o aumento. Tanto em alguns quesitos de IBGE, censo, têm tido um aumento. E da piora das políticas públicas também. Ainda mais nos últimos desgovernos que a gente teve. A gente teve um avanço na desigualdade social e na retirada de direitos e de acessos. Então, tipo, a gente já tem um retrocesso histórico na luta de pessoas em situação de rua, na luta por moradia, na luta por educação, por saúde. Então o cenário está cada vez mais repressor. O aparato do Estado cresce no sentido de repressão. Então, cada vez mais está mais insalubre para as pessoas em situação de rua, que já é uma situação muito insalubre. Sem falar das instituições. Então, as instituições no Brasil, por mais que sejam colocadas como filantrópicas, elas arrecadam dinheiro e tem um histórico de vários enriquecimentos dentro da máquina pública. Quando a gente vê um sucateamento e o processo de terceirização e a criação das OSs, então você tem cinquenta mil OSs que fazem um trabalho de atendimento e acolhimento das populações na situação de rua, que dizem que fazem, que na verdade serve a uma lógica de controle dos corpos, a gente sabe como alguns pensadores vão sintetizar isso, inclusive sobre os corpos negros e a gente vê uma incidência de corpos negros na rua e isso tem um quesito, tem uma história. Quando eu comecei a trabalhar com as populações e no lugar, no cenário que eu estou inserindo hoje, na cidade de São Paulo, pensando no contexto histórico e territorial do lugar, de ocupação do lugar, na sua grande maioria são populações migrantes, tipo que veio para São Paulo e é ‘engolida’ por São Paulo. É ‘engolida’ pelas possibilidades que São Paulo tem e pela possibilidade que São Paulo tem de matar as pessoas e controlar os corpos. [Achille] Mbembe vai falar isso de várias formas, né? Então, na situação de rua esses corpos são os corpos matáveis. São os corpos que ninguém vai reclamar, que ninguém vai reivindicar. Que estão expostos a um processo de degradação e de abandono que, quando as pessoas colocam essas pessoas, não só a situação de rua, mas colocam as pessoas que fazem uso de substâncias como zumbi, ela está desumanizando essa pessoa. Então, quando você tira essa possibilidade de humanização dessa pessoa, você está dizendo que ela não é um humano, então ela pode ser morta, ela pode ser humilhada, pode ser negada. E quando as pessoas chegam na situação de rua, é porque várias portas já foram fechadas, porque vários outros modelos de sistema e de controle, de acesso a políticas públicas foram negadas. Então, porque falhou em todos outros processos, sabe? Processo educacional, processo de modelo educacional, o processo de modelos de sociedade que a gente vive, é porque isso está falido e está... e quando a gente entende, passa a entender e trabalhar em diversas instituições, diversos modelos de trabalho, tanto na máquina pública, quanto fora dela, você vê que é estrutural, entende? Já pelo modus operandi, né? Tipo, quantos médicos negros consigo ver trabalhando em hospitais ou com população em situação de rua? Praticamente não tem. Quantos gestores negros a gente consegue ver? Não é porque não tem formação, não tem capacidade intelectual, ou não tem capacidade, ou não tem currículo. Tem, né? Tem muitas pessoas que têm muito currículo, muita bagagem. Por que elas não são? Porque é uma lógica estrutural. Então, quando a gente consegue compreender a lógica de Estado e a lógica, a gente vê que a gente faz parte desse sistema de opressão. E consegue ver que muitas políticas públicas são feitas para não dar certo, principalmente a política de situação de rua, porque a pessoa em situação de rua é uma pessoa que os espaços não querem entender. É negado atendimento, em alguns casos. Então, o meu trabalho hoje em dia com população em situação de rua é praticamente brigar e lutar por acesso à dignidade, a um direito básico, que é de acessar à saúde, por exemplo. Não só a saúde, acessar cultura, esporte, lazer, direitos básicos, sabe, de poder acessar a cidade, porque as pessoas não acessam a cidade, não só a periferia, também não acessa a cidade, porque a gente vive numa segregação, a gente vive numa periferia meio que cidade-dormitório, né? As pessoas vêm, trabalham na região central e voltam para os seus lares, mas não conseguem acessar a cidade, não conseguem ter dimensão dessas opressões e desses muros invisíveis. Então, trabalhar nesse cenário, entender esse cenário, compreender, tentar ver como que está se andando. Está sendo muita coisa historicamente errada. Não tem, praticamente, né? Recentemente eu fiz uma... foi feito umas falas referente à moradia, para a população em situação de rua. Inclusive, a Erika Hilton fez um projeto de lei que está tramitando para ser aceito, com moradia, estudo e trabalho, que é um avanço na lei, mas vamos ver como ela vai se dar na prática, pensando nas estruturas das OSs, né? Como que a gente vai ser acompanhado? Como vai ser controlado isso? Como vai se dar isso? Por mais que exista vários direitos para as pessoas, mas que na prática ela não se cumpre. Então, na Constituição a gente tem uma coisa linda, muitas coisas bonitas, mas que na prática não se dá. Então, a gente consegue ver que falta muita coisa para avançar em atendimento à população em situação de rua, porque essa galera já teve cinquenta mil portas fechadas na cara. Então, é difícil, às vezes, elas quererem. Algumas coisas são bem imediatas, outras coisas são laboratoriais, são coisas que deveriam ter um acompanhamento na UBS. Só que, mesmo na região central, que tem bastante acesso e bastante equipamentos, a gente ainda vê dificuldade em acesso. Por exemplo, a burocracia ou algumas pessoas que você vê que não querem trabalhar, não querem fazer, não querem atender determinada população. Fora a opressão, fora essa questão de marginalizar as pessoas, tantas pessoas que estão à margem, nas periferias, são marginalizadas, quanto as pessoas que estão em situação de rua, como ver como todas as pessoas têm o entendimento que as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, num determinado período... num determinado território, como a Cracolândia, as pessoas tidas como “cracudos”, vamos dizer assim, que é uma palavra horrorosa, coloca todo mundo no mesmo patamar, como se todo mundo fosse drogado. Não, não é todo mundo que está em situação de rua, todo mundo que está na Cracolândia, é drogado. Não é. Nem todo mundo que está lá usa droga, nem todo mundo que está lá usa crack, por exemplo, nem todo mundo que está lá chegou lá porque quis, ou está lá porque quer. Entende? Então, é uma questão muito delicada, muito complexa, que acho que a gente tem que avançar muito, muito, inclusive em outras questões. Porque acho que a população em situação de rua era um reflexo de várias outras mazelas sociais. Que a gente é reflexo de um modelo colonial. Quando a gente vai pensar Brasil, pensar a população em situação de rua, a gente ainda vive um modelo que é alimentado por uma indústria que fomenta essa desordem, essas pessoas em situação de rua, para vender segurança, para vender arma, para vender várias outras coisas. Então, isso endossa vários pensamentos e várias questões de cunho social e de abandono. Porque inclusive de saúde mental e de saúde de modo geral, porque muitas pessoas estão adoecidas, em situação de rua. Se a gente vê pessoas que têm casa, que têm trabalho, que têm condição, que têm estrutura, adoecer mentalmente, imagine as pessoas que não têm nada, que foi roubada a dignidade. Então, é um campo muito delicado. Então, eu aprendi que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe a história das pessoas. Então, a gente não conhece a realidade de ninguém, não conhece o sofrimento do outro. Não dá pra você mensurar sofrimento. E nem pra quantificar. Então, é um campo muito complexo, que eu aprendo todo dia. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Hoje mesmo eu aprendi. O ‘cara’ me deu isso aqui. Uma pessoa que eu atendo. Atendi pouquíssimas vezes, mas nos grupos que eu faço.
P/1 - Você encontra sempre as mesmas pessoas, ou não necessariamente?
R - Não, é um mundo volátil. Você encontra… por exemplo, nos primeiros anos que eu trabalhei na Cracolândia eu trabalhei com um projeto de capoeira. ‘Mano’, encontro capoeirista do Brasil inteiro, capoeirista que rodou o mundo. Encontro compositor, percussionista, escritor, multiartista. Conheço o cabeleireiro, ‘cara’ que fala cinco, seis idiomas. Entendeu? Engenheiro, enfermeiro, educador físico, artista, pedagogo, jogador de futebol, ex-jogador, mil histórias, várias pessoas, que você não sabe um terço do que essa pessoa passou e viveu. Diversos abandonos. Várias violências, abusos, tortura. Então, é um campo que eu aprendo muito, sabe? Tipo, só que eu consigo fazer algumas coisas que são transformadoras, como as rodas de capoeira que a gente fazia no fluxo, a gente fez mil rodas de capoeira, várias rodas de capoeira, a gente fez sarau, a gente fez cinema, que acessou as pessoas de diversas formas, trouxe várias memórias, várias lembranças, vários insights que as pessoas foram, algumas pessoas mudaram, saíram dessa realidade, passaram a fazer outras coisas, buscaram novos horizontes ou antigos horizontes, se reconectaram com a família, outros também nem querem se reconectar, querem seguir seu caminho. Então, até hoje mesmo, que isso aqui é de hoje. Olha aí: “Sorria mesmo que seja um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir”. E esse aí tem dois, que é uma pra mim e outra pro meu outro colega de trabalho, que não era plantão dele hoje. Aí: “A vida foi feita pra viver, então saibamos viver do modo certo”. E aí tem duas pinturas aqui e umas pequenas frases. Esse paciente, esse cliente como diz a Nise da Silveira, está fazendo um grupo comigo, que eu faço um grupo de esportes, já tem mais de dois anos que a gente faz um grupo de esportes coletivos e aí eu trabalho bastante com futebol. Não era só futebol, mas hoje virou mais futebol. E aí eu faço semanal porque, pela experiência que a gente tem, quando a gente começa com população em situação de rua, com a população que faz uso e que são dependentes químicos, é importante você criar uma agenda, algo fixo, que tenha continuidade, que tenha permanência, porque às vezes, por mais ‘louca’ e desorganizada que a pessoa está ela: “Que dia é hoje? Que hora que é? Pô, hoje tem futebol, hoje é terça, sabe? Vou ‘colar’ lá, nos meninos lá e tal”, porque a gente não é só futebol, é futebol, é redução de danos, troca de ideia, é uma cuidada em saúde e aí a gente, nesse meio tempo que eu fui trabalhar, nesse meio tempo, nesses anos aí que eu estou trabalhando, a gente foi entendendo que, na verdade, quando a gente implementou a política, a gente fez parte da construção da política na prática, fazendo algumas coisas, a gente foi entendendo que pra fazer a pessoa que é abandonada, excluída, tida como invisível, tida como uma pessoa indesejada, ela precisa ser seduzida de uma outra forma. Ela precisa ser atendida com perspectivas que têm a ver com ela, que faça sentido para ela, porque é ela. Como o próprio projeto terapêutico diz que tem que ser singular, tem que fazer sentido pra você, se não fizer sentido pra você, não vou acessar você, por mais que você esteja precisando, porque a gente encontra pessoas precisando, está com a perna ferrada, por exemplo, mas ela usa esse mecanismo a favor dela, ela usa isso pra pedir, muitas das vezes, pra ajudar a convencer esse ser humano que está doente tanto quanto essa pessoa e aí ‘bate’ aquele senso lá de bondade, como aparece no Natal, uma pá de gente caridosa, né? Que ‘bate’ aquele espírito natalino de doar, de ajudar o próximo. De: “Ah, o menino de Jesus está nascendo ali”. Mas se Jesus vier ali na Cracolândia, por exemplo, os ‘caras’ o matam três vezes de novo. Então, eu fui aprendendo que você ter essa constância e trazer algo que faz sentido para a pessoa, como a gente faz roda de samba, além da capoeira, faz esporte diversos, a gente faz vôlei, faz basquete, futebol, sabe, brincadeiras, pipa, enfim, várias coisas que atraem as pessoas. Falar de desenho tem gente que gosta, falar de cabeleireiro tem gente que ‘curte’. Trazer coisas que têm a ver com essa população, que fazem sentido pra ela, que tem história, que tem uma raiz, ou tem alguma proximidade. E ter constância. Ter variedade e ter coisa que tenha proximidade, que tenha afeto, tenha carinho, que tenha amorosidade, que são princípios do SUS também: empatia, humanização. Que você seja humano, que você sinta, que você se coloca no lugar do outro, tem empatia. Quando você coloca isso, você atrai as pessoas e você oferta outras coisas que elas não têm acesso ou que elas querem ter acesso e muitas vezes elas não sabem como falar, ou como chegar, ou não sente confiante em falar do seu problema, ou se expor, falar da sua vida, ou contar sua história, sua trajetória, o que te traumatizou, qual que são os seus medos, seus dramas, o que você precisa. Então, através dessas dinâmicas e dessas intervenções, a gente consegue acessar a saúde, consegue levar não só a saúde, mas consegue trazer uma estrutura social, consegue trazer uma dignidade de tirar um RG, tirar um CPF, de buscar um histórico escolar, de voltar a estudar, de entrar num programa de política de trabalho, de fazer um CAPS, de ir para uma comunidade terapêutica, por mais que a política hoje de comunidade terapêutica seja muito complexa. Mas se esse é o desejo da pessoa, a gente vai falar das possibilidades desse desejo. A gente vai falar dessas possibilidades. E, nesse caso, uma vez por mês a gente faz um passeio. Na maioria das vezes é pra gente conhecer também o lugar, mas também fazer uma prática. Então, a gente faz uma articulação. Hoje eu consigo uma alimentação, que garanta o café da manhã, pelo menos, depois de algumas lutas. A gente foi pro parque, a gente foi pro Parque Ecológico do Tietê. E a pessoa falou: “ ‘Mano, pô, que legal, que ‘da hora’ aqui, ‘mano’. Que ‘foda’, mano. Tipo: ‘porra’”. A pessoa teve, sabe, como se você acessasse um lugar que não foi acessado, ‘mano’. Tipo ‘aquela lâmpada’ acendeu. Você vê no olhar da pessoa o brilho quando ela: “Pô, eu preciso buscar ajuda, eu preciso...”. Isso não foi só de um, foi de alguns e ao longo do tempo que a gente está indo, a gente também ia muito no Ibirapuera, que é outra realidade. O Ibirapuera é muito mais cheio na semana do que os parques das periferias. Porque é mais elitizado. Então, quem que está de boa numa terça-feira, sabe? Tem a terça-feira livre. Quem não trabalha, quem vive da exploração do trabalho de outro. Quem é administrador da riqueza. Para eles ter acesso a isso, estar imerso em um mundo onde para ir tem que se locomover, tem que pagar condução, tem que manguear, tem que pedir, tem que acessar, é diferente. É a mesma coisa com o moleque da periferia, quando ele sai para outro lugar, ele vê outra realidade, ele vê outro mundo, ele vê que tem possibilidade. Ele consegue ver que tem. Que nem quando eu levei alguns moleques da periferia pra entrar na USP. Falou: “‘Caralho’, ‘mano’. Achei que isso aí era só em filme. Achei que isso só via esses ‘bagulhos’ na Malhação, esse modelo de escola onde você pode entrar, você sai, tem uns ‘rolês’, umas ‘paradas’ lá fora da sala, você aprende fora. Você não aprende sentado, com a cabeça aqui. Fala: “Sim, senhor. Não, tudo bem. Está errado, está”. Sem questionar, sabe? Então, quando a gente alimenta possibilidades e sonhos e coloca essa ideia de que ainda é possível sonhar, entendeu? Tipo, que é possível, que tem possibilidade ainda de mudança, de melhora, deixar de acreditar. Quando a pessoa deixa de acreditar, ela se entrega. Tipo, por exemplo: o vício, para outras questões. Quando a pessoa começa a falar toda vez pra você: “Você é um lixo. Você é um ‘nóia’. Você não presta. Você não vale nada”. De tanto se ouvir isso, isso te convence, né, ‘mano’? Você vai e fecha a porta, você vai e fecha a porta. Aí você pede ajuda e te fecha uma porta. Aí fala: “Não, você não precisa de ajuda. O que você quer? Você quer água? Toma água”. Às vezes a pessoa não está pedindo só água. Está pedindo outras coisas. E aí a gente começa a entender que, pra acessar as pessoas, a gente faz um karaokê, por exemplo. Várias pessoas que cantam. O ‘cara’ canta Marvin Gaye, ‘mano’. O ‘cara’ canta pra caramba, entendeu? Então, a partir disso a gente vai vendo vários potenciais, que nem numa escola, por exemplo, que você começa a ver potencialidades, que você começa a ver: “Pô, aquela pessoa ali seria um bom pugilista, ou aquela pessoa ali seria um corredor, ou aquela pessoa ali seria um trapezista, ou aquela pessoa seria uma futura (01:47:54) dos Santos. Sei lá, aquela pessoa é uma Raíssa lá, ‘porra’, anda de skate, ela tem maior habilidade, um equilíbrio”, entendeu? Tipo: e a partir disso a gente vai acessando as pessoas e vai oferecendo outro tipo de cuidado, vai inserindo-a numa realidade. Então, a gente, eu fiz muito passeio para museu, para os espaços da região central. Alguns ainda são fechados, mas a gente abriu algumas portas, de acessar museu, acessar exposição, acessar teatro, cinema. Pô, levei uma galera para ver um cinema. Pra ir num cinema, num cinema mesmo, não é projetar um filme aqui, tudo adaptado, improvisado. Não, pra ir num cinema de verdade, com direito a pipoca e tal. Pô, a galera... ainda um filme muito ‘louco’ que, tipo, sabe, que mexe com a mente. Tipo: ainda fala sobre saúde mental, né? A galera ‘curte’ muito. Um tempo atrás eu encontrei uma pessoa que estava em situação de rua e não está mais. Eu até demorei, assim, ficava meio confuso se era ou não era, mas eu lembrei, a pessoa lembrou de mim, lembrou de fatos que eu lembro, que eu passei um filme dos raps mais perigosos do mundo, que é a história do N.W.A, a história do rap norte-americano. E aí: “Eu lembro daquele filme, aquele filme me deu o maior insight, abriu um horizonte pra mim. Toda vez que eu vejo eu lembro de você, lembro daqueles filmes lá que você passava” e tal. A gente passou vários filmes, fazia vários debates, fazia uma roda de conversa. Teve um dia que a gente lotou uma sala normal, de atendimento e a gente fez o filme lá e a galera ‘pirou’, a gente fazia direto. A gente está tentando retomar esse projeto. Assim, você vê que faz a diferença ter outros mecanismos, além de você ofertar atendimento, cuidados básicos, ou de você abordar e ver lá: “Tudo bem?” Encaminha saúde, fazer um tratamento de tuberculose, a gente trata muito a tuberculose. A gente trata outras doenças infecciosas. A gente atende também muitas pessoas que estão em surto, que estão desgostosos com a vida, que também querem conversar, quer desabafar, que quer, enfim, voltar a sorrir. Então, eu tenho muitas possibilidades de fazer muitas coisas. Então tipo: falta muita coisa assim ainda, né? De acesso em vários lugares. Falta mais acessos a serviços que são caros, como por exemplo, tratamento odontológico. Um serviço caro. E que na maioria dos serviços públicos ele não existe como deveria. Na maioria dos lugares... eu fui fruto disso. “Quando eu precisei de dentista, na minha infância, o ‘cara’ foi lá e arrancou meu dente”. Então, é uma tortura. E a maioria dos lugares oferece isso. Só extrai. Você vai em qualquer lugar de saúde, na maioria das vezes eles querem só extrair. Hoje tem alguns lugares que tratam, que cuidam. Ainda é pouco, precisa de mais. Então, a gente sabe que não só a população em situação de rua, mas a população vulnerável, em extrema vulnerabilidade, precisa de muito atendimento de saúde. Na região que eu moro, quase não tem atendimento de saúde. Quando o médico vai, tem médico lá na região que é apelidado de Doutor Cavalo, porque ele é um ‘doce de pessoa’. Imagine, né? A pessoa vai lá para ser atendida, é escorraçada, é esculachada, é exposta. A pessoa não vai querer voltar lá pra ser atendida. Tipo, é uma forma de você filtrar. Ou então é uma forma de você não atender, você não dar um atestado, não dar declaração. Não que a pessoa vai ficar viciada nisso, mas dignidade pra pessoa, se ela está doente, né? Tipo: a maioria do sistema é dessa forma, né? Além da galera adorar um corpo numa universidade, para fazer estudo, né? Porque de quem são aquelas peças, né? Que é chamada de peça, na universidade, pra gente ver os corpos. É de quem esses corpos, né? Quando você vai lá na mesa, pra usar o bisturi, pra ver um músculo, pra ver um órgão, é de quem esses corpos? Um cenário, vamos dizer assim, da população em situação de rua adoecedor. Pra todo mundo: pra quem vê, pra quem sofre com essa população próxima, porque também não é fácil, né? Que é um problema social de anos, né? Só a Cracolândia tem mais de trinta anos, né? E hoje ela está espalhada em várias partes do Brasil. Não é só no Brasil, no mundo. Só que fora ainda tem sim uma política um pouco mais avançada. Também tem um pouco mais de poder aquisitivo, porque os ‘caras’ roubaram a gente pra caramba também. Por isso a gente tem um modelo na Europa bom, vai ter um modelo ‘foda’ na Finlândia, um modelo ‘foda’ em Amsterdam, em outros lugares. Mais pela estrutura.
P/1 - Teria mais um milhão de perguntas e interesse não falta, em te ouvir, mas eu vou dar um salto.
R - Pode ir.
P/1 - Quais são seus sonhos? Pessoalmente, profissionalmente...
R - Eu sonho muito. Se eu não sonhasse, se eu não tivesse perspectiva de sonhar, eu já tinha desistido da vida. Eu sonho com um mundo melhor, ‘mano’. É tipo aquela... O Mágico de Oz, né? Não O Mágico de Oz do filme, O Mágico de Oz dos Racionais, né? A gente sonha num mundo melhor, num mundo que não houvesse opressão. Perspectiva de mundo, assim, né? Tipo: eu sonho num mundo mais humanitário, mais humano, mais fraterno, sabe? Tipo, um mundo que a gente não precisa de muito pra viver, a gente tem tudo, ‘mano’. O Brasil é rico em tudo, ‘véio’. Você planta dá, tem sol, tem chuva, tem água, está ‘ligada’? A gente não precisa de mundo, precisa de estrutura. Então, eu sonho numa divisão igual, de perspectiva de sonho de mundo. Eu sonho isso, sonho num mundo melhor, num mundo humano, igual, onde eu posso o mesmo que você, eu posso o mesmo que quem está nessa região onde eu estou, de eu poder sair. Se eu sair nessa região aqui e andar a pé, eu vou ser ‘enquadrado’ pela polícia. Está ‘ligada’? Eu costumo falar que a minha ‘bandeira’ é a minha pele. Eu não levanto bandeira de partido, de organização, de lugar nenhum. Minha bandeira é a minha pele porque, em qualquer lugar que eu esteja, ela vai valer mais do que qualquer coisa, então... agora, em perspectiva profissional eu sonho em mil coisas, tenho mil projetos, mil frentes, tenho um espaço cultural, coletivo, autônomo e independente. Então, penso em ‘trampar’, além da minha prática como educador físico e como articulador cultural, vamos dizer assim, artista no modo geral, porque eu faço de tudo um pouco, então a gente sonha em ter liberdade de escolha, eu sonho em ter liberdade de escolha profissional, onde eu não fique só ‘amarrado’ em um salário, mas ser ‘amarrado’ em algo que eu faço que faz sentido. Então, no momento eu estou feliz onde eu trabalho, por mais que seja difícil, seja complexa a relação institucional, profissional com as pessoas, eu gosto do que eu faço, porque eu tenho algumas possibilidades de trabalho, tipo de fazer coisas e propor coisas além da máquina, dessa coisa ‘engessada’ de saúde e doença, doença e saúde, ou desse cenário, sabe, onde a gente só vê investimento na força letal. A gente só vê investimento na força mais sombria do Estado. Na mão que controla o mercado, na mão que controla os salários, que controla as condições de vida. O sonho é ter possibilidade de fazer algo que seja plausível e que, dentro da lógica do capital, não seja uma coisa tão monetizada, mas que seja prazerosa e que faça sentido na sociedade. Então, profissionalmente eu não penso em ganhar muito dinheiro e tal, porque acho que, como eu mesmo falo, assim: “Eu podia ser engenheiro, talvez”. Dentro dessa bolha de algumas possibilidades que a gente fala, não vendo essa ideia meritocrata, dizer que eu posso, que eu poderia ser determinadas coisas, mas eu sei que tem um filtro gigante. Até mesmo no modelo que eu trabalho, no que eu trabalho, é difícil você ver determinadas pessoas com as características que eu tenho, com a cor da pele que eu tenho, estar em alguns lugares de poder. Então, isso é um pouco utópico pensar, mas em fazer o que eu tenho vontade de fazer. Então, eu acho que eu sonho em ter perspectiva de poder transitar, de poder ter liberdade de escolha. Que isso ainda é um privilégio burguês, de você ter escolha, ter liberdade de poder trabalhar com determinados segmentos ou com determinados lugares ou pessoas, e ter uma condição econômica confortável, vamos dizer assim, de você não se sentir vendido. Eu acho que é bem por aí. Mas eu tenho um sonho de ‘rodar o mundo’ também. A gente tem sonho pra caramba. Tenho um sonho de poder largar tudo e falar, vou fazer que nem alguns europeus fazem pelo mundo: “Vou viajar pro Brasil, porque os ‘caras’ é real e o meu é dólar, é euro, vale seis vezes. Vou ‘roletar’ por um ano no Brasil, depois eu volto, trabalho mais dois anos, viajo por três”. Sonho de ter uma condição econômica favorável, de ter esse conforto. E todo mundo acho que sonha, né? No mundo capitalista a gente quer ter acesso, né, ‘mano’? Então, acho que, senão esse sonho não era tão vendido em tudo que a gente vê, né? Em todos os outdoors, em todas as publicidades, em todas as músicas do momento é você ter bens que te deem uma facilidade. Pô, a Ludmila sonhava em ter um jatinho, pô. Hoje ela tem um jatinho. A Beyoncé também tem. Está ‘ligada’? Tipo, esses sonhos materiais às vezes passam pela nossa cabeça, mas eu acho que não me apego a esses sonhos, mas de poder ter acesso, de poder usufruir disso em algum momento, todo mundo sonha, eu acho. Então, isso faz parte também do imaginário da gente, de ter acesso a possibilidades.
P/1 - Tem algo que eu ainda não te perguntei, mas que você gostaria de falar? Algum episódio, alguma história, alguma mensagem?
R - Não sei, deixa eu pensar.
P/1 – Uma passagem da vida...
R - Acho que eu tinha várias histórias que eu queria contar aqui, mas não sei, foi tudo, assim, tipo, espontâneo, assim, não preparei nada, assim, para falar algo que eu queria falar. Ah, você não me perguntou, sei lá, da minha concepção política de mundo, talvez, eu acho que eu sou uma pessoa crítica, assim, para caramba, mas eu não sei como eu elaboraria isso, senão é tipo uma coisa que você não me perguntou. Além desse sonho, acho que é de perspectiva, né? Acho que eu poderia falar da perspectiva das coisas que eu faço. Assim: eu tenho uma vontade, um sonho de fazer coisas que são transformadoras, por mais que eu já faça, né? Tipo, já fiz muita coisa, assim, de trabalho, mas era fazer um trabalho que não tem, sabe? Tipo, nos lugares que não chega, tipo aquele... como eu não lembro agora o nome do... nossa, aqui... esqueci, pô. Enfim, mas é levar algo que não tem nos lugares que precisam, sabe? É devolver dignidade em alguns lugares e algumas questões. Por exemplo: eu moro numa região que sofre anos pro controle das águas. Eu praticamente sou população ribeirinha dentro da cidade de São Paulo, porque o Poder Público tem projetos, como todos os lugares tem projetos. Só que são projetos que não estão nem aí para o meio ambiente, nem para as pessoas que nele habitam. Que não têm o respeito. Então é uma região que sofre constantemente com alagamento, mas esse alagamento não é a força da natureza: “Nossa, Deus é tão cruel, Ele mandou muita chuva”, não. Porque as pessoas querem controlar os rios e comprimem a sua margem para privilegiar outros espaços. Então, eu tinha uma perspectiva de fazer esse embate com o rio e valorizar essa proximidade que a gente tem com o rio. Tenho uma história muito ‘louca’ com o rio e com as águas. Então eu vejo isso, isso me incomoda muito e uma coisa que eu tinha vontade de atuar era com essa perspectiva, com essa luta sobre os rios, mas a gente... isso esbarra em várias outras coisas, né? Inclusive na perspectiva de mundo e de construção que eu tenho, de que isso me machuca e me incomoda, porque eu tenho medo de ser perseguido, de ser assassinado. A gente tem esse medo. Quem está à frente de várias lutas pelo mundo e no atual momento, isso me incomoda. É uma coisa que não é de agora, que isso me incomoda e aí a minha perspectiva, na verdade, eu venho fazendo as coisas e lutando sem muita visibilidade. Até eu vir aqui falar um pouco da minha história, por mais que eu tenha falado de um contexto e partes dela, eu não falo o meu viés e minhas lutas, porque a gente é perseguido a todo momento pelas lutas. Então, todas as pessoas que eu luto, estudo, admiro, conheço, em vida foram perseguidas, foram assassinadas, por lutar por ideais e por lutar por coisas que são tão óbvias e tão, sabe, expostas assim, que sabe que tem essa contradição que está errada e que... né? Assim como falar dessa questão do rio e do local que eu moro, é falar que a gente é cerceado e a gente é controlado. E a gente não pode falar e nem lutar com as armas que a gente tem, porque até então a gente não tem tantas armas, além da nossa voz e do nosso corpo. Como eu tenho uma mistura europeia, preta, indígena, dentro de um país miscigenado, mas a minha pele é negra. É engraçado se eu fosse português no Brasil, mesmo falando em português ou querendo falar de uma outra forma, mas é meio que uma piada, vamos dizer assim. Mas quando eu falo dessa perspectiva de luta por uma coisa que é tão óbvia e tão necessária no Brasil, como são os rios e isso me incomoda, me choca, quando eu vejo o Rio Tietê e o Rio Pinheiros serem esgotos e a galera querer limpar o Rio Pinheiros porque está numa área mais nobre, limpar os afluentes e o Rio Tietê, que passa por outras áreas não tão nobres. Então, isso, pra mim, me incomoda muito, é uma coisa que teria muita coisa pra falar, ou pra dizer, ou pra colocar. Então, acho que uma coisa que é muito ‘foda’ pra mim, que isso me incomoda muito. Não é só porque eu tenho essa ligação com os rios, eu acho, com o rio, né? Mas é porque até um período do Brasil a gente, uma hora dessas, com o clima que está em São Paulo, né, ‘meu’, ia ter cinquenta mil pessoas ao longo desse rio só em São Paulo, ‘mano’. Sabe, tipo de possibilidades de vida, de vida. E eu costumo falar em um movimento que a gente, no espaço que a gente criou, a gente fala que a gente luta por vidas, e hoje eu trabalho com vidas, tentando salvar, resgatar, mas não acredito nessa ideia de salvamento, nem acredito em um único Messias. Acredito muito na força da natureza como um mecanismo de mudança e transformação pelo que a gente está vivendo, está inserido, está próximo. É uma sensação que as pessoas sentem quando ela entra em um lugar limpo, bonito, preservado, quando ela entra numa mata, numa floresta é a sensação de indignação que eu tenho quando estou na cidade e os lugares não são respeitados e preservados. Então, essa indignação que eu tenho quando eu vejo esses lugares sendo invadidos, degradados, assim como as pessoas têm sido mortas e assassinadas, por reivindicar o básico e o óbvio, não só no Brasil, como em todo mundo. Mas no meu caso, no Brasil, quando eu vejo vários lugares sendo degradados com tudo que está lá, com as pessoas, com os bichos, com seres que habitam aqui, esse lugar. Assim como eu vejo em São Paulo as pessoas sendo ‘moídas’ vivas e sendo consumidas como se fosse mercadoria. Então, isso é algo que eu luto contra e que eu vivo em prol disso, mas também com muito medo de ser mais um mártir, sabe? Então, muitas das coisas ficam no anonimato, tem uma luta muito grande e muito antiga de subsistência. Que a gente luta pra existir, né? E a gente faz uma junção de várias frentes em um espaço chamado Quilombo Quebrada, que a gente entende que toda ‘quebrada’ é um mini quilombo, pelo menos era no passado, hoje está um pouco mais diferente essa concepção, mas que sofre e convive de problemas muito parecidos, mas que o capitalismo e o modelo que a gente vive de vida hoje, de sociedade, faz a gente se ver como inimigo, se ver como diferente, como exótico, como excludente, assim como as pessoas vão descaracterizar um índio fora da aldeia e vão julgá-lo se ele estiver numa Hilux, porque índio não pode ter Hilux. É tipo como eu não posso também ter, porque se eu estou dentro de uma Hilux, eu vou ser ‘enquadrado’, eu vou ser julgado: “Como que você tem? Por que você tem?” Essa indiferença que incomoda pra caramba e faz a gente ter mais ‘gás’ de luta, mas também faz a gente entender que a gente é alvo quando a gente defende o óbvio, tipo isso.
P/1 - Como foi, pra você, poder se contar aqui pra gente?
R - Estranho pra ‘caralho’. Assim, tipo, muito estranho você vir falar, porque eu nunca contei minha história, assim, de fato, nos bastidores. A minha história não é diferente de muitas pessoas da periferia de São Paulo, das periferias do Brasil, dentro da perspectiva de um jovem negro, de um adulto negro, de um trabalhador negro, em São Paulo, num país excludente e extremamente racista. Pra mim é muito difícil falar, inclusive falar dos meus medos, dos meus traumas, da minha história, das minhas fragilidades, de perspectiva, de sonho, de trabalho. A gente tem medo, né? Acho que é difícil e a gente não vê a nossa história colocada nos pontos de vista. Então, isso é amedrontador, assim, falar, se expor, mesmo num mundo totalmente tecnológico, onde as pessoas expõem totalmente sua vida e coisas extremamente desnecessárias. E tipo num mundo cada vez mais volátil, mais vazio e mais fútil, onde as pessoas criam sentimento e apego com uma pessoa que ela nem viu, nem conhece, ou por número de seguidores, que não faz sentido na vida real, sabe? Tipo, está vivendo uma vida fictícia, mas não consegue viver a realidade, não consegue estar imerso na realidade, não consegue esboçar a reação, o sentimento real, sabe? Ou até mesmo falar dessa história sem ter interação, sem conhecer, sem estar falando ou estar próximo de alguém, isso é difícil, acho. Isso é muito ‘louco’, assim, tipo, poder... quero ver depois o resultado, como vai ser, como é essa produção, porque isso também dá um medo, de saber como que vai ser colocada. É a mesma coisa quando você dá uma entrevista para uma emissora de TV. Eu já dei algumas. Nunca sai aquilo que você fala. (risos) Sempre os ‘caras’, você fala uma coisa, você pode colocar de outra forma, ‘mano’. Você pode deturpar tudo que a pessoa falou, inclusive fazer a pessoa falar algo que ela nem queria dizer. Então, isso dá um certo receio.
P/1 - Cuidaremos.
R - Aí, esse é o medo, mas eu achei ‘da hora’ falar e colocar um pouco também em perspectiva. Por mais que eu não tenha, sei lá, desenhado o meu script, vamos dizer assim. Tipo, eu não desenhei nada, não escrevi o que eu queria falar, mas é a gente trazer um pouco dessa narrativa e desse corpo que transcende. Sabe, tipo, minha envergadura transcende minha alma e minha história porque, quando eu falo de mim, eu tenho que falar e eu carrego comigo a história dos meus antepassados. Então sempre que a gente fala, a gente... por mais que às vezes a gente não esteja colocado, mas a gente carrega a história de outras pessoas. Pelo menos eu carrego e sei muito bem disso, que pra eu estar vivo e poder estar falando aqui, várias outras pessoas tiveram que morrer pra eu poder falar, então sempre trago isso em mente, em vida porque, saudar meus ancestrais porque, se eles não tivessem resistido e lutado talvez eu não estaria aqui, então é sempre a gente... e essa questão com a história falada, né? Tipo, porque a gente vem de uma oralidade e de uma construção que foi histórica que foi negado o nosso poder de fala, a nossa forma de contar nossa história. Então, tipo, quando tem a possibilidade de contar nossa história com o nosso viés, é falar dos nossos... uma arte, falar da nossa história, da perspectiva de pessoas que são colocadas de uma outra forma. A história sempre contada pelo opressor nunca vai falar do nosso contexto. Quando eu falo do local onde eu nasci, nasci na curva de um rio, mesmo que foi numa instituição moderna, diferente da minha mãe, que nasceu de parto natural, dentro do rio. Ainda é uma perspectiva colonial de controle, né? Tipo: quando você nasce num espaço controlado, onde as pessoas meio que castram umas às outras. Até a gente fala nesse contexto de população, a gente viveu isso no Brasil, viveu um processo de controle dos corpos e ainda vive, extremamente mais ainda, cada vez mais. Então, é bem difícil falar de um corpo que eu entendo que é cerceado, quando eu falo, até hoje eu falo isso, que eu ainda vivo num modelo de escravidão moderna, de uma servidão moderna, onde eu vivo um cerceamento e uma ditadura pós-moderna, vamos dizer assim, de controle. Então, a gente, enquanto homem negro e as mulheres enquanto mulheres sabem desse medo de sair à rua. A mulher é diferente, sai com medo de ser estuprada e o homem negro sai com medo de ser morto, está ‘ligada’? Pela estrutura que a gente vive. Eu saio na rua e tenho medo de ser morto. Se eu mentir e negar isso, eu estou negando minha existência nesse mundo e eu não estou me entendendo também. E não estou entendendo o lugar e sociedade que eu vivo. Então é dessa perspectiva que eu trago a narrativa e a história. O sistema, inclusive, pra eu nascer, quase que me mata, quase que eu não nasço, quase que eu não venho ao mundo. Por imposição de várias questões. Então, é difícil falar desse lugar e dessa situação que a gente vive.
P/1 - Apesar de desesperador, de um certo modo, é muito legal quando a gente termina sabendo que ainda tem muita história, sabe?
R - Sim. Sabendo que eu contrario as estatísticas e que as histórias estão em construção, isso é saber que tem possibilidade, quando a gente começa a entender que a gente tem possibilidade, porque em vários lugares do mundo, ou no Brasil agora, muitas pessoas estão deixando de ter perspectiva e possibilidades. Ainda mais com o atual cenário que a gente vive. Onde as pessoas não estão terminando o ensino médio, nem fundamental, nem nada. Não que isso seja um paradigma, não que isso seja algo extremamente necessário, que eu conheço muita gente que é evoluída imensamente, anos-luz e não tiveram um ensino médio, não tiveram uma graduação. Então, tipo, pra mim ainda é uma perspectiva de mudança de várias formas, de que a história está em construção. A gente faz parte da história e a história consome a gente em todo lugar. Assim como eu carrego histórias de várias pessoas, de vários ícones, de várias pessoas que mundialmente são conhecidas, de outras que não. Conheci uma pessoa que não era conhecida, mas era uma pessoa ‘foda’, ‘mano’. A pessoa tinha mais de mil letras de músicas, todas ‘fodas’ e não é conhecida em lugar nenhum, está ‘ligada’? É uma pessoa de ‘quebrada’, pessoa negra, banguela, que tinha uma bagagem muito ‘foda’, muito, muito, muito ‘foda’. Tocava pra caramba, cantava muito, tinha muitas composições próprias, que desbancaria vários cantores ‘fodas’ do Brasil e do mundo. Só que a história dela não chegou onde deveria, acho, talvez. Ou também esse era o legado dela também, né? Às vezes essa era a história dela, essa era a vida que ela tinha que ter vivido. Não sei. Então, tipo, a gente tem uma imensidão de pessoas, de histórias que podem ser contadas.
Recolher