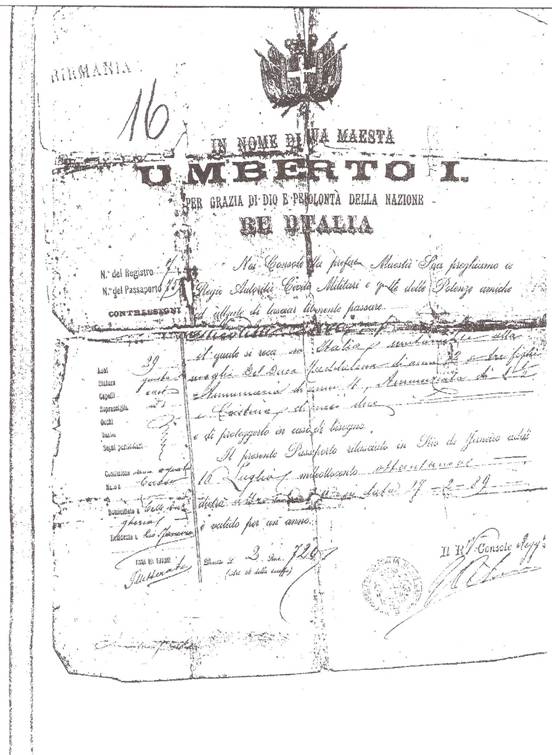Projeto: Clube da Esquina
Depoimento de: Ronaldo Bastos Ribeiro
Entrevistado por: Stela Tredice
Local de gravação e data: Rio de Janeiro, 16 de junho de 2004
Realização Museu da Pessoa
Código do depoimento: HV 015 – Cd 1 / 2 80’
Transcrito por: Palena Duran Alves de Lima
Obs: Márcio Borges participa em algumas partes da entrevista como R2.
P – Então, Ronaldo, pra começar ia pedir pra você falar seu nome completo, local e data de nascimento.
R – Ronaldo Bastos Ribeiro, eu nasci em 21 de janeiro de 1948, em Niterói, mais precisamente na praia de Icaraí.
P – E o nome completo dos seus pais?
R – Vicente Belo Ribeiro e Mariana Bastos Ribeiro.
P – Você tem irmãos?
R – Tenho três irmãos: Raimundo, o mais velho; o Roberto; eu sou o terceiro; e tem o meu irmão mais novo, que é o Vicente.
P – Três homens, então?
R – Três homens
P – E qual era a ligação, ou é a ligação dos seus pais e avós com a música?
R – Acredito, diretamente nenhuma - na minha família não tinha nenhum caso de músico, nem poeta. Eu tinha um tio mais assim, mais poeta, que era o meu tio José, mas acho que ele era mais pra maluco do que pra poeta... Que era médico, era um cara bacana, mas não tinha nenhuma, não tem nenhuma tradição na família de músicos, nem de escritores.
P – Mas por que esse seu tio era maluco, qual é a relação, em que sentido?
R – Não, eu me lembrei dele agora, há muito tempo que não lembro dele. Eu digo assim, ele era maluco no sentido de... ele era um pouco maluco também, um pouco excêntrico, mas assim era a única pessoa que eu conheço que escrevia alguma coisa assim.
P – O quê que ele escrevia?
R – Escrevia, eu não sei exatamente o que ele escrevia, mas eu acho que ele escrevia... mas não era também, literariamente não tinha um grande valor. Eu digo assim, na minha família não tinha nenhuma tradição, eu não pertenço àquela... como que é? O Tom Jobim chamava assim, essa coisa das...
Continuar leituraProjeto: Clube da Esquina
Depoimento de: Ronaldo Bastos Ribeiro
Entrevistado por: Stela Tredice
Local de gravação e data: Rio de Janeiro, 16 de junho de 2004
Realização Museu da Pessoa
Código do depoimento: HV 015 – Cd 1 / 2 80’
Transcrito por: Palena Duran Alves de Lima
Obs: Márcio Borges participa em algumas partes da entrevista como R2.
P – Então, Ronaldo, pra começar ia pedir pra você falar seu nome completo, local e data de nascimento.
R – Ronaldo Bastos Ribeiro, eu nasci em 21 de janeiro de 1948, em Niterói, mais precisamente na praia de Icaraí.
P – E o nome completo dos seus pais?
R – Vicente Belo Ribeiro e Mariana Bastos Ribeiro.
P – Você tem irmãos?
R – Tenho três irmãos: Raimundo, o mais velho; o Roberto; eu sou o terceiro; e tem o meu irmão mais novo, que é o Vicente.
P – Três homens, então?
R – Três homens
P – E qual era a ligação, ou é a ligação dos seus pais e avós com a música?
R – Acredito, diretamente nenhuma - na minha família não tinha nenhum caso de músico, nem poeta. Eu tinha um tio mais assim, mais poeta, que era o meu tio José, mas acho que ele era mais pra maluco do que pra poeta... Que era médico, era um cara bacana, mas não tinha nenhuma, não tem nenhuma tradição na família de músicos, nem de escritores.
P – Mas por que esse seu tio era maluco, qual é a relação, em que sentido?
R – Não, eu me lembrei dele agora, há muito tempo que não lembro dele. Eu digo assim, ele era maluco no sentido de... ele era um pouco maluco também, um pouco excêntrico, mas assim era a única pessoa que eu conheço que escrevia alguma coisa assim.
P – O quê que ele escrevia?
R – Escrevia, eu não sei exatamente o que ele escrevia, mas eu acho que ele escrevia... mas não era também, literariamente não tinha um grande valor. Eu digo assim, na minha família não tinha nenhuma tradição, eu não pertenço àquela... como que é? O Tom Jobim chamava assim, essa coisa das famílias que têm essa coisa: “você desaparece, depois chega aquele herdeiro”, né, ele falava esse negócio. Então tem esse negócio, hoje em dia tem muito essa coisa do filho, o neto, não sei quê, estar cheio de referências.
P – Tá, então ainda a sua infância, descreva um pouquinho a rua, o bairro onde você morava. O que é que você se lembra?
R – Eu fui menino moleque de rua, assim, eu morava numa ladeira, quase no centro de Niterói, mas tudo muito perto ali, né. Na minha infância eu lembro que estudava em Icaraí, ia a pé pra escola, jogava bola na rua, vivia uma parte grande do tempo em cima de uma goiabeira. Tive uma infância de moleque - e escutava rádio, acho que aí começa a minha ligação com a música, primeira, é toda através do rádio.
P – O quê que você escutava na época?
R – Tudo, mas especialmente nessa época tinha a Rádio Nacional, que era a TV Globo da época. A Rádio Nacional acho que foi uma coisa que ajudou a formar o Brasil tal como a gente conhece hoje ele, hoje em dia. E formou, e me formou, eu me lembro que Caetano já falou muito nesse negócio da Rádio Nacional também, como uma referência. Eu escutava Marlene, Emilinha, as irmãs Batista, aqueles programas: Jerônimo, o herói do sertão; o Anjo. Todas as coisas, essas coisas, a música da Rádio Nacional - Nora Ney, os programas do Celso Alencar. Eu sei que eu vivia colado no rádio, quando eu não estava na rua e quando eu não estava na escola.
P – Mas como que era essa dinâmica, você fica sozinho, ou era numa reunião de família, em que momento acontecia isso?
R – Não, o rádio nas casas, nessa época, o rádio estava sempre ligado, não tinha... eu não ficava sozinho pra escutar. Porque em alguns momentos eu devo ter escutado rádio sozinho, mas assim eu não tinha essa, e nem um momento que eu escolhia para ouvir rádio – o rádio era uma coisa que ficava ligada nas casas. Não sei se em todas as casas, mas eu me lembro disso um pouco da rua, o rádio como uma coisa presente na vida das pessoas.
P – E das rádios novela também, você se lembra?
R – Ah, novela, muito.
P – Ouvia?
R – Ouvia, não sei se eu chegava a acompanhar novelas, não sei. A coisa que mais vai se escutar neste depoimento é: “eu não me lembro”, porque a minha memória hoje está um pouco afetada, mas ela normalmente é quase... A gente estava conversando agora, eu estava conversando com o Márcio Borges agora - um pouco antes desse depoimento – disso, que a gente lembra às vezes um pouco das situações, não muito dos fatos, mas mais da sensação. A minha sensação da infância é uma sensação muito feliz, né, porque sempre se descreve a infância com país felizes. Para muitas pessoas infelizmente não é assim, mas pra mim é uma sensação que eu tenho – essa.
P – E as suas visitas à casa do Heitor dos Prazeres?
R – Isso aconteceu depois, eu morava no Rio. Na realidade a maioria dos meus tios moravam no Rio, então eu tinha uma coisa de - essa coisa da barca, de atravessar a baía, muito presente. Tanto que quando eu vim morar no Rio, eu continuei como dentista em Niterói, só pra ter isso. Aí tinham os tios de Niterói, que eu fazia o caminho inverso. Isso já foi quando eu estava no Colégio Pedro II, no Rio, e por alguma razão eu, mais pela coisa da pintura... É engraçado que eu hoje em dia, eu vou muito a show, porque eu gosto muito de ir – eu estou assim falando de outras coisas -, mas eu gosto muito de ver o trabalho das pessoas. Sou um cara assim muito participante, não é nem da política, da minha classe só, mas sou muito curioso pelo que as pessoas fazem. Sou muito ligado às artes plásticas, principalmente a pintura, então eu tenho a impressão de que a primeira coisa que me atraiu foi ter visto o Heitor dos Prazeres numa revista, e ter de alguma maneira conseguido chegar a ele, que eu não me lembro como. E aí comecei a... Eu matava aula no Colégio Pedro II e ia para o ateliê dele, que era ali atrás da Central do Brasil, perto ali, naquelas ruas. E ficava lá meio de bobeira, matando aula e vendo o Heitor pintar, e conversando com ele.
P – Quantos anos você tinha, mais ou menos?
R – Bom, aí começou, a minha falta de...
P – Mais ou menos.
R – Esse negócio de que ano aconteceu comigo é meio... Eu era, não sei, eu estava no primeiro, provavelmente o primeiro ano, antigamente o colegial, o ginásio, colegial. Não sei, uns 15 provavelmente, se não for 15 é por aí.
P – E o que fascinava você? O que te atraia a ficar no ateliê, o que é que você gostava?
R – Eu acredito que, fora essa coisa da pintura, mas na realidade era o samba. Assim, não é nenhuma novidade isso, mas eu repito por uma coisa que eu sinto da mesma maneira, então não tem como eu criar uma frase nova. Mas eu não sei se eu ouvi essa frase, quem criou não sei se foi o Tom Jobim – eu já ouvi o Tom Jobim falando isso, não sei, já ouvi o João Gilberto falando isso. Assim, “no final o que eu faço é samba”, né. Então acho que eu era fascinado, na realidade pelo samba. E o Heitor dos Prazeres foi uma maneira que eu consegui de chegar ali próximo. Felicidade de garoto, nessa época você coleciona coisas, e aí você vai atrás, e aí não sei quê, e uma dessas minhas curiosidades – quer dizer, só hoje estou pensando isso, assim como só hoje eu resgatei meu tio José, mas só hoje estou pensando isso. Eu acho que na realidade eu era curioso pelo samba.
P – E em que momento você sente que a música realmente entrou na sua vida pra ficar?
R – Não, eu acho que a música sempre esteve na minha vida. De alguma maneira misteriosa, porque não têm antecedentes e nunca tive instrumento musical em casa, as minhas tentativas de aprender violão também foram desastrosas. Mas eu, de alguma maneira misteriosa eu me sinto mais músico... Assim, eu não me sinto, não me sinto poeta no sentido, quando - porque assim tem uma coisa no Brasil que o fato de eu ser um cara branco, de classe média, ter ido à faculdade, essa coisa toda, as pessoas têm uma tendência de chamar de poeta, o poeta. Eu não me sinto poeta, quer dizer, eu me sinto tão poeta quanto qualquer pessoa que tenha um sentimento poético, mas não me intitulo poeta porque acho que poeta é uma pessoa que se dedica a uma coisa, que é escrever poemas. E eu não acho isso, entendeu, não me sinto, não me vejo nessa altura. Na realidade eu sou um compositor popular, mais guiado pela música e pela música das palavras, do que pela... É claro, eu leio poesia, todas essas coisas que você vai, esses hábitos que você vai cultivando, esses interesses não só pela leitura, mas por outras artes, essa curiosidade de alguma maneira influencia. Mas o fato, por exemplo, de eu gostar tanto de pintura, de artes plásticas, não me faz um artista plástico. Assim como eu gostar tanto de poesia não faz de mim um poeta. E eu sempre digo isso porque, por exemplo, toda vez que me falam essa coisa: “Porque o poeta”, não sei o que, eu fico assim. E eu sinceramente, por exemplo, acho certos sambistas como Dona Ivone Lara, como as pessoas do samba, o Luís Carlos da Vila, eu vejo nas letras do samba uma densidade poética muito maior do que as coisas que eu faço, por exemplo. E eu falo isso com a maior sinceridade. E acho que essa coisa do poeta é muito mais essa coisa de, no meu caso é muito mais uma coisa de um sentimento que eu tenho com algumas pessoas, e um artesanato que eu aprendi de colocar palavras em músicas guiado por uma intuição musical não cultivada. Só isso, entendeu. Então eu sempre fujo dessa questão, “Ah, o poeta”, não sei o quê, eu fujo no sentido de não deixar essa coisa pegar em mim, sabe, porque eu acho que ela não é justa. Eu sou compositor popular e a música esteve sempre comigo de alguma forma.
P – E Dorival Caymmi, o que é que significa pra você?
R – Tudo, Dorival Caymmi significa tudo pra mim. Porque a minha – descontadas a época que eu vivi, as coisas que eu vivi, as outras, as outras coisas do meu tempo –, o meu artesanato, eu aprendi a fazer letra de música, estou sempre aprendendo, mas assim, eu aprendi com outras pessoas, com outras músicas, na realidade eu aprendi com as canções. Tem uma coisa que eu falo sempre, e já virou assim – outro dia eu vi o Fernando citando isso numa crônica dele, o Fernando Brant -, que é assim, que eu falo sempre que a canção move, pra mim a canção move o mundo, é mais importante que tudo. Então eu aprendi com as canções, até hoje, quer dizer, eu faço canções porque eu tenho inveja das canções que os outros fazem. Eu morro de inveja, então fico querendo... E faço canções sobre canções, faço muito canções sobre as canções que eu gosto, eu faço outra canção. Baseada naquela “Refazenda”, ou contestando, ou admirando, mas eu faço canções sobre outras canções. Mas, no fundo de tudo que eu faço, tem uma coisa que eu aprendi e que eu preservo que é um – eu acredito, de alguma maneira, que eu tenha conseguido como resultado. Eu queria ser compositor quando era garoto assim, na escola, lá no colégio. E acho que de alguma maneira eu aprendi a fazer isso, e se você disser assim: Com quem você aprendeu mais? Foi com Dorival Caymmi, acho que eu criei um estilo a partir disso, e que é um estilo de concisão, de cada palavra ter uma, estar ligada à música da melodia, de nunca forçar isso, de cada frase dizer nela mesma alguma coisa. Por isso eu devo tudo. Eu agora comecei com outra coisa, pra variar, essa coisa do Dorival Caymmi, eu comecei a dizer que aprendi a fazer letra com o João Gilberto – que é ótimo também como metáfora disso, que é exatamente o cara que não é letrista, que quando é letrista faz: (canta) “É o amor, é oba lalá, oba lalá, essa canção...”. Eu acho que sou, na realidade, um cantor. E quando eu era garoto, a minha primeira relação com a música, eu queria ser cantor. Eu cantava, e achava que cantava bem, tenho um trauma porque acho que eu tinha um gravador... Quer dizer, ninguém tinha gravador naquela época, essas coisas de televisão, essas coisas chegarem era uma dificuldade. Alguém tinha um gravador, e a primeira vez que ouvi minha voz achei tão, assim, horrível, que eu abortei minha carreira de cantor. Porque eu cantava, assim, eu tentei aprender. Na época, agora me lembrando coisas da infância, nessa época no Brasil todo mundo tocava acordeon, ou tocava ou aprendia acordeon, por causa daquela, tem essa academia do Mário Mascarenhas. Então, eu tinha uma vizinha um pouco mais velha, Rose, que ensinava acordeon. Então tentei aprender acordeon com ela, e eu era um, eu já tinha um repertório que eu ia nas festinhas, cantava, eu cantava “Only you” e cantava uma música do Ivon Curi, bem eclético. Eu cantava uma música do Ivon Curi chamada “Lavadeiras de Portugal”. Mas eu cantava, inclusive fui na rádio de Friburgo uma vez e cantei, ganhei um prêmio, assim, que era de uma garrafa de um vinho chamado Jurubeba. (risos) Não tinha nem idade pra beber, mas cantava, o vinho devia ser péssimo, mas assim, fiquei todo feliz que a rádio tinha... Esse negócio das rádios só é menos importante – eu lendo um negócio sobre o João Gilberto – só é menos importante do que aquela coisa, tinha os alto-falantes na praça, João Gilberto e Caetano também. Os alto-falantes que tinha nas praças públicas, que às vezes não era nem uma rádio, era um cara que tinha ali que ficava transmitindo música e as pessoas sentavam na praça para ouvir músicas, isso é de uma época. E, depois, essas músicas que eram populares no Brasil eram as músicas de qualidade em que as gravadoras tinham grandes orquestras, grandes maestros, grandes arranjos e grandes cantores – e os cantores tinham que cantar realmente, porque era tudo gravado direto, não tinha esse negócio de canal, muda o canal, manda para o (pra tal?), essa coisa toda. Então isso, assim, que na realidade eu sou um compositor que canta as melodias, e vou descobrindo as palavras que estão ali. E eu muitas vezes me peguei depois, porque eu fico convivendo um tempo tão grande com a melodia e cantando essa melodia, que eu acabo aprendendo a cantar – embora eu me ache desafinado, desentoado, péssimo cantor - eu acabo aprendendo a cantar. E já me peguei ensinando pra alguns parceiros que são exímios cantores, ou para algumas cantoras e cantores que são cantores e cantoras, grandes cantores e grandes cantoras, eu já me peguei ensinando a cantar aquela melodia, entendeu, cantando assim. Depois digo assim: “Poxa, mas eu fiquei cantando uma melodia para a Elis, que absurdo!”, entendeu. Mas é por isso, porque o tempo que eu estava ouvindo essa música era muito grande e eu aprendi a cantar aquilo de alguma maneira.
P –
Portanto, o que você quer dizer é que você fica, você ouve a melodia e você fica cantarolando, vai colocando as palavras. Explica um pouquinho melhor, dá um exemplo...
R – É isso, é isso. E essa é a maneira, vamos dizer de 88% do meu processo, é esse. Eu escrevo muito pouco antes, não porque tenha dificuldade, embora eu não escreva poemas, acho que eu poderia escrever mais letras de música antes - ou os poemas, como as pessoas falam – para serem musicados. E eu fiz isso muito pouco especialmente porque, numa época, eu impliquei com isso. Eu impliquei porque achei que tinha algumas pessoas que estavam fazendo letras que não tinham essa ligação com a música, com a canção, e que não cantavam as músicas, e que simplesmente escreviam umas coisas pra serem musicadas porque começaram a achar que isso era uma profissão legal que dava grana. Sei lá, alguma coisa assim, aí eu impliquei, então empaquei que não ia fazer isso, entendeu. Mas poderia fazer mais isso, mas o que eu faço é aprender uma melodia, ficar convivendo com ela, e descobrir um pouco o que é que está contido ali. De certa maneira tem a, às vezes eu falo disso como de uma escultura, mas tem várias, você pode falar de várias maneiras, mas é como se você soubesse o que está contido. Acho que a primeira coisa pra você fazer quando você tem um bloco, por exemplo, de mármore, é você ver o que está ali, o que existe ali, tentar entender. Você pode errar, mas você, antes de começar a esculpir, você tem um pouco que sentir isso, acho que tem um tempo disso entrar. E depois é mãos à obra, né, é cair dentro. E aí é trabalho, até fazer essa questão. Teve uma época que era muito chato essa questão da inspiração, o quê que é mais, se inspiração ou transpiração, eu achava esse papo muito chato. Porque a inspiração não é uma coisa que você possa controlar, é uma coisa que você não sabe o quê que é, e a transpiração é a única coisa que você pode fazer, partir pra dentro daquilo ali. É igual você, é igual essa coisa da poesia, sabe, dizer assim: “Não, o cara...”, essa coisa do sentimento todo mundo tem. O negócio é você, de certa maneira, se expor, a cada canção você se expor, entregar tudo, né, entregar tudo ali. E é meio como se você, assim, você vai operar uma coisa, o mais difícil é você – na hora de operar é fácil, quer dizer, opera -, é você ver o que vai fazer antes, né. E depois, quer dizer, eu já estou chegando noutra coisa. Quando eu comecei a fazer, então as músicas, eu vou falar um pouco assim, não sei como que é...
P – É assim.
R – É assim, né? Porque eu acho que as músicas que a gente fazia na década de 1970, tinha uma coisa que isso era assim visceral, quer dizer, cada música dessas era uma coisa assim, você passava um ano. Eu era um cara conhecido por um cara que passava um ano fazendo uma música. E também se nesse um ano tivesse mudado tudo, aquela música eu jogava fora, porque já tinha uns não sei quê. E aquelas músicas tinham essa coisa. Depois de um determinado momento, eu acho que primeiro por necessidade, porque eu não tinha outra profissão, então eu tinha que sobreviver num universo de direitos autorais complicados, de várias complicações, de não fazer show, de ser somente um cara letrista, como existe essa palavra. Então eu tinha que sobreviver nesse universo, então tinha que fazer músicas, mas principalmente porque eu acho que essa coisa desse sentimento, esse sentimento da canção já estava tão arraigado, e eu comecei a descobrir que por outro lado a gente complicava um pouco. Porque você quando vai ver os clássicos da música, principalmente os clássicos da música americana, que as grandes cantoras interpretam – e ainda tem outra coisa, diferente do Brasil, que as cantoras todas gravam as mesmas músicas e ninguém fica melindrado, aqui no Brasil se não sei quem gravou não grava mais –, mas eram músicas assim, que o cara faz uma música, sei lá, é uma japonesa e está esperando um marinheiro americano que está atracando no porto, e o cara faz uma canção assim, arrasa, arrasadora, que fica sendo gravada como um clássico, mas na realidade é a música de um musical ali que preenchia a função daquela cena. Na década de 1970, se você fosse fazer uma música você começaria assim: “Ah, mas eu não sou japonesa, imagina se eu vou fazer uma canção esperando um marinheiro americano...”. Depois eu comecei, quando eu descobri um pouco isso, que você poderia escrever canções, sabe, e que esse sentimento ele já estava com você. Não precisava mais também todo dia você se martirizar, ou se, entendeu? Porque isso já estava, e ali era uma questão de você em cada música você entregar tudo, mesmo que fossem músicas. Por exemplo, quando eu fiz “Chuva de Prata” eu fiz porque me interessava a melodia, primeiro porque eu precisava sobreviver, segundo porque me interessava muito a melodia, porque acho que era uma época que as melodias não estavam muito assim, não fluíam muito. E eu fiz, e logo depois a música foi um grande sucesso, todas as pessoas gostavam, cantavam, mas tinha essa exigência da crítica – que uma vez eu li no jornal um crítico falando assim que era uma confirmação das teorias brega chique. E eu (colhendo?) aquelas frases que o Márcio Borges deve conhecer, mesmo quando faço alta costura, sou um cara meio chato, falo essas coisas, o it, né. Falo: mesmo quando faço prêt-à-porter, alta costura, me interesso mais pelos costureiros franceses do que pelos filósofos gregos. E aí mandei dizer para o cara in off, mandei dizer o seguinte: “Eu não entendi por que é que eu fiz uma música para confirmar as teorias bregas chiques do Eduardo, do grande Dusek, porque eu não sei o quê que é brega-chique, entendeu, só sei o que é chique”. Entendeu, não sei... embora eu goste muito, por exemplo, dos compositores, eu gosto muito de fazer músicas populares. Eu faço isso muito bem, eu sei fazer porque eu sempre faço, e os compositores populares – você vê o Michael Sullivan, por exemplo, que era o rei da música popular, na época que ele estourava todas, ele beijava minha mão e falava assim: “Você é o único cara que faz o que a gente sabe fazer, e coloca uma outra coisa e a crítica não ousa falar mal de você. Mesmo quando ousa, você manda logo uma resposta”. Mas, assim, eu comecei a gostar mais de fazer música de vários, com vários parceiros, com vários estilos. E a desculpa do que eu precisava me deu uma liberdade muito grande de fazer isso, e eu não precisava também passar mais um ano pra ficar fazendo uma música, embora eu não faça uma música em cinco minutos – posso até fazer, mas a matéria da canção... Eu sou um pintor que fere a matéria da tinta, eu chego lá. E é engraçado que essa descrição toda no final não corresponde à simplicidade “caymmiana”, e eu acho que isso é que faz meu estilo. É vir de outro lado, passar por outros caminhos e chegar de alguma maneira ao Caymmi, intacto ali, pelo menos pra mim.
P – Quero voltar um pouquinho ainda no tempo, na sua adolescência, você falou que no colégio você começou a ensaiar alguma coisa como compositor...
R – É, nós tivemos a sorte, a minha geração teve sorte de viver num Brasil em que – e não há nada de saudosismo, não estou, meu discurso não é, a minha pessoa não é saudosista -, mas a gente viveu num Brasil em que as coisas, eu acho que depois a gente vai chegar nisso, o que uniu a gente. Então o colégio era uma experiência muito rica nesse sentido, porque eram jovens querendo saber das coisas, eu acredito que em alguns colégios provavelmente ainda é assim, ou em algumas turmas, e acredito que na minha época também não era assim a realidade, a gente sempre pinta o passado dessa maneira, provavelmente também eram poucas turmas, ou eram poucas pessoas, e o resto era uns, sei lá, uns manés, como hoje provavelmente ainda são, hoje em dia são. Principalmente na adolescência que são todos uns manés, inclusive a gente. Mas a gente, pelo menos, se julgava menos mané e ficava procurando. Então eu tinha uma turma de colégio, no Colégio Pedro II, que era uma turma muito bacana, e a gente foi à cata das informações, né. Que é o que outras pessoas se não fazem deveriam fazer, quer dizer, aí a luta da informação, de onde está, então nos livros, nos discos, essa coisa. E eu tinha um parceiro no colégio, chamado Sérgio Rubens Torres, com quem eu fiz minhas primeiras músicas, e foi isso, era um sucesso na época, tinha umas músicas que hoje em dia não sei mais cantar, não me lembro, mas não mostraria mais porque não são assim, não tem nada que seja relevante. Mas eu gostava muito dessas músicas, eu gostava muito dessa parceria, e mostrava, e comecei a me sentir compositor realmente.
P – E do que é que falavam essas músicas na época?
R – Não sei, olha, tinha uma música que hoje em dia deve ser tão ruim, mas que era o meu grande sucesso, chamava-se “Joaninha”. Era uma coisa! Mas eu me arrisquei, acho que a primeira pessoa que eu conheci fora, depois do Heitor, eu tinha uns vizinhos – mas isso já em Botafogo, no Rio de Janeiro – eu tinha uns vizinhos, que era um casal, onde eu ouvi muito Caymmi, e que ficaram amigos do Sérgio Ricardo. Eu fui na casa do Sérgio Ricardo, e eu era, eu lia muito um escritor brasileiro que hoje não se lê mais, infelizmente, chamado Aníbal Machado, que tem um livro de contos que tem um conto chamado “A morte da Porta-estandarte”. E eu fiz uma letra, porque eu ia lá, ficava vendo o Sérgio Ricardo, adoro o Sérgio Ricardo, trabalho com o Sérgio Ricardo – ainda mais nessa época era uma coisa assim, eu ficava sentado vendo o Sérgio Ricardo... E eu fiz uma letra, “A morte da porta-estandarte”, na realidade era uma coisa assim, começava assim, o primeiro verso era “Turbilhão de estrelas”, era péssimo! Mas aí o Sérgio Ricardo me falou isso, e eu queria que ele musicasse, e ele me falou: “Não, é melhor começar, se eu fizer música com você agora você vai se achar um compositor fabuloso, porque vai resolver a sua vida, entendeu? Você fez uma música com um cara... Mas é melhor você fazer uma música com o pessoal da sua turma, da tua galera”. Isso foi muito legal pra mim, porque aí eu fui procurar a minha turma – que acabei, isso aí é outra história que eu não vou sair contando, vou deixar você perguntar um pouquinho também, senão vou sair emendando aqui feito um maluco...
P – Mas vai, vai, a idéia...
R – Hoje então, meio neurônio faz um esforço...
P – Não, tá, esse meio tá funcionando super bem...
R – Então vamos lá.
P – Daí, então, do colégio...
R – Aí eu fui procurar minha turma.
P – E essa turma você encontrou na faculdade? Fala um pouquinho do seu curso, da faculdade, do que é que vocês faziam.
R – Bom, várias coisas, nessa época era o Colégio Pedro II em Botafogo, eu ainda morava em Laranjeiras, que foi o primeiro lugar que eu morei no Rio de Janeiro, em frente ao glorioso clube do Fluminense Futebol Clube, depois eu me mudei para a Rua Voluntários da Pátria. Depois eu morei um tempo, tem uma passagem que me influenciou muito na coisa da música, que eu fui numa circunstância, agora estou tentando lembrar aqui com meus neurônios... Não, eu estava no colégio ainda, eu fui para o Pedro II, no centro, e logo depois eu fui morar em Recife. Em Recife eu tive um contato, também eu já estava um pouco mais velho, não sei quê, já tive um contato muito grande, maior, com a coisa da música – nessa época eu conheci algumas pessoas em Recife, que era a turma de lá do teatro e da música. E da música meio assim, outro dia eu, sei lá, há três dias atrás encontrei com o Alceu Valença, que é um artista que eu gosto muito, estava conversando, assim, que na realidade eu cruzei com o Alceu, a gente nunca, cruzei numas festas, essa época mais de festinha. Mas eu cruzei com a cantora Teca Calazans, com o hoje produtor musical Túlio Feliciano, com um teórico da música chamado Gilmar Muniz de Brito – que era um professor, que era um grande intelectual de Recife -, com o diretor de teatro Benjamim Santos, e algumas pessoas que faziam na época um espetáculo chamado “Construção”, que foi uma coisa anterior ao espetáculo “Opinião” no Rio de Janeiro, e teve algum contato acho que o Gil, algumas pessoas que tiveram meio uma coisa... que era uma coisa exatamente no mesmo formato de textos, de música, não sei quê. E tinha muito essa coisa de sair pela rua, de passear na chuva, essas experiências, não sei quê, e muito essa coisa de tocar violão e ouvir música. Então essa passagem de Recife, depois eu voltei para o Rio de Janeiro e fiz vestibular, fiquei em uns colégios meio “pagou passou” pra terminar aquele colegial e fiz vestibular para a Faculdade Nacional de Filosofia, para o curso de História. Que eu comecei a cursar, e aí nesse curso que eu conheci a rapaziada que é a rapaziada do Clube da Esquina, então chegamos aí. Eu fiz História, depois fiz – só pra falar um pouco dessa formação -, eu fiz História até acho que o começo do terceiro ano. Depois me auto-exilei na Europa, e voltei ao Brasil e fui fazer Comunicação, que na realidade foi uma grande época de happenings. Eu fui para a escola de Comunicação porque, como eu estava meio perdido da turma, eu fiz um vestibular assim, que a Eliane Jobim, mulher do meu amigo Paulo Jobim, estava fazendo, eu falei: “Vou fazer também”. Fiz, passei, entrei e fiquei ali, tinha uma turma bacana, aí já dos poetas, do Chacal, que é um poeta que a gente vai falar mais na frente, com o negócio da nuvem cigana. É isso, sou formado em Comunicação Social, coisa que eu nunca exerci assim, acho até que dou uns pitacos num monte de coisa, mas não exerci. Tive o início de um emprego, um estágio, eu trabalhei na criação de uma agência de publicidade e depois disso eu acho que eu trabalhei feito um maluco, mas nunca mais trabalhei oficialmente em nada.
P – E como que era a cidade nessa época, o Rio de Janeiro, bossa nova, o quê que isso, quer dizer, a bossa nova é anterior. Mas, enfim, como que era o Rio, a atmosfera, como você se sentia nessa cidade?
R – Muito bem, sempre me senti. Eu acho que teve uma coisa que marcou muito, o primeiro sentimento de você não se sentir mal, quero dizer, não se sentir bem, foi a ditadura, foi o golpe militar – que, mesmo assim, não impediu que a gente continuasse fazendo tudo que a gente fez ou que a gente fazia quando era jovem. Ou continua fazendo também, mas assim eu acho que existia esse Brasil que a gente está nostálgico, do ainda o país da delicadeza, embora existisse injustiça social, diferença de classes, corrupção, todas essas coisas sempre existiram. Quando a gente fala desse Brasil parece que não é nada disso, que não existia exploração e tudo, mas não existia essa pressão que a gente, que todos nós sentimos hoje em dia. Eu estava pensando nisso hoje de manhã quando estava lendo uma revista sobre o Rio de Janeiro, o cara dizendo assim, não, tem o jardim de não sei o quê, não sei quê, e eu dizendo mostra isso tudo para o turista, ele vai lá, mas não diz que você não pode exatamente ir, saltar do carro, quer dizer, a gente... O Rio de Janeiro era uma maravilha. A impressão... O Rio de Janeiro ainda é uma maravilha, com tudo isso, né, com os governantes que nós temos hoje em dia, com a falta de tudo, com o descalabro, ainda é uma maravilha - mas era uma maravilha absoluta, era uma juventude livre, poética, sem limites, bacana.
P – O quê que você fazia nessa época? Com a sua turma, o que é que vocês faziam na cidade?
R – Olha, a gente fazia muita festinha, não é, muita festinha. Adoro esse termo “festinha”, tem uma música de um grupo de rock que fala assim: “Festinha!”. Eu adorava falar assim: festinha. Essas brincadeirinhas, mas eu adoro essas brincadeirinhas; como, por exemplo, ir ao shopping eu chamo de “programa cultural”, “vamos fazer um programa cultural”. Pra não ficar chato você dizer assim: “Vamos ao shopping”; programa cultural e festinha! Andar pela cidade, fazia muito isso, saía da festa, eu andava, sei lá, de Copacabana a Laranjeiras de madrugada; tocar violão na praia, namorar, sei lá, todas essas coisas que as pessoas fizeram, passear.
P – E a... Qual foi o efeito da ditadura na tua vida?
R – O efeito da ditadura, vendo hoje em dia não parece que é tão grande, mas para um jovem é como se você, sabe, é um pesadelo e você diz assim: nunca mais vai acabar. Não sei se - a gente está aqui com o Márcio Borges, não sei se ele tem essa - mas é um pesadelo, você diz assim: bom, você estava indo num negócio que assim o mundo... Porque qual era a idéia básica nessa época? E qual foi a idéia básica, principalmente através do Clube da Esquina? Mudar o mundo. A idéia básica da juventude, pelo menos nessa época, e eu acredito que seja a idéia básica da juventude o seguinte, mudar o mundo. Mas é mudar o mundo pela justiça social, quer dizer, você começa, você sente essa coisa, não, precisamos mudar o mundo. Mas você ainda tem um mundo que ainda é cordial, e você começa a apostar, para mudar o mundo você começa a apostar em algumas idéias e alguns caminhos que, de repente, vem um negócio e fecha assim - é terrível. Eu acho que essa experiência marcou a todo mundo, marcou a arte brasileira de alguma...né? No bom sentido e no outro, quer dizer, nem tudo o que se produziu porque existia a ditadura... Outro dia o Caetano falou isso, eu acho que um pouco exageradamente, na minha coisa, na ótica dele, mas assim eu concordo de certa maneira - nem toda arte que se produziu antes da ditadura era boa, mas na época a gente enxergava dessa maneira. Nem toda música com metáforas, exageradamente metáforas pra fugir à censura era boa, mas a gente enxergava dessa maneira.
P – Mas você sente que pôde estimulá-lo em alguma coisa, ou a idéia de que a censura e a ditadura estimulavam o artista, qual é a sua opinião?
R – Ah, não. Eu sou, eu tenho, nisso eu concordo com o negócio do Caetano, eu não tenho essa coisa: ah, porque teve... Não, acho que é o seguinte, você tem um obstáculo como esse você parte pra cima, porque também não tem outro jeito, quer dizer, viver você não... Você acorda de manhã, a não ser que você desista de viver, não tem outro jeito, o que é que você faz? Você diz assim: “Pô, vamos à luta!”, não é? Eu acho que, você acorda de manhã, a idéia é essa, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos à luta hoje! Então quando você tem a ditadura você tem que também acordar de manhã e dizer: vamos à luta! Mas que a ditadura estimula, eu não acho que estimule, eu não acho que nenhuma dessas, sabe, acho que a dificuldade nesse sentido... Acho que os problemas, quer dizer, como me interessa – é claro que sou um cara interessado na política, sou um cidadão e tudo, mas eu sou muito mais interessado em problemas estéticos do que ficar, entendeu. Porque acho que esses problemas que a gente vive, a gente vive esses problemas todos, e não sei quê, e tem a política, a gente fica discutindo, são muito fáceis de resolver. A humanidade já tem conhecimento, tecnologia, não sei o que, é só querer resolver, é só ter vontade política de querer resolver. Então eu já sei o que penso sobre essas coisas, e me interesso e leio jornal, mas estou interessado em questões estéticas. E às questões estéticas você tem que se propor tantas dificuldades, e quando elas não existem você tem que criar as dificuldades pra não se acostumar com você mesmo e achar que está bacana, né. É igual você, sei lá, tomar algum tipo de coisa que te tire a consciência e achar que tudo que você está escrevendo ou cantando é legal, não é, mas naquele momento você acha. Então acho que eu já estou tão interessado nessas questões, entendeu, que eu não acho que a dificuldade da vida, sabe, o cara ser duro, “ah, o cara era pobre, mas conseguiu escrever um livro de oitocentas páginas, genial!”. Eu preferiria que ele não fosse pobre, sabe, minha plataforma política – concordo com aquele negócio, acho que é do Melodia, do grande, meu grande Melodia, do Luiz Melodia, que diz assim: luz para todos. Acho que era isso, devia ser luz para todos, e não acho que a dificuldade, “ah, porque o cara não tem dinheiro, mas aí ele vai à luta e conseguiu escrever um grande livro”, essas coisas, tomara que ele tivesse dinheiro e conseguisse escrever um grande livro. A dificuldade não faz isso, não faz a obra de arte ser maior, nem essa biografia “não, aquele cara era pobre...” Acho que no futuro, no futuro como eu imagino acho que nem as coisas deviam ser assinadas também, não existe esse negócio, a biografia do cara influenciar sobre a obra do cara. Nem a posição política, sabe, acho que um escritor de direita pode ser um grande escritor, sabe, um compositor de direita pode ser um grande compositor, qual é o problema? Isso porque pra mim interessam questões estéticas. É claro que eu não vou escrever música de direita, porque eu não sou de direita, mas não tenho, não vou julgar a obra de arte sobre esse ponto de vista, eu acho.
P – Então, no período da faculdade, quando você estava na faculdade foi o momento que você conheceu o pessoal do Clube da Esquina, que você disse, conta como é que foi esse encontro.
R – Bom, eu era um cara que queria fazer música e procurava melodias. Basicamente isso, e interessado sobre tudo e todas coisas que aconteciam, sobre tudo. Provavelmente como hoje as pessoas estão. Algum jovem em algum lugar diz: “Ah, o Ronaldo Bastos tá fazendo...”, não sei o quê, pô, esse cara está sabendo mais da minha vida do que eu estou sabendo. Na realidade, eu sabia mais da vida dessas pessoas do que elas propriamente sabiam, porque eu ficava prestando atenção em tudo, então ia a todas as coisas. E aí tinha uns parceiros já, meu outro parceiro - vamos dizer depois do meu parceiro da escola - foi um cara chamado Luiz Cláudio Ramos, que é um grande violinista, arranjador, que é o cara que fez o último disco do Chico, toca com o Chico Buarque, é um músico excepcional. E foi assim o primeiro upgrade quando eu conheci um cara que tocava realmente um violão bem, e aí durante um tempo eu fiquei compondo com o Luiz Cláudio, e fui conhecendo algumas outras pessoas da música que estavam ali, do Rio de Janeiro. Conheci o Danilo Caymmi, o Antônio Adolfo, essa turma que estava ali em torno dessa coisa, eu estava ali querendo fazer música e mostrando minhas músicas. E eu estava uma noite no Teatro Jovem - que era um teatrinho feito por um cara chamado... para um grupo, e tinha ali um cara que era o cara que dava o nome ali, que era o Cleber Santos – onde aconteceram muitas coisas, no Rio de Janeiro, hoje em dia no Botafogo, onde tem um viaduto assim, tem uma escola do lado, é um lugar impossível de chegar hoje em dia. Mas onde tinha aquele teatrinho ali, onde aconteceram muitas coisas relevantes, aconteceu “Rosa de ouro”, vi muitas coisas ali, e tinham umas noites que eram apresentação dos compositores. Então, por exemplo, eu vi o meu ídolo Edu Lobo pela primeira vez assim de perto, no mesmo lugar. Vi a primeira apresentação do Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil chegou no Rio, tocou aquelas músicas, esqueci as músicas: “Lunik 9”, “Procissão”, não sei quê –, e vi o Gilberto Gil tocando pela primeira vez ali, nesse teatrinho. Então ia para aquelas noitadas, e eu morava perto, na Voluntários da Pátria. Eu não sei se eu já conhecia o (Novelle?), acho que eu já conhecia o (Novelle?), porque eu saí de um desses encontros e fui para um botequim, e encontrei com um cara chamado Milton Nascimento – que eu numa estada recente em Recife, não quando eu morei em Recife, eu tinha estado em Recife e tinha ido para a casa de umas pessoas, de madrugada, e tinha encontrado com meu grande amigo Cafi, que é um fotógrafo, uma pessoa muito importante na minha história e na história do Clube da Esquina. A gente foi para uma noitada numa casa, e ficamos escutando o disco da Elis Regina, o primeiro disco da Elis Regina, que tinha “Canção do Sal”. E eu ficava, escutei aquela música que eu acho que furei o disco do cara, sei lá de quem era aquele disco, mas acho que eu furei porque escutei “Canção do Sal” milhares de vezes, e eu ficava muito intrigado com aquilo, como é que aquele cara fazia, pô, mas quem é esse cara que faz essa música desse jeito? E isso ficou, depois, era 1967, o Milton já tinha classificado três músicas no Festival da Canção e só se falava nisso, pelo menos só se falava nisso para as pessoas que têm o mesmo interesse que eu, só se falava nisso, esse cara que chegou, não sei o quê. E eu cheguei no botequim, acho que eu conhecia o Novelli, e ele estava com o Novelli bebendo, e eu cheguei e fui apresentado, na hora não vi quem era, me apresentaram, não, “vamos tomar batida de limão”... Aí eu saquei quem era, e a gente ficou amigo, acho que no mesmo instante que a gente se viu, ficamos amigos, e aí foi isso. Aí começamos dali já começamos a andar juntos, já fomos para uma festa, virou o dia, aquelas coisas de... Era bom, antigamente a gente virava mais o dia, né, amanhecia mais. Eu me lembro do Baixo Leblon, eu amanhecia, ficava esperando os garçons, depois eu ia para um outro botequim. Era bom, ver o sol nascer, diz que faz muito bem à saúde. É ver o sol nascer e ver o pôr do sol. E aí eu conheci o Milton, nós ficamos amigos, não sei quê, e eu logo depois fiquei muito doente, eu tive várias complicações assim, fiquei complicado, o Marcinho Borges conta lá no livro, né, essa história aí. Então eu costumo dizer que eu conheci o Clube da Esquina na cama, porque eu era apresentado, o Bituca ele ia invariavelmente na minha casa, eu morava com meus irmãos nesse apartamento, era um apartamento grande na Voluntários da Pátria, então minha casa começou... tinha os amigos, todos, que entravam e saiam, não sei o quê, então o Bituca se agregou e começou a freqüentar ali. Então todo dia ele aparecia com alguém, e me apresentava, e eu estava na cama assim, “muito prazer”, fui apresentado ao Marcinho Borges, à rapaziada, Lô. Então foi assim, foi assim que eu, e aí – pra falar um pouco dessa coisa do Clube da Esquina – na realidade eu acho que a gente tinha, a gente era alma gêmea em torno de coisas assim, de interesses comuns pelo cinema novo, pela bossa nova, especialmente pela mudança do mundo e pela música, pela poesia, por todas essas coisas. E foi se encontrando, né, e foi meio misturando de forma que a gente sem programa, sem - eu vou falar um pouco disso, mas acho que você vai fazer as perguntas -, mas assim sem programa, sem teoria, sem nada a gente foi virando uma coisa só, num determinado momento a gente virou uma coisa só. Criou uma estética sem pensar nisso, na realidade foi um pouco isso, e isso era o que a gente queria, nós éramos jovens e queríamos mudar o mundo.
P – Você chegou a participar daqueles do processo de criação lá na casa do mar azul, naquele momento, onde eles foram, em Niterói?
R – Integralmente.
P – O que é que você lembra desse local...?
R – Eu fui militante integral, provavelmente, eu acho que eu era um militante vinte e quatro horas por dia do Clube da Esquina. Porque algumas pessoas faziam outras coisas, eu fazia faculdade, sei lá, mas eu estava ali no, fui, estava lá, morei lá.
P – Conta um pouquinho como é que era a casa, o cotidiano, o que é que você se lembra desse período?
R – Ah, lembro muito, lembro da sensação do período. A gente estava numa casa que, assim, mais parecia uma colônia de férias, porque era uma casa com vários quartos e andares, e tudo, num lugar com uma vista linda, num lugar lindo. E praticamente hoje em dia, eu fui outro dia lá, tem muitas casas, e tudo, mas não tinha praticamente nada, então você estava lá um pouco isolado. E vida de pé no chão, porque você saia da casa você estava na areia, você chegava e o banho era aquele banho num lugar que você está cheio de árvores, natureza, e você tomava banho naquela bica, isso é meio minha infância um pouco, essa coisa de pé no chão. A gente não tinha hora pra acordar, depois resolvia o quê que ia comer, quer dizer, era solto e também não tinha, tinha uma coisa da gente estar ali fazendo um negócio, mas assim, não tinha também uma programação, sabe, uma... Eu acho que o mais assim com o negócio, dentro da coisa do Clube da Esquina, o mais de vamos fazer, vamos não sei o quê, vamos lá, eu acho que era eu, acho que eu fui o cara que mais fiz essa, que conduzi esse processo, mas mais pelo, porque naquele momento tinha que ser eu, não é que eu conduzi. Mas, assim, eu estava ali, eu tinha mais esse negócio, então agora vamos não sei o quê, não sei o quê, mas o máximo, vamos dizer, de programação que tinha nas coisas acho que era eu enchendo o saco, entendeu. O resto era ficar tocando, sei lá, ficar conversando, ficar lendo sem programação. A gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa. Durante todo o processo do Clube da Esquina a gente sabia que ia fazer um disco, que era um disco que ia significar alguma coisa, existiam várias vertentes, a gente ouvia alguns discos, entre eles a gente ouvia o (álbum) Tommy do “The Who”, então tinha essa coisa de fazer uma coisa que significasse. Existiam várias histórias, é engraçado que no Clube da Esquina, depois, essas histórias todas elas estão presentes de alguma maneira, embora eu não saiba te explicar assim, dizer é ali, essas coisas, não, significa isso, não tem esse negócio. Os Beatles falavam isso, as pessoas ficavam interpretando, aí vira uma chatice. Uma vez bateu um cara drogada na minha porta, bateu, veio lá de não sei aonde, e falou assim: “Estou aqui”; Eu falei: “Tá, que bom”, “Não, porque você fez aquela música chamada ‘O trem azul’, agora estou tomando ácido e estou aqui pra viajar...”. Eu falei: “Bicho, não é nada disso, trem azul era um trem mesmo, entendeu, existia, não me bote nessa roubada, isso é um problema seu”. (risos) Mas, assim, existiam várias, a gente tentou fazer umas histórias, cada um tinha uma história da árvore, do não sei o que que criava não sei quê. E eu tinha uma história na época, chamada “Jane e os corações partidos”... E eu acho que isso foi o máximo de condução que teve, e num determinado momento eu acho que o Bituca – eu já um pouco comecei a exercer essa coisa dessa noção que eu acho que tenho, uma das poucas coisas que eu acho que sei fazer bem, que é fazer o disco como uma obra de arte, eu acho que ali começou essa história de ter noção do negócio da capa, da ordem, de como. E ali eu me coloquei nesse papel de organizar, na medida do possível, a bagunça, fazendo bagunça também. E eu me lembro um dia, em Belo Horizonte, na casa da família do Fernando Brant, que o Bituca falou pra mim que “Agora conduz...”, como é que... não me lembro a expressão, “Agora conduz o processo”, “Você é o cara”, uma coisa assim de agora você dá as cartas. E eu acho que da maneira seguinte, agora a gente tem que fazer e de alguma maneira tem que. Aí eu fiquei um pouco mais chato, entendeu? Fiquei ali, não, tem, não sei o quê, e foi isso.
P – E foi dali para o estúdio? Em que momento vocês foram efetivamente gravar?
(Acho que é o Márcio Borges que intervém na entrevista para completar o que Ronaldo Bastos falava sobre o comando do processo de feitura do disco)
R2 – Só antes... Essa história que ele está falando (da pilotagem?), até que na minha própria entrevista eu falei isso. Que o Ronaldo assumiu realmente o comando do processo da criação do disco “O Clube da Esquina”, talvez até mais do que o próprio Bituca, porque até o Bituca passou a bola pra ele. E o Ronaldo - eu queria até que você falasse a respeito disso - o Ronaldo ficava vigiando as letras que o outro estava fazendo para a gente não repetir tema, não repetir palavra. Então fala um pouco a respeito disso, isso foi uma importância total – quer dizer, então, ele definiu de repente até uma estética, fazendo as músicas se interligarem, ou seja, dar essa sensação de unidade, né.
P – Obrigada
R – Eu acho que, antes disso, a gente criou uma intimidade muito grande. Quer dizer, por exemplo, eu antes de conhecer, eu antes de ir a Belo Horizonte. Porque aí começou a formar, porque o Clube da Esquina, são muitas pessoas as que fizeram as músicas e gravaram, e as outras todas. O Clube da Esquina, cada um tem seu clube da esquina, né. E a gente foi criando uma intimidade. Eu antes de chegar a Belo Horizonte, por exemplo, por conta dessas ziquiziras todas que eu tive, eu já tinha notícia do negócio em Belo Horizonte, porque o meu irmão já tinha ido a Belo Horizonte, já tinha Paulo e Cláudio, que eram os gêmeos, tinha um monte de gente, o Benjamin, tinha um grupo de pessoas que já tinha ido a Belo Horizonte passar o réveillon, tomado um porre não sei aonde, não sei o quê, não sei o quê. Então criava essa intimidade, e quando eu cheguei em Belo Horizonte, ainda convalescendo dessa coisa, por exemplo, eu antes de chegar em Santa Tereza, lá no Divinópolis, na Rua Divinópolis, nos Borges, o primeiro lugar que eu cheguei foi na Rua Grão Pará, nos Brant. Na família Brant onde era o, não sei quantos irmãos são os Brant, quatorze, onze, uma coisa assim, onze, né? Que eram onze irmãos, praticamente todos moravam lá, tinha uma escadinha, me lembro que tinha aquele quarto assim dos meninos, aquelas camas enfileiradas, aquele monte, aí eu fiquei, eu fiquei. E eu ia a Belo Horizonte, primeiro nos Brant, depois nos Borges, depois no Murilo, depois, quer dizer, isso era em épocas sucessivas, eu ia e passava assim dois meses morando na casa de um, três meses, ia, ficava no fim de semana, voltava, não sei quê. Não só a Belo Horizonte, mas a gente ia, pegava um ônibus, fazia esse negócio, pegava um ônibus, “vamos pra São Paulo”, aí vamos para São Paulo, aí volta de trem para não sei aonde. Ou seja, a gente foi criando uma intimidade muito grande e...
P – Quando, te interrompendo, quando você fala “a gente” eu gostaria que você nomeasse quem são... o que você sente.
R – Olha, a memória… Hoje é um dia, dessa gravação, que todos saibam, neurônio meio funcionando, e eu sou uma pessoa que já tem uma memória assim que foi para o beleléu. Mas o Clube da Esquina tem muita gente nessa época, muita gente, pessoas – é igual a uma coisa que eu participei, que era a nuvem cigana, que tinha os poetas da nuvem cigana que era os que eram conhecidos, mas a nuvem cigana era uma coisa, tinha tudo! Tinha o cara que anotava o bicho no Santo Cristo, o outro que era não sei o quê, todos os... O Clube da Esquina, o núcleo, do que eu chamo o Clube da Esquina, é uma coisa, eram jovens compositores, instrumentistas, que se reuniram em torno de uma, quer dizer, por amor àquela música e àquela figura se uniram em torno de uma figura catalisadora chamada Milton Nascimento. O Bituca, pra quem não conhece, é uma pessoa que se chegar aqui agora vai ser impossível não prestar atenção nele, né, ele tem uma coisa assim. E era uma música, a música, quando ele chegou fazendo aquela música – eu vi quando eu o conheci, nessas noites que eu falei antes, que eu fui numa festa com ele em que todo mundo falava dele e ninguém conhecia. Então era uma festa na casa do maestro Erlon Chaves, que estava o Dori Caymmi, o Edu Lobo, todos aqueles caras que _______, o Edu Francis, algumas, várias pessoas da música. Na hora que ele começou a tocar as pessoas ficaram assim, parados, porque era uma música que a gente ficou apaixonado por aquela música, por aquela maneira, entendeu. Então, assim, o Clube da Esquina é uma coisa reunida em torno dessa música desse cara e da força desse cara. E a partir daí, eu acredito que ele também tenha se transformado, porque com essa intimidade a gente criou uma coisa que num determinado momento foi assim, como se fosse uma coisa só. E só pra responder o negócio que o Marcinho estava falando, então nessa história num determinado momento, a gente fazendo o disco, como era uma coisa só eu comecei a me permitir, como a gente estava fazendo um disco, de organizar já os assuntos do disco. Então o que eu continuei fazendo depois no disco do Beto Guedes, que era dizer assim: “Não, tem muita palavra coração nesse disco. Vamos ver a que está melhor, e as outras...muda essa música aí” , quer dizer, interferia, mudava a letra das pessoas, ou pedia pra mudar. O Clube da Esquina, como centro, é Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant, eu, e Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Wagner Tiso, Robertinho Silva, Nélson ngelo, Danilo Caymmi, Joyce, quem estou esquecendo?
R2 – Nivaldo
R – Nivaldo Ornellas
R2 – Novelli
R - Novelli
R2 – Luís Alves
R – Luís Alves
R2 – O Som Imaginário
R – O Som Imaginário inteiro, os irmãos Paulo e Cláudio. Isso entre os músicos, mais Cafi, Vicente, etcetera, a família Borges, a família Brant, todos os Brant, todos os Borges, todos os agregados e tudo. Mas, basicamente, nessa época tinha o Jacaré, nessa época de criação assim, mas basicamente na criação ali – é porque quando chegou o Lô e o Beto, o quê que a gente era? A gente era um pessoal de música brasileira vindo da bossa nova, e aí depois a segunda geração depois da bossa nova, era o Edu, tinha essa música mais assim, que achava isso bacana, mas que queria fazer uma outra coisa e ouvia umas outras coisas e...
P – O quê?
R – Ah, ouvia Beatles, né? Ouvia Beatles e Rolling Stones, pra não ficar só no negócio de Beatles. (Cross _______?), quer dizer, ouvia música pop da época. Chamar agora de pop, agora é cult total, mas ouvia música pop, tinha curiosidade, e mais tudo. Fora as coisas que a gente já ouvia antes, que era jazz, as grandes cantoras, a música brasileira, toda a música brasileira. E também eu escrevi, a única coisa que eu escrevi, porque eu não escrevo nada, eu escrevi um negócio sobre o Clube da Esquina chamado “Os Beatles eram Rolling Stones”. E também nós não tínhamos, porque essa segunda geração, quer dizer, essas pessoas que a gente gosta até hoje e sempre gostou, ficaram muito com esse negócio da seriedade da música brasileira, com aquele negócio, entendeu, que tem que ir de smoking para o Municipal, não sei o quê. E a gente era a pedra que rola mesmo, entendeu, a gente era muito mais Rolling Stones, porque quando teve o Clube da Esquina – uma reportagem dizendo assim: “Estes são os Beatles brasileiros”. E tem a ver, porque de certa maneira a gente se comportava um pouco como se fosse os Beatles brasileiros, não tinha grana, não sei o quê, mas a gente ficou se comportando no showbusiness brasileiro absolutamente superstar, mesmo que ninguém soubesse disso, e até hoje é assim. Porque até hoje eles não sabem disso, até hoje eles não sabem que o Clube da Esquina é uma coisa bacana, até hoje o Clube da Esquina é um negócio assim, a bossa nova, o tropicalismo, depois tem a geração de 1980, acabou. Mas até hoje a gente se comporta assim, como um beatle, eu costumava dizer na época: “Tem o Jorge, o Paul, o Ringo e o Ronaldo. Eu sou o Ronaldo!” (risos) Não é? Porque a gente era assim, a gente estava querendo fazer uma outra coisa, entendeu? E isso que virou depois para essa sigla MPB uma coisa bacana, na época era um pouco, você vê que na capa do Clube da Esquina tem o Edu Lobo como tem o Miles Davis, como tem... Porque na época era meio assim, pô, o que é que esses caras estão, sabe, afinal de contas o quê que esses malucos estão fazendo? Não era assim esse, uma coisa institucional – eu não quero muito falar de depois, que eu vou parar meu depoimento numa determinada época, que é pra não complicar -, mas é isso, essas pessoas eram essas pessoas. Mas basicamente o núcleo ali, quando chegou o Lô e o Beto, garotos, eles chegaram já prontinhos com uma outra informação, mas porque eles ficavam ali vendo a gente, mas já estavam fazendo aquele negócio que a gente tinha. A gente tinha outra coisa no Clube da Esquina que todas as vezes que se fala um pouco desse negócio de tropicalismo é engraçado, porque o único cara que fala do Clube da Esquina – fora eu que fico em todas as entrevistas resgatando, e falando assim dessa coisa –, o único cara que fala de vez em quando sobre o Clube da Esquina de uma maneira apropriada é o Caetano Veloso, que é tropicalista.
R2 – E fala muito bem
R – Que fala, e fala assim com argúcia. Eu considero o Caetano Veloso o maior crítico de música popular em atividade, sabe, acho insuperável como crítico. Porque tem uma argúcia, entendeu, e tem uma coisa que é essa coisa que depois ficou institucionalizada, parece que o Clube da Esquina era um negócio assim, sei lá, meio sacralizado. Quando na realidade não era, e a gente tinha muita coisa em comum, algumas idéias eram idéias comuns porque eram idéias comuns de uma juventude que pensava, tanto em Santo Amaro da Purificação como em qualquer outro lugar. Por exemplo, o Caetano me lembrou outro dia que eu conheci o Caetano antes de conhecer o Milton, eu era amigo do Torquato Neto antes de ter conhecido o Clube da Esquina. Então algumas coisas, quer dizer, eu já andava com o Torquato, algumas idéias, por exemplo, quais eram as idéias? A gente estava na faculdade, fazia política estudantil e tinha umas coisas que eram o seguinte, que a gente via que era o seguinte; que a esquerda era careta e que a direita não dava. Então nós estamos ali naquele caminho da transformação do mundo, o Clube da Esquina foi isso, e fez isso de uma maneira, com uma música, com uma qualidade musical até então não vista no movimento ideológico. Ou seja, foi um movimento sem nunca ter sido um movimento, foi uma coisa que teve um programa sem nunca ter tido um programa. E basicamente nesse momento, sem a gente teorizar muito, mas sabendo um pouco o que estava fazendo, e sabendo, se comportando dessa maneira, a gente se comportava daquela maneira, a gente se comportava em relação à música que a gente estava fazendo assim, “estamos fazendo a melhor música que está se fazendo aqui agora, e pronto”. Eram essas pessoas, basicamente, na criação era o Bituca, Lô, Marcinho, o Beto, Fernando, eu, Toninho, Wagner, Som Imaginário, ali. Você vai dando depoimento e vai esquecendo, na hora que eu falei das pessoas, depois eu falei tem o Tavinho, o Murilo, aí tem o Flávio Venturini.
R2 – Já é uma outra geração.
R – Já é uma outra geração. Mas ali as pessoas eram essas, e basicamente nessa casa era o Bituca, eu, Jacaré, Marcinho que aparecia, e Fernando que aparecia, ou a gente aparecia lá.
P – Quer dizer, você passou esse período também em Belo Horizonte, e depois você voltou ao Rio, você passava dois meses em Belo Horizonte e vinha ao Rio, e o processo desse caldo, dessa concepção, durou um tempo – até, finalmente, culminar na gravação – você tem idéia desse tempo, dessa fusão das almas aí que você descreve?
R – Não, porque isso aí é muito assim, o Clube da Esquina foi o que, 1971?
R2 – 1971, foi em 1972.
R – 1972, mas começou...
R2 – 1971.
R – 1971. Mas aí tem muita coisa, eu fui morar em Paris, em 1969, a gente já estava fazendo as coisas, né. Eu fui morar, aí teve esse processo de carta pra lá, carta pra cá, outras informações, depois Marcinho se casou, aí teve uma época que eu fui para a casa do Marcinho – ele se casou e eu me mudei para a casa dele, isso é um absurdo, né!? (risos) Você vendo hoje em dia, fala, pô, que coisa, que cara chato!
R2 – A gente era assim.
R – A gente era assim.
R2 – O Murilo se casou e eu fui para a casa dele.
R – Também, depois que o Murilo se casou, eu também passei uma temporada lá. (risos) É isso, não sei, acho que esse processo começou desde o... eu estou falando demais, né?
P – Desculpa, é só porque a gente tem que trocar a fita de vez em quando...
R – Estou falando muito.
P – Você quer parar um pouquinho, tomar uma água, aí a gente aproveita...
R – Eu estou tomando já.
P – É que, a gente, como é uma empresa de pesquisa histórica, a gente não é exatamente uma produtora de vídeo, então a gente tem uma preocupação muito grande com a forma que é colocada, a autenticidade, aquele momento, percebe, não é...
R – Relaxa, liga a câmera e relaxa. Relaxa...!
P – Eu sou paulistana, Ronaldo... não tem jeito. (risos)
R – Relaxa! Eu não sei se estou indo muito à Bahia...
P – É, eu acho que você está. (risos)
R2 – Eu estou indo muito pouco, viu?
R – Não, o único problema de saúde que eu tenho é stress, eu estava contando para o Marcinho...
P – Você?
R – É.
(conversam entre si, interrupção na entrevista propriamente dita, alguém pede o copo e tal)
R – Vai gravar isso agora?
P – Não, podemos...
R – Andei esquecendo ___________ algumas pessoas, por exemplo, o Wagner Tiso, acho um cara fundamental no negócio do Clube da Esquina, embora não estivesse ali nesses momentos. E necessariamente nesse, dessas pessoas que estavam vivendo meio juntas, né, tinha essas sucessivas casas do Bituca – estava falando com o Marcinho agora, que eu acho que o Clube da Esquina foi feito no tatame, que tinham uns tatames assim que acompanhavam. O Edu tinha uma salinha de tatame também, quando eu fui fazer música com o Edu tinha essa linha do tatame, ficava sentado no tatame, e já estava acostumado porque o Clube da Esquina era só negócio de tatame também. Tinha aqueles tatames, no tatame a gente almoçava, jantava, dormia, fazia música... Eu falei pra você, acho que o Clube da Esquina foi feito no tatame. Então, fora as pessoas que estavam permanentemente no tatame, tinha as outras pessoas e, especialmente, eu acho – o negócio do Som Imaginário -, mas especialmente acho que o Wagner era uma pessoa central. O Wagner Tiso era uma pessoa central da criação, da sonoridade do Clube da Esquina, importantíssimo. O Tavito, que eu esqueci de falar, também é muito importante, tinha a viola do Tavito. O Zé Rodrix também, na época do Som Imaginário, já não tanto no Clube da Esquina, mas pelo menos na época, um pouquinho nos discos anteriores.
(Estes últimos dez minutos de gravação estão com interferência - som chiado)
P – Você disse que você já tinha essa preocupação do produtor, da estética, tem relação a própria capa do disco. Qual foi a sua intervenção nesse processo da criação da capa, teve algum?
R – Todo.
P – O que é que você fez?
R – Na realidade eu não assinei a capa, e depois comecei a assinar algumas capas com o Cafi, mesmo porque eu sobrevivi muito tempo naquela época, que eu não tinha minhas músicas gravadas ainda, e direito autoral era mais precário do que é hoje em dia, eu sobrevivi muito tempo fazendo capa de disco. Tem aquele negócio que o Woody Allen é um grande cineasta, mas ele sempre quer ser reconhecido como músico, né? Eu sou um compositor que fica sempre querendo ser reconhecido como capista e, assim, eu sou um grande capista, eu tenho uma – eu disse para o Cafi outro dia, que é um grande fotógrafo, estava vendo as fotos e falei: “Não, Cafi, essa não...”, não sei o quê, eu falei: “Cafi, você é um grande fotógrafo, mas eu sou um grande capista”. Eu tenho uma visão do que é uma capa de disco, e eu sei fazer um negócio que eu chamo de design de produção, esse termo não existia, mas eu acho que é o que eu faço. Eu sei fazer, por exemplo, eu acho assim, eu adoro disco independente de gente independente, gosto das coisas mambembes, não tenho nada contra, gosto de pedra que rola. Mas, assim, eu sei fazer um disco, sem perder o que está dentro dele chegar no mercado com cara de mercado, e ficar lá na vitrine do lado da Madonna, pode ser uma banda de Pífanos de Caruaru, eu sei fazer uma capa pra isso bater junto e não ficar com cara de disco independente. Nada contra o disco independente, pelo contrário, eu sou inclusive da Associação dos Produtores Independentes, mas disco independente tem cara de disco independente, disco independente é aquele que o cara agradece a Deus, à mãe, à família inteira, ao cachorro, não sei o quê. E a capa tem sempre essa coisa, tem essa cara. Eu sei fazer uma outra coisa que eu aprendi fazendo, como é que eu me tornei produtor? Quer dizer, eu comecei, primeira vez que eu entrei num estúdio foi na gravação do primeiro disco do Bituca, logo depois que eu conheci ele, que foi aquele disco “Travessia” que ele gravou com o Tamba Trio, com arranjos do Luiz Eça. Eu fiquei deslumbrado! E depois quando ele foi para a Odeon, que foi a primeira grande gravadora onde ele fez a obra, até o Clube da Esquina nº 2, esse período que eu acho que é o período que a gente está falando, eu comecei no estúdio – eu não tinha tanta segurança no estúdio, ________ você tem que deixar a carteira de identidade, tinha, assim, você se tornava conhecido ali, não, esse cara pode, não sei o quê. E aí eu virei o cara que podia entrar, só que eu podia entrar e eu entrava todos os dias, eu virei um funcionário, eu trabalhei praticamente dez anos na Niemeyer Odeon sem nunca ter sido funcionário, sem nunca ter tido um emprego. No final eu mandava tanto que se chegasse um cara, numa auditoria externa, e dissesse assim: “Quem é esse cara?”, “Esse cara não é nenhum...”. Eu, quando queria as coisas, pegava um memorando, um documento na sala de alguém que ia levar uma semana, eu pegava, descia as escadas e dizia: “assina aí”, aí voltava e dizia: “Tá assinado”. Porque eu queria realizar as coisas, então eu ia fazendo isso. E fui virando produtor porque eu frequentei tanto o estúdio. Eu ia para o estúdio e ficava, eu ia todos os dias para a Niemeyer, no final acho que eu já dormia lá, já tinha escova de dentes, muda de roupa. Mesmo porque teve uma época que eu morava em Santa Tereza, e não tinha van, não tinha nada, você tinha que sair de casa e planejar tudo que você ia fazer, e como voltar pra casa, uma hora que não dava pra voltar para casa, não tinha grana pra pegar táxi, essas coisas, os táxis também não queriam subir de madrugada, então eu morava ali. E aí eu virei um produtor que, assim, acho que produtor tem algumas escolas diferentes, mas basicamente tem os caras que são músicos, arranjadores, não sei o quê, e tem a escola desses caras. Tem os outros que são mais ligados à tecnologia, sabem tudo de som. Eu não sou músico, nesse sentido, porque eu não toco absolutamente nada, não conheço música, não tenho educação musical, e não sei nada de tecnologia, embora totalmente favorável, sou aquariano e favorável à tecnologia, embora ache que tecnologia não dá luz a cego também, não adianta também, mas é bom, é bacana. Mas eu fiquei ali, e eu tinha esse negócio, alguém... primeiro foi isso, por eliminação ficou para mim, foi meio assim, “fica aí, segura aí”. E eu, acho que eu tinha uma virtude nesse processo, que é o seguinte, eu sou um cara que deixa as pessoas trabalharem. Eu tenho uma presença, consigo estar no estúdio e ter uma presença, o cara entra e sabe que eu sou o produtor, ele sabe que estou ali. Mas ao mesmo tempo não sou aquele produtor que fica apertando o botão e dizendo para o Wagner Tiso, “Olha, Wagner...”, não sei o que. Porque, pô, primeiro que não precisa, segundo que eu também sei assim, mas se o cara está lá gravando não sou eu que vou dizer pra ele que o violino está desafinado, porque ele já sabe, ele regrava, volta. Então todos faziam tudo, e eu conduzia aquele processo, na hora que precisava ter, né. E me permitia fazer esse negócio que era organizar o objeto de arte, acho que um disco é um objeto de arte que vale, na realidade, tanto quanto um Picasso, um Matisse, entendeu. Só que a diferença é que um custa 10 milhões de dólares e o outro custa 10 dólares, mas isso, na realidade se você fizer um disco inteiro, que tudo funcione, por que não? É o mesmo valor. E eu fiquei perseguindo isso, perseguindo a onda perfeita, à procura da onda perfeita de criar esse negócio, e fui me tornando então produtor de disco, e aprimorando essa coisa de saber fazer a capa e escolhendo os artistas. Então fui deixando as pessoas trabalharem.
P – Mas, especificamente, a capa do Clube da Esquina nº 1, eu queria que você contasse a história do processo de criação.
R – A capa do Clube da Esquina nº 1, nessa época eu – quando eu saí de casa, não sei se foi a primeira vez que eu saí de casa, mas eu saí da casa dos meus pais e fui morar, quando o Cafi casou eu fui morar na casa do Cafi. (risos) Morava numa rede assim, e o Cafi, um fotógrafo, a gente começando a vida, não tinha grana, no começo não tinha grana nenhuma, na batalha. E a gente envolvido inteiramente com essa história do Clube da Esquina, então tinha uma coisa que era o seguinte, a gente fotografava tudo, arranjava um dinheirinho pra comprar filme, não tinha grana nenhuma, a gente comprava filme. E as fotos que existem, antigamente não tinha, como hoje em dia, câmera digital, nem câmera de filmar, nem nada disso, senão a gente teria as imagens das coisas todas que aconteceram. Então as imagens que a gente tem dessa época, a maioria das imagens são dessas fotos que o Cafi tirou, então a gente vivia pra cá e pra lá de fusquinha – a grande importância do Clube da Esquina é o fusca, que é um dos elementos fundamentais dessa época. Então a gente ia nos lugares fotografando todas as coisas que estavam acontecendo, em cada uma dessas casas, e tudo. E especialmente a gente tinha um negócio que era, nessa época, tem até uma foto no Clube da Esquina, depois no Clube da Esquina nº 2 tem no selo, que a gente procurava fotografar a nuvem perfeita. Então a gente andava, né, a gente fotografava circo mambembe e nuvem perfeita, porque circo a gente tinha um projeto de fazer uma coisa com circo, um projeto de um livro que nunca a gente fez, mas tem as fotos do circo. Então a gente entrava nas estradas atrás do circo e atrás das nuvens, e um dos sítios do Clube da Esquina, quer dizer, Santa Tereza, onde eu vivi muito...
(FIM DO CD 1 – 80 minutos)
R – Onde os meus pais moravam, tinha uma fazenda lá onde eles moravam e a galera ia. A gente saia de um lugar, “vamos, toma aqui, vamos pra Friburgo”, aí... e aí a gente já estava à procura da casa, já estava nesse processo do Clube da Esquina, no Clube da Esquina nº 1. E aquela foto foi, a gente estava no fusquinha, numa estrada dessa, tinham dois garotos ali parados, eu parei o carro e falei – não sei se eu falei, ou o Cafi falou, sei lá, a gente parou o carro - meio junto, disse assim: “fotografa isso”, e fotografou, Foi assim da janela, de dentro do fusca, a gente fotografou e foi embora. Era mais uma foto daquelas fotos que a gente fazia, que depois virou a foto. O Cafi chamou o (Nogushy?), que era um cara que também foi-me apresentado pelo Márcio Borges, que foi uma pessoa fundamental, assim como o Kélio Rodrigues, uma pessoa fundamental assim nessa concepção. E na minha concepção de artes gráficas, porque eu aprendi muito nessa época, com os livros, com as coisas que eles faziam. E também na vida, né, (Nogushy?) foi um mestre incrível para a gente, e o Cafi chamou o (Nogushy?) pra fazer o letreiro, então aquele letreiro. O Clube da Esquina era um disco assim, completamente (pede desculpas a alguém), completamente fora do parâmetro de tudo. Porque o som era fora da coisa, é um disco – outro dia o Lenine me falou isso, que o Lenine era audiófilo, em Pernambuco, mas ele só ouvia disco importado porque os discos nacionais eram muito mal prensados e, geralmente, mal gravados. Se você for pegar, com raríssimas exceções, os discos dessa época – por exemplo, os discos do Tropicalismo, do início, todos são assim, são discos bacanas, e tudo, mas assim, o som... E ele disse que a primeira vez que, a coisa que aproximou ele da música brasileira foi o Clube da Esquina, porque quando ele colocou tinha o som, em todos os sentidos, tinha um som de gravação, gravava-se muito bem naquela época. Gravava-se, talvez, com a tecnologia da época, melhor do que se grava hoje em dia, para o meu padrão de som. Porque também com esse negócio de produtor virei, sem também ser um especialista, virei um cara ligado na masterização, no som, na qualidade, nessa coisa toda. Eu tenho essa impressão, e eu tenho feito isso hoje em dia, que é masterizar as coisas - os discos do passado, é um trabalho que estou fazendo – com um som original, com um som bacana, com toda a tecnologia que tem hoje, mas sem maquiar, sabe. Então era uma coisa que tinha um som, que tinha uma música, que era a mistura de tudo que tinha ali, que tinha uma coisa de poesia - nesse sentido de palavras – que era totalmente diferente de tudo que existia e que tinha existido. Quer dizer, tinha uma linguagem própria, tinha palavras próprias; e, além disso, tinha uma capa que não tinha o nome do artista, que era assinado por um artista, que era um disco duplo. Eu me lembro, o Clube da Esquina foi gravado na EMI, que foi a grande, na época era a gravadora que tinha os grandes artistas brasileiros, e tinha um cara genial chamado Milton Miranda, que era o diretor artístico. Que ele, um dia ele me pegou no corredor, e eu usando meu poder de sedução, “Mas como isso...”, e não sei o quê, e eu apertando, o Milton Miranda me disse assim: “Meu amor, poxa, acredita, vamos nessa!”. (risos) E ele ficou olhando pra mim... porque foi o jeito, porque, assim, o Bituca não vendia disco ainda, não tinha uma... Ainda as gravadoras, as gravadoras faziam isso, investiam no artista, gravavam os discos. Mas era uma loucura, porque era um disco duplo, a capa eram dois meninos, não tinha o nome do artista. E quando tinha atrás do disco o nome do artista, era o nome do artista e o nome do outro artista que ninguém tinha convidado na realidade, porque não tinha contrato, entendeu, que a gente colocou lá. Era um disco totalmente fora do...
R2 – Você lembra que ele ia chamar “Documento Secreto”?
R – Documento secreto, eu lembro!
R2 – Ele era um disco então, só ilustrando, ele era um disco tão diferente por isso: não tinha um artista na capa, tinham duas crianças que ninguém sabia quem eram. Você abria o disco duplo, um monte de fotos de zilhões de desconhecidos...
R – De árvores
R2 – De árvores, de nuvens, e de pessoas desconhecidas. E você vem então para a contracapa, está lá Milton Nascimento, que era pouco conhecido, e o Lô Borges que era absolutamente desconhecido – e você não identifica quem é o Milton Nascimento e quem é o Lô Borges, na contracapa também, porque está lá o Milton e o Lô no meio de um bando de crianças. Então aí, a partir disso nós tivemos essa _______.
R – Eu acho que esse “Documento secreto” eu limei.
R2 – Aí foi limado. Não, acho que não, nós limamos...
R – Nós limamos... (risos) Não, eu não me lembro, porque eu não me lembro dos fatos, mas eu pensando como é que eu sou eu devo ter falado assim: “Não, ________ coloca só Clube da Esquina e já está bom”.
P – Mas vocês chegaram a um consenso do nome? Como foi o nome, a escolha do nome “Clube da Esquina”?
R – Sim. Eu acho que esse Clube da Esquina teve uma parte grande que a gente estava em Belo Horizonte, né, na sua casa (referindo-se ao Márcio Borges), você tinha acabado de casar, aí virou o Clube da Esquina, né?
R2 – Foi, foi isso. Foi um pouco influência da parte que foi composta lá em Santa Tereza, naquela casa, eu tinha um... eu era recém casado, e aí a gente tinha essa mania, um casou vai todo mundo para a casa daquele que casou, é casa nova. Aí fomos todos pra lá...
R – Eu me lembro do Paulinho, você lembra, o Paulinho da Viola pintou lá...
R2– O Paulinho da Viola
R – O Paulinho da Viola era meio do Clube da Esquina também, né?
R2 – Era meio do Clube da Esquina nessa época também aí.
R – Do Clube da Esquina assim, a gente que… Ele apareceu lá, eu me lembro que o Paulinho da Viola me ensinou a lavar. O cara foi o primeiro cara que me ensinou a lavar vinil. Agora estou nesse vício até hoje, mas assim...
R2 – Lavar vinil?
R – Vinil, é.
R2 – Mas então é isso, acho que a influência do nome do disco veio um pouco ali do ambiente onde a música tinha sido composta.
(Márcio e Ronaldo Bastos, neste trecho da entrevista, encobrem a fala um do outro...)
R – Eu não sei exatamente quem falou o nome Clube da Esquina, mas era tão óbvio, porque existia a música “Clube da Esquina” e tinha que chamar Clube da Esquina, né. Porque significa aquela esquina dali, nessa época que a gente ficava ali. Mas significa um monte de outras esquinas, não é? Um monte de outros clubes também, acho que o Clube da Esquina...
R2 – Esquina do mundo
R – É. Porque assim, foi um negócio feito sem mídia, não teve programa, não tinha empresário, não tinha, entendeu, sem programa, sem movimento, não teve teoria, não sei o que. Depois também ninguém fala, mas o único que de vez em quando fica assim levantando o dedo, e falando assim, “não, porque...”, não sei o quê, “porque é importante”, sou eu. E agora já parei com isso, geralmente fazia umas cenas terríveis. Encontrava o pessoal da Bahia e falava pra cacete, aquelas coisas.
P – E no estúdio, descreve como foi a gravação.
R – Olha, tem um cara fundamental para esse depoimento do Clube da Esquina que eu acho que sem ele, não sei, provavelmente ele vai fazer, que é um cara chamado Nivaldo Ornelas. Não o Nivaldo, Nivaldo Duarte, que é um cara que gravou...
R2 – E o Toninho do som.
R – E o Toninho do som, mas o Nivaldo que eu acho que foi o cara. Que é um... os técnicos de gravação antigamente eram, na realidade, os caras que tinham emprego na gravadora, não eram superstar. Tinham emprego na gravadora, ganhavam salário, e gravavam assim magnificamente bem, porque gravavam pelo ouvido e não pelo, não ficavam olhando muito aparelho, em geral era pelo ouvido. O Nivaldo Duarte, que é esse cara que gravou o Clube da Esquina, ele conta uma história maravilhosa, ele disse que era assim: a gente chegava, aquele bando de cabeludo, aí sentava assim, e ficava ensaiando. Porque naquela época tinha o seguinte, não tinha muito canal, não tinha esse negócio, 16 canais, então você tinha que gravar quase tudo ao mesmo tempo, e depois somar os canais, não sei o quê. Então basicamente você tinha que ensaiar, não sei o quê. Aí ele dizia o seguinte, “chegavam aqueles caras, aí ficavam tocando lá enquanto...”, aí enquanto você tocava o cara começava a entender o que é que ia acontecer e começava a microfonar. E aí ele dizia assim, “aí os caras ficavam tocando horas”. As gravadoras naquele tempo tinham estúdio, né, hoje em dia as gravadoras venderam o estúdio, eu não consigo entender isso, mas tudo bem, isso é uma ordem que é uma coisa mais pragmática. As gravadoras tinham estúdio, você tinha aquele estúdio ali à disposição, e eles ficavam tocando horas. Aí ele dizia: “Bom, então tá, olha, agora tudo pronto, já microfonei, vamos gravar”. E o pessoal dizia pra ele assim: “Não, mas não é essa música que a gente vai gravar não, a gente estava aqui só compondo essa música, a gente vai gravar outra música”. (risos) Então, basicamente por essa história você pode ver o ambiente da gravação do Clube da Esquina, né. Não é?
R2 – Era
R – Tinha uma coisa assim, nesse Clube da Esquina bastante. Quer dizer, ainda não tanto, mas que depois virou, aí até o Clube da Esquina nº 2 - que foi, eu acho, o auge dessa coisa -, que é o seguinte, os shows do Bituca que duravam... antigamente tinha esse negócio também, o cara fazia show três meses, quatro meses no mesmo lugar, num teatro. Os shows do Bituca viravam um programa de todos os dias, todos os dias você ia ao show do Bituca. Então você chegava antes, ficava conversando, aí começava o show, você via o show, e depois você ficava na porta do show pelo menos o dobro da duração do show, e mais, então todo dia. Agora, a gravação continuou a mesma coisa, porque a gravação virava um grande programa, “O que é que você vai fazer hoje?”, “Vou na gravação lá do Clube da Esquina”. A gravação do Clube da Esquina então, o seguinte, você tinha – no primeiro não era tanto, mas mesmo assim ainda tinha -, você tinha o que estava acontecendo no estúdio e tudo o que estava acontecendo em volta, as namoradas, os amigos. Então era meio, era isso, na realidade era uma festa. Na gravação do disco “Gerais”, eu me lembro que quando a gente gravou com o Grupo Água a gente, depois de ter gravado com o grupo Água, a gente tirou tudo o que estava dentro do estúdio, encostou nas paredes, e deu uma festa, ficou dançando na madrugada inteira, dançando. Assim, colocava a música e dançava, dançava, dançava. O Cafi tem umas fotos dessas assim, das pessoas em movimento, bonito.
P – E Socorro Costa, Socorros Costa o quê que é isso?
R – Socorros Costa é um negócio que tem lá em Belo Horizonte, eu não conhecia, mas o Marcinho e o Murilo Antunes eles me ensinaram depois, porque eles criaram esse nome, era um socorro mesmo, um carro guindaste. Mas já numa época dos discos do Beto Guedes, numa época que a gente fazia, aplicava esse método aos discos do Beto Guedes. Que era basicamente eu, Marcinho e Murilo, que a gente estava basicamente compondo todas as músicas do disco, então tinha uma coisa de não, do disco ter uma unidade. É muito difícil esse negócio de você ter uma unidade do que você está falando, porque às vezes você pega um disco e tem trinta vezes a palavra deus, aí o cara não sabe, é um disco evangélico... Não, é porque são letristas diferentes com as mesmas preocupações, todo mundo numa crise religiosa, aí todo mundo “Deus”, “Deus”, “Deus”, “Deus”. E você pega o disco da cantora, pô, mas isso... Então, a gente pra evitar isso, eu mais ditatorialmente, porque eu era produtor dos discos, eu já começava a interferir logo, “não, isso aqui não dá”. E muita, quando a gente tinha dificuldade também, por exemplo, tenho dificuldade numa música, combinava com o Marcinho – era um pretexto para estar junto, beber – assim: “Tô precisando __________”, “tem uma frase nessa música...”. Por exemplo, “Amor de índio”, tem uma frase do Marcinho, “abelha fazendo o mel, vale o tempo que não voou”, até hoje eu não sei o que, mais ou menos o quê que é, significa tantas coisas, sempre fico pensando, “ah, é isso porque acho que é aquilo”. Porque eu não conseguia fazer aquelas duas frases, né. O Socorros Costa tem uma coisa tão impressionante, que tem o Socorros Costa que depois eu fiz anos depois, que não foi nem Socorros Costa. Porque eu virei parceiro do Caetano e do João Donato totalmente involuntariamente. Porque eu estava com uma fita do João Donato, estava fazendo umas músicas, aí tinha do João Donato, cantava uma letra que o Caetano estava fazendo com ele, e tinham duas frases no meio. Eu já viciado com esse negócio do Socorros Costa, eu vinha cantando uma música aí eu fiz as duas frases, aí eu falei para o Caetano: “Cara, tem uma música linda que você estão fazendo...”, e cantei pra ele, mas cantei com as duas frases, mas sem intenção. E aí Caetano com aquele jeito, “________ mas a gente se conhece há tantos anos não, vamos ser parceiros, porque eu sou letrista e você também, então vamos fazer o seguinte, vamos ______”, aí virei parceiro. Aí eu digo sempre que não fiz nada nessa música, mas virei parceiro. Mas no caso do Marcinho ele não virou meu parceiro porque não tinha, a gente se ajudava, fazia essas coisas.
R2 – E não era pra virar parceiro.
R – Mas hoje ele me lembrou que Socorros Costa surgiu antes do nome, segundo ele no Vera Cruz, que ele tinha feito várias folhas, várias tentativas, e várias coisas e não conseguia terminar. Quer dizer, tinha letra demais, né. E o Bituca pegou, em Belo Horizonte, esse monte de papéis com ele, trouxe para o Rio e me entregou, falou assim: “Dá um jeito nisso aí”. Acho que foi o início, acho que o Bituca que começou com esse negócio de – e, geralmente, como eu estava aqui, e o Marcinho e o Fernando em Belo Horizonte, eu virei o encarregado. Ou senão porque na época era muito, assim, técnico. Eu sou assim, do Clube da Esquina sou fã do Fernando, sou fã do Marcinho, sou especialmente fã do Marcinho, da coisa barroca, e não sei o quê, e sempre, como eu não tinha esse... Como letrista, eu como não tenho milhões de idéias, não consigo, às vezes eu tenho meia ideia que eu fico ali “caymmizando” aquilo ali até virar uma canção, entendeu. Então acabou fazendo de mim um cara muito, eu não sei se é isso, mas virou essa lenda do cara preciso, do cara não sei o quê, não sei o quê. Então eu não sei também se é isso, “resolve isso aí, conserta esse negócio”, não tinha nada pra consertar porque as letras eram geniais e já estavam prontas. E eu, na realidade, organizei porque tinha letra demais para uma melodia que não cabia tudo, cortei dali, tirei dali, não sei se fiz bem. E aí lembrei uma história com ele, que a gente foi conversando, você lembra da história, era uma história que era engraçada porque a gente – no apartamento que tinha em cima do apartamento do Bituca, dos tais tatames, em cima do túnel Rebouças, ali no alto, que a gente via a pedra do Corcovado, ficava ali viajando naquela pedra do Corcovado. Eu tinha que fazer a letra de “Nada será como antes”, porque ia ter alguma coisa, não sei se era a gravação do disco, ou se ia ter um festival não sei aonde que eles queriam cantar, e o Beto especialmente, garotão, queria cantar aquela música. Eu sei que tinha um quartinho de empregada deste tamanho assim, me trancaram no quarto de empregada, “agora faz” – e eu fiquei trancado no quarto de empregada, aquelas milhões de coisas, tinha umas malas velhas, eu não tinha o que fazer, aí abri uma mala assim, e começou a sair letra, e aí eu fui, nesse vício de ficar organizando, eu fui organizando. Aí eu fui organizando, e tinha a letra de “San Vicente”, do Milton e Fernando Brant, que no final tinha um negócio desse, eu dei uma organizadinha, aí pra me deixarem sair do quarto, eu dizia assim: “Deixa eu sair do quarto que eu tenho uma letra pronta!”, aí saí com a letra de “San Vicente”. (risos) Depois voltei de castigo, de novo, pra fazer a letra...
P – E no lançamento mesmo do Clube da Esquina nº 1, do que é que você se lembra dos shows de lançamento, como que foi, onde você estava...?
R – Cara, eu não me lembro, porque era...
R2 – Fonte da saudade, você brigava com ________.
R – Ah, é. Quando eu falo que a gente era pedra que rola, a gente era pedra que rola mesmo, porque não tinha muito assim... Chegou uma época que eu fiquei meio na encruzilhada, não foi isso, foi até um pouco de tempo depois que é o seguinte, esse papel do cara – no Clube da Esquina – “então, você segura e organiza”, eu comecei a virar coisa, e teve uma época que eu falei “vou virar o chato e o empresário dessa história, estou fora disso”. Mas ainda participei de algumas tentativas desastrosas de arranjar empresários para o Bituca, que se revelaram tentativas assim, tiros pela culatra. Porque era tudo muito mambembe assim, mas acho que o lançamento do Clube da Esquina foi um show no Teatro Fonte da Saudade – hoje em dia é um teatro que ninguém vai, nem sei se existe, que é das irmãs, ali quando você passa pra entrar no túnel Rebouças – e era um show que tinha um cenário, tinha uma direção acho que do Ruy Guerra, né? E foi bacana esse show, a gente, era assim mambembe mas tinha uma produção. Era assim, você, eu não sei descrever nem o... Por exemplo, o Bituca, os shows do Bituca eram tão diferentes de tudo que existia, e de tudo que existe hoje, e dos shows que o Bituca faz hoje, quer dizer, era um happening, tudo podia acontecer num show, era isso, acho que basicamente o que acontecia nessa época era que tudo podia acontecer no show. E o que aconteceu, a partir daí, é que o Clube da Esquina, eu acho que foi o primeiro, porque você pega assim – eu peguei, quando adolescente, o Tamba Trio como um grande sucesso, mas o grande sucesso de público era lotar uma igrejinha na feira da Providência, ou o auditório da PUC, entendeu. E o Clube da Esquina teve um negócio que foi cair de cabeça na garotada, caiu na cabeça da garotada diretamente, ela entrou, e aí o público começou a virar assim, quatorze, quinze, dezesseis, dezessee, entendeu, foi mudando porque eu acho que eles se identificavam com a música, com a coisa da música, da poesia, e com o jeito de ser, o jeito de ser cabeludo. E aí a coisa do Bituca, foi a primeira vez que eu vi no Brasil depois, mesmo ainda mambembe, mas foi a primeira vez que eu vi no Brasil grandes shows. A primeira, não só a gente organizou algumas coisas, embora a gente fosse maluco assim, a gente organizou. Quando chegou a geração do rock a gente já tinha organizado toda a coisa de, nego já sabia o que fazer quando chegava na gravadora, nego já sabia o que fazer quando chegava para publicar música. Porque a gente passou dez anos sem publicar nossas músicas, até entender como era, quando entendeu como é que era a gente fez a primeira editora de autores do Brasil. E, principalmente, quando, eu me lembro muito bem porque, como eu sou muito curioso por outras coisas, quando chegaram os meninos, ao contrário da MPB que virou de costas, a gente foi totalmente aberto, e eu particularmente fui muito aberto com a geração do rock. A geração do rock foi engraçada, os caras chegaram meio chutando o balde, dizendo assim: “MPB, esse Chico Buarque está velho!”, aí depois que eu achei legal. Depois, o que eu achei chato foi começar a fazer meia culpa e dizer: “Não, Erivelto Martins é um gênio”, sem conhecer, eles ficaram assim, depois ficaram muito MPB, demais. Mas quando chegou o rock eu falei “quero ver”, eu me lembro que o Chico Buarque ligava nessas reuniões de classe, ligava pra mim e dizia assim: “Você que conhece esse pessoal do rock, traz...” não sei o quê. Porque eu conheci o pessoal do rock, aí fiquei amigo do Renato Russo, do pessoal dos Paralamas, fui ali, “quero conhecer esses meninos que estão aí”. Mas quando eles chegaram na EMI, que foi um celeiro disso, o clima do rock, para o rock já estava, porque o clima do rock – isso ninguém vai dizer, principalmente a crítica de São Paulo, que até hoje toda vez que fala meu nome fala assim: “Ronaldo Bastos, bicho grilo”. Não adianta porque, isso é outra parte, essa parte quando eu começo a falar esse negócio, que eu detono, mas hoje eu prometi, pô, eu prometi ao papai do céu que não vou detonar ninguém. Mas é engraçado, porque se você vem com a biografia que você diz assim “eu fui amigo do Andy Warhol”, se eu me valorizasse e dissesse assim, você sabe que eu fui amigo do Heitor dos Prazeres, mas se eu me botasse na minha biografia “eu fui amigo do Andy Warhol’ eu ia virar o ídolo da Folha de São Paulo, entendeu. Mas como não, vira assim “Ronaldo Bastos, bicho grilo”, e o Clube da Esquina é uma coisa assim que quando faz 30, 25 anos, o máximo que teve – porque quando o Caetano faz não sei quantos anos, o Tropicalismo faz não sei o quê, tem cadernos. Aí o máximo que teve nos vinte e cinco anos do Clube da Esquina foi um negócio no Jornal do Brasil que dizia assim: “Os Sargent Peppers de Minas Gerais” – eu falei por que os Sargent Peppers de Minas Gerais? Então toda vez que se falar de Lupicínio Rodrigues, diz assim: “O compositor do Rio Grande do Sul”. Criou-se... uma vez eu estava tirando uma foto, exatamente para a mesma, para a Revista da Folha, falando um pouco isso com a repórter e com a menina que estava na fotografia, que hoje é uma grande fotógrafa em São Paulo, a Rochelle Costi, e ela falou esse negócio, eu falando esse negócio, ela falou: “É engraçado, as mesmas pessoas que eu trabalho hoje em dia, que ficam falando essas coisas, são as pessoas que antigamente alugavam kombi pra ir no show do Beto Guedes”, porque é a mesma coisa. Era bom, entendeu, mas fica aquele, meio dark de butique, uma coisa assim, e fica esperando um comportamento de você que... Eu me lembro quando eu lancei o disco “Cais”, que acho que foi o primeiro disco de um cara fazer o disco dele, de um autor, e eu fiz, posso dizer depois, já que a gente está falando desse lance do Clube da Esquina, eu fiz esse disco e eu ia lançar, eu dizia “pô, como é que eu vou lançar?”. Porque eu não posso falar assim: “Sabe, seu Sílvio, estou vindo aqui agora”. Aí eu falei “pô, vou chutar o pau da barraca”, sou o superstar, brincando, né. Eu sei que o cara foi me entrevistar, o cara chegou lá, super repórter, um cara bacana, ele chegou assim às três horas da tarde na minha casa esperando encontrar o bicho grilo do Clube da Esquina – nada contra bicho grilo, adoro os hippies, adoro bicho grilo, problema nenhum com nada, entendeu, está liberado geral, liberou geral. Aí o cara chegou às três horas da tarde, nós nos largamos às três horas da manhã do outro dia. Porque o cara, quando ele chegou ele falou assim: “O que é o ‘Cais’ pra você?”, eu poderia ter falado para ele “O cais é o lugar, o precipício aonde minha alma se projeta”, não poderia? Eu falei para ele assim: “O cais é um lugar que eu vou em São Paulo que abre às três horas da manhã, que eu vou com o Cazuza, a gente vai primeiro para o Cais, depois a gente vai para o Vão Improviso”. O cara falou “O quê!?”, espera aí, reprocessa. (risos) Aí a entrevista era meio isso, o cara falou assim, “pô, eu cheguei aqui...”, aí tinha os depoimentos do Chico dizendo que eu era, adorava a criatura, o Renato Russo dizendo que o dia que se encontrou comigo se ajoelhou, não sei o quê. Eu dizia assim, pô, mas é engraçado, e os caras continuam naquele negócio, falando isso. Eu falei: “Bom, como a gente sempre se comportou assim a gente continua se comportando”, como uma majestade, coisa que a gente não pensava na época, nesse sentido, mas existe um grande... Esse é um, coisa que é um preconceito mesmo, é um preconceito em relação ao Clube da Esquina, e esse negócio é muito atribuído, e eu discordo disso, às vezes o Fernando fala disso, de que que a gente não tinha nem organização e nem programa, e nem um programa de mídia. Porque é muito fácil dizer assim, “não, isso não aconteceu por causa disso”. Eu acho que é porque a gente fez um negócio que ficou assim, primeiro, o Clube da Esquina foi um fenômeno de público. Voltando ao que eu estava falando sobre os shows do Bituca, o Bituca e o Clube da Esquina era um grande fenômeno de público para a garotada da época, o Clube da Esquina é que possibilitou o aparecimento de uma geração de roqueiros com todo o comportamento herdado. Você vai ver a, pô, vou esquecer a música agora, mas tem uma música do Herbert, “Linda”, que a introdução de guitarra é Lô Borges puro, os caras falam. E ficaram uns caras que não eram absolutamente nada, nas redações dos jornais, que não ouvem porcaria nenhuma... O Caetano me falou sobre o cara da Folha, eu vou contar essa fofoca, posso ficar contando fofoca?
P – Claro
R – Ele me falou uma coisa maravilhosa, ele me falou assim que o cara escreveu um livro chamado “A decadência bonita do samba”, é uma bichinha que tem na Folha de São Paulo, e aí disse assim, escreveu um livro inteiro para provar a... Eu não sei se é isso, vamos trocar um pouco, para provar a heterossexualidade épica do Caetano. Aí o Caetano falou assim: “Mas, (fulano), você escreveu um livro inteiro pra provar minha heterossexualidade épica do ponto de vista da sua homossexualidade romântica!” (risos). É maravilhoso, né, porque o cara perde um tempo fodido pra fazer um livro que não interessa a ninguém, e aí quando chega o Clube da Esquina ele fica lá no alto, “não, esses caras aí...”. Eu digo, pô, não entendi nada cara – ele está falando com os caras que fizeram provavelmente uma das histórias mais incríveis da música popular nesse país! E, como o Caetano falou recentemente, quer dizer, primeiro ele falou ao vivo no Jô, “esse negócio do movimento que transformou a música...” – o Jô, bom, não vamos falar do Jô também – mas não sei o quê, o movimento de transformação da música, ele falou assim: “Não, a gente não fez transformação na música nenhuma, quem fez transformação da música foi o Clube da Esquina”. E recentemente quando ele gravou esse disco, ele falou: “As duas únicas coisas da música brasileira que foram fundamentais pra transformar, que de alguma maneira influenciaram a música no mundo, foi a bossa nova e o Clube da Esquina”. Entendeu, isso aqui é uma coisa assim... Agora, o mais chato desse depoimento, que eu já, esse depoimento é quase gravado, eu falo muito isso, e não por uma coisa ressentida porque isso aí é uma coisa fora do meu vocabulário. E também eu exerço um pouco, como sou um militante da música, eu exerço um pouco essa coisa da crítica o tempo inteiro, e acho que todo criador exerce isso. E, além disso, a gente é filho especialmente da nouvelle vague, que era isso, de Truffaut, de Godard, desses caras, especialmente do cinema novo - no tempo que se fazia cinema no Brasil, que não era esse cinema que está se fazendo, com raras exceções, que se faz agora com dinheiro público, que é um horror. Agora estou falando tudo também, comecei uma polêmica, liguei minha metralhadora giratória - três goles de cerveja, Ronaldo Bastos em ação. Então a gente, eu falo isso por isso, e falo, e não acho que se tivesse uma, acho que a história é como é, porque esse negócio de “ah, não, se a gente tivesse feito um programa, tivesse...”, não sei o quê, ia ter. Porque eu acho que a gente sempre se lixou, eu falo isso nesse artigo – porque a única coisa que eu escrevi sobre o Clube da Esquina foi isso aí -, a gente sempre se lixou para essa história, e eu acho que a gente continua se lixando. Então não ia me preocupar agora, mas têm horas que eu falo porque também não dá pra dizer assim: “Olha, o meu depoimento é o seguinte, a história da música brasileira não é a bossa nova, o tropicalismo e o rock brasileiro, e etcetera, não é assim que se passou, não é dessa maneira”. Quando eu falo esse negócio que eu era amigo do Torquato, eu conheci o Caetano antes de conhecer o Milton, é porque essas histórias estão muito ligadas e não era nenhuma descoberta nova você descobrir que tinha outras coisas acontecendo, que tinha mini-saia, que tinha os Beatles, que tinha o Jimmy Hendrix, que eu esqueci de falar das coisas que a gente ouvia, que provavelmente esqueci um monte de coisas – que tinha o Jimmy Hendrix, que tinha todo esse universo que estava acontecendo e que nós éramos jovens e estávamos sabendo disso. Só que nós não tínhamos um programa, não era o nosso programa, por exemplo, identificar preconceitos em relação ao que é brega e ao que não é brega, essas coisas que o tropicalismo tratou maravilhosamente bem. E nos possibilitou, inclusive algumas conquistas do tropicalismo foram ótimas para a gente ali no processo, deu muita liberdade para a gente. Agora, você ver um programa da Tv Globo com uma cantora que eu não vou citar o nome, pra não ficar polêmico demais, assassinando uma música do Caetano no palco, e a locução e o cara dizendo assim: “O Tropicalismo mudou o Brasil”. Pra quem estava vivo é o seguinte, aí é uma atitude - que não é uma atitude que eu tenha que tomar, mas eu acho que os tropicalistas têm que tomar, de chegar lá, ver o programa e dizer assim: “Olha, quero falar, a gente não mudou Brasil nenhum...”, mesmo porque durou alguns meses. Os jovens artistas, eu fico muito triste quando os jovens artistas se identificam como filhos do Tropicalismo. Eu ficaria profundamente distante de um jovem artista que se dissesse filho do Clube da Esquina, não é nossa praia, entendeu, a nossa praia é Bob Dylan, “Don’t look back”. Como naquele francês de quem não fala francês, ‘sampre an fran’. (risos) É o francês do malandro, ‘sampre an fran’. É isso, falei muito.
P – Agora eu queria que você falasse um pouco do Nuvem Cigana, o que era, o que foi esse grupo, explicar o que é isso.
R – Assim, na Faculdade de Comunicação eu conheci algumas pessoas, entre elas o poeta Chacal, o poeta Charles Peixoto. E, na época do Clube da Esquina, eu ainda pensava, a gente era beatlemaníaco no sentido de que a gente pensava também em fazer aquela organização toda, no final a gente fez um monte de coisas sem muito essa organização. Mas eu pensava em fazer isso, então tinha essa idéia de a gente fazer o Nuvem Cigana, que era uma coisa assim, e tinha esse nome que era uma música do Lô Borges comigo. E, por circunstâncias da vida, numa determinada época fui morar em Santa Tereza numa casa com várias pessoas, dois arquitetos, que eram o Pedro Cascardo e o Dionísio, e a Lúcia, que era engenheira. Era uma casa grande que eles tinham comprado, em ruínas, tinham reformado e a gente vivia em comunidade, nessa comunidade, e um bando de gente. Foi uma época que eu voltei a jogar bola em Campinas, tinha um pessoal do futebol, tinha um bloco de carnaval que a gente fazia que é uma origem desses grupos que têm no Rio, Simpatia quase Amor, e não sei o quê - que era o charme do Simpatia, uma coisa louca, que era fora do carnaval, na contramão da rua, com os carros andando e vestidos de papel crepon, e se atirava na praia horas depois de ter tumultuado, era quase um comício relâmpago carnavalesco o que a gente fazia. Para mim foi uma época – por circunstâncias que não interessa agora, porque meu depoimento é, espero, até o Clube da Esquina nº 2 ali - em que, depois do Clube da Esquina nº 2, eu fiquei por variadas razões muito fragilizado. E eu recuperei uma coisa que eu tinha, eu sou um cara que me orgulho muito quando falam que eu sou mineiro, porque toda vez tenho que desmentir nas entrevistas e eu nunca desminto, porque digo que Minas é muitas, que eu me orgulho e que sou mineiro sim. Mesmo porque o meu pai era vendedor da Zona da Mata, meus irmãos nasceram em Ubá e eu me sinto mineiro. E eu sou papa-goiaba, sou de Niterói, mas eu sou muito carioca, assim, meu jeito é muito carioca. E, depois, a minha música, das coisas que eu tenho feito agora com Celso Fonseca, que eu consegui criar um personagem, consegui fazer uma trilogia que eu crio um personagem, que eu acho que finalmente acertei na coisa, que é esse cara que tem um pé na malandragem e um pé no grand monde, que é o cara que é elegante mas ao mesmo tempo está na sarjeta, e vê esses mundos e faz isso passar. Então, nessa época, eu caí um pouco nessa história do futebol, do samba, não sei o quê, nessa coisa de Santa Tereza, com esses amigos, eu fui morar, eu meio não tinha onde morar, fiquei ali, fui parar lá. E Marcinho foi morar depois ali em Santa Tereza também, a gente tinha ali, tinha uma coisa, a gente dava festas que duravam três dias, era uma maravilha. E tinha, estava tendo a geração do mimeógrafo, e eu não – eu publiquei um livrinho na vida que, na realidade, nem é um livro, eu nem o tenho inclusive, que é um negócio chamado “Canção de Búzios”. É um livrinho que eu fiz com as memórias de um tempo que eu passei meio vagabundo, em Búzios, no tempo que Búzios era Búzios. Agora Búzios, eu fui lá um dia, eu falei pô, que horror, vai embora correndo. E aí que a gente fazia livro, e o Chacal tinha feito, primeiro tinha sido o Chacal que tinha feito um livro no mimeógrafo, chamado “Muito Prazer, Chacal”. E aí tinha esse negócio do mimeógrafo, e a Nuvem Cigana meio que tinha esse espírito das festas, a gente era meio happening, era o contrário. Porque quando eu digo que fragilizei, embora não pareça nesta entrevista, isso é um negócio que todo mundo diz: tímido e romântico. Se você disser numa mesa, numa festa, dá briga – você fala assim: “Eu sou tímido”, e o cara também diz assim: “Eu também sou tímido!”, estão brigando, “Não, eu sou mais tímido que você!”. Tímido e romântico você não pode falar, todo mundo é tímido e todo mundo é romântico. Mas assim, talvez não pareça na entrevista, sou um cara extremamente tímido, que aprendi a sobreviver com esse, desse jeito, né. E nessa época eu estava fragilizado, porque eu estava todo pra dentro, então isso foi uma possibilidade, porque essa galera é uma galera pra fora, do falar alto, do futebol, do não sei o quê, e eu entrei de cabeça porque foi minha sobrevivência, foi minha volta à vida, foi minha saúde. Então tinha essa coisa da Nuvem Cigana que foi produzir, organizar – era uma esculhambação, reuniões intermináveis – e a gente organizava, a pretexto de lançar alguns discos, alguns livros que a gente publicava, a gente organizava uns happenings. Maravilhosos, fizemos grandes happenings no Rio de Janeiro, happenings loucos com encenações, com festas malucas. E, na realidade, o Nuvem Cigana tinha tudo, a gente dava festas, tinha festa na minha casa que eu saía no meio da festa, viajava pra Friburgo e voltava três dias depois, e a festa continuava. Que tinha, assim, do cara do morro do não sei o quê ao Tom Jobim, rolava assim, passaram todas as pessoas. Eu ia na praia, no meio da festa eu ia à praia, e tinha alguém comentando a festa, a festa estava rolando, “não, porque eu fui a uma festa na casa do Ronaldo Bastos”, só que ninguém soube, ninguém sabe quem sou eu, as pessoas nunca me viram, então “lá na festa da casa do Ronaldo Bastos”, não era nem minha casa, eu estava lá, era festa... “Nuvem Cigana”. E aí virou esse grupo, a casa do Nuvem Cigana, Nuvem Cigana foi isso. Nuvem Cigana porque é uma coisa que se move, está em movimento.
P – E o seu trabalho com o Tom Jobim, como foi, descreve um pouquinho.
R – Olha, acho que eu fui mais amigo do Tom Jobim do que parceiro. Eu conheci o Tom Jobim, que já era um mito absoluto para o Brasil e pra mim mais do que para o Brasil. Um mito absoluto, apresentado, é, o Bituca me levou na casa do Tom Jobim, e aconteceu alguma dessas coisas que acontecem que a gente – ele gostou de mim e eu comecei a frequentar ali, a casa do Tom. E o Tom foi um cara muito importante na minha formação, em todos os sentidos, até coisas assim, tipo ensinar “você faz a barba e fica aqueles…”, tipo assim, te dá uma dura sem dizer, depois só entendia, tem certas coisas que eu só entendia depois. Ele, “não, vou te ensinar um negócio, você tem que tirar o pelinho assim com a água”, quando você faz a barba, a fritar ovo, a esquentar arroz, essas coisas fundamentais na vida de uma pessoa o Tom é que me ensinou, ele foi fundamental na minha formação. E o Tom me apresentou, e tinha esse negócio de fazer música, porque eu era um letrista ali, parceiro do Milton Nascimento. Eu tinha feito uma música com o Milton, chamada “Amigo, amiga”, que todas as pessoas, o Edu fazia música comigo porque eu fiz essa música, aí o Tom Jobim, não sei o quê, não sei o quê. E eu, na realidade, eu comecei, eu fiz uma temeridade, porque tem a música “Wave” que eu resolvi ir pra casa escrever uma letra, que era o que a gente mais ou menos fazia. A gente fazia às vezes junto, mas geralmente a gente ficava ali, mas o Tom não gostava, ele gostava de escrever junto. Ele gostava de fazer, ele gostava desse, aí ficava dando cada acorde, aprendi muito com isso também. Assim, sabe, os caras que você manda uma letra, mas o cara toca aquele acorde pra ver se soa, sabe, João Donato, aquele que... Aprendi isso muito com o Tom, e aprendi com João Gilberto, só que aprendi a fazer letra com João Gilberto. (riso) E o Tom teve a sabedoria, e eu acho que ele vivia muito nesse momento, sendo um mito no Brasil, era muito essa coisa da esquerda, da direita, do movimento estudantil dos jovens, e tinha o Paulinho, filho do Tom, que era um pouco mais novo do que eu, que estava ali, e o Tom teve a sabedoria porque, na realidade... Bom, eu estava falando do “Wave”, No “Wave” eu tentei fazer a letra, e na realidade o Tom estava fazendo a letra, ele já tinha várias coisas, mas eu me orgulho, um dos meus maiores orgulhos na música popular é de ter colocado a palavra cais no “Wave”, toda vez que disser “o cais é a eternidade”, esse fui eu. Então eu era parceiro do Tom só nessa palavra que eu coloquei, que eu não era parceiro, mas porque eu fiquei meio ali com ele me mostrando. Mas ele teve a sabedoria de, meio forçar uma barra, o Paulinho estava doente, no andar de cima, com gripe, e ele falou assim: “Você precisa conhecer meu filho”, aquele jeito dele, aí me levou lá para o Paulinho. E aí ele fez uma coisa que eu virei parceiro do Paulinho, e passei a ser amigo dele, mas ‘o amigo do Paulinho’, e virou uma coisa meio de família. Quer dizer, eu fiquei meio sendo um, eu tive o privilégio na vida, fora a família Borges, a família Brant, eu sou da família Caymmi. É engraçado, outro dia eu zoei a Nana Caymmi, muito - porque eu chamo a Nana Caymmi afetuosamente de mamãe, e a Dona Estela, mãe da Nana Caymmi, me chama de ‘meu irmão’ -, aí eu cheguei numa festa e falei: “Nana, se a sua mãe é minha irmã e você é minha mãe, o quê afinal você é minha?”. Então eu tive essa sorte de poder conviver, tanto com nosso Dorival como nosso Antônio Carlos, mas a parceria ela só foi se tornar assim, ela é uma parceria, vamos dizer, rala para o tempo que a gente... Rala não, mas ela é pequena para o tempo que a gente conviveu, na realidade. Porque a gente fez uma música, que eu tinha feito com o Paulinho, mas ele estava louco, o Tom era demais. Eu tinha feito uma música com o Paulinho chamada “Maria é dia”, e a gente nunca tinha feito uma música junto, aí ele foi, ele queria, foi lá com o Paulinho e fez umas partes, umas outras, escreveu outras partes da letra. Porque, na realidade, ele queria fazer aquele negócio da parceria que a gente tinha projetado anos antes. Depois, ele passou um tempo, nesse tempo de Paris eu convivi com alguns compositores, convivi com o Vinícius, e teve uma época que eu morei com o Tom numa casa, em Londres, primeiro com ele sozinho e depois com a família. E aí, logo depois disso, a gente se encontrou em Paris – eu tenho uma música inédita com ele, ficou inédita, que ele não gravou, era uma música que ele gravou instrumentalmente, chamada “Teresa my love”, e que, não sei como chama em português, era “Tempo vadio”, não sei, Teresa, meu amor ficou vazio. E depois ele me chamou pra fazer aquele minissérie da TV Globo, que era “O tempo e o vento”, que ele me chamou pra fazer algumas canções com ele, aí me chamou pra fazer com ele essas canções, que são as canções que existem, que são três canções desse...
P – Ronaldo, você estava falando um pouco das famílias, agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, atualmente você é casado?
R – Não
P – E tem filhos?
R – Não
P – Bom, eu acho que é assim, fazer uma avaliação geral desse projeto, se você pudesse, a princípio, mudar alguma coisa na sua trajetória, na sua carreira, o que é que você gostaria de ter mudado?
R – Ganhar mais grana. Não acredito nesse negócio de mudar, porque é uma hipótese que, essa hipótese, eu sempre tenho essa pergunta, mas é uma hipótese que não existe.
R2 – Mas, então, vamos reformular, né, a pergunta. Foi uma pergunta que eu fiz para o Bituca uma vez, ele me respondeu e falou assim: “Bituca, os benefícios, a fama, o reconhecimento popular, histórico, etcetera, da sua trajetória todo mundo reconhece. Agora, o que é que deu completamente errado, o quê que é, qual a sua frustração nessa história?”, é impossível que tudo tenha sido uma maravilha, né.
R – Eu acho que o Clube da Esquina deu certo e deu errado, acho que era uma coisa para, estou dizendo o meu programa, minha coisa era uma coisa para durar e permitir a realização. Quer dizer, eu tinha desde o início essa idéia de realizar muitas coisas, e eu trabalhei muito para que isso acontecesse, quer dizer, entrei ali na estiva desse lance pra trabalhar. E, de certa forma, eu ajudei a criar um negócio que caiu um pouco na minha cabeça, quando o Clube da Esquina se tornou uma coisa realmente importante, de certa maneira é o que acontece com tudo, quando o time está perdendo ninguém coisa, quando é um negócio assim aí aparecem muitos donos, muitas coisas e não sei o quê. Isso caiu muito, caiu sobre a minha cabeça de uma maneira que eu não tinha outra coisa porque eu tinha, a minha vida era planejada para aquilo dar certo. Eu não tinha, sabe, um outro emprego, uma carreira, para mim era aquilo na minha vida, que é uma coisa que não faz parte deste depoimento, e eu tinha... Mas já que a pergunta foi colocada pelo Marcinho nessa coisa. De certa maneira ele deu certo, porque está aí, e eu também dei certo, queria ser compositor popular e sou compositor popular, e me permitiu também enfrentar muita coisa, fazer outras coisas que eu talvez não tivesse feito. Mas do jeito que eu via ia dar para todo mundo fazer todas as coisas sem... eu acho que ficou estreito o horizonte, um pouco assim. Ficou, sabe, ficou... E não vejo, eu não vejo, eu me vejo feliz. Mas, por exemplo, você estava falando desse negócio que você falou para o Bituca, eu não vejo muito uma felicidade assim, entendeu. Com todas as realizações eu não vejo que ele, especialmente ele que era o centro dessa história, que poderia ter com todas as realizações depois, isso não foi o mais importante. O que veio depois não foi o mais importante, e se perdeu muito, embora com toda a qualidade, com tudo assim, se perdeu muito em meandros, eu não vejo uma felicidade nisso. Mas também a pergunta é meio... na verdade a gente estava num papo aqui, e aí virou uma coisa do sistema do, virou assim, o fecho do... A sua pergunta, quando você perguntou parecia uma coisa meio acadêmica, e eu estava na empolgação do assunto.
P – Tá, agora falando um pouco dessa iniciativa específica aqui, o Museu Clube da Esquina, o que é que você acha dessa iniciativa de estar resgatando tudo isso?
R – Eu acho maravilhosa, eu vou falar tudo que eu falei para o Marcinho, eu acho maravilhosa, especialmente resgatar o espírito dessa coisa de forma que o Clube da Esquina seja para todo mundo, sabe, pra todo mundo. Eu acho que nem cabe gravar Clube da Esquina, sabe, toda vez que falam assim eu acho que não é mais isso. Está aí, acho que até eu respondi a coisa anterior de uma maneira que eu não gostaria nem ter... Porque pegou assim, sabe. Porque deu certo, tá bacana, foi, é isso, cada um foi, não teria nada para consertar na minha coisa assim. Acho muito legal, e o que eu falei para o Marcinho é o seguinte, eu acho que tem que ser um Museu voltado para o futuro, com o olho para a frente, para isso, de tudo. Ele tem que se realizar num espaço imaginário, num tempo imaginário, no futuro. Agora, mas para o futuro, para estar aí. Uma coisa que as pessoas fisicamente possam entrar, num lugar que também seja, que tenha uma cara nova, sabe, se isso se materializar como um Museu que tenha uma arquitetura nova, que não seja assim um prédio que a prefeitura tinha não sei aonde, que fica lá, fique aquela coisa. Eu sei que esse não é o espírito dele, mas eu vejo isso muito claramente, que já, a começar pelo espaço, tem que ser uma coisa totalmente arrojada. Eu acho que a gente, a música da gente está muito ligada com arquitetura da gente, com o cinema da gente, e especialmente com o povo, né. Com o povo brasileiro e com os terráqueos, pelo menos enquanto eles não conhecem ainda os marcianos, os venusianos, etcetera e tal, pelo menos os terráqueos.
P – Ronaldo, muito obrigada pela sua entrevista, é isso.
R – Valeu, obrigada.
(FIM DA ENTREVISTA)
Recolher.jpeg)