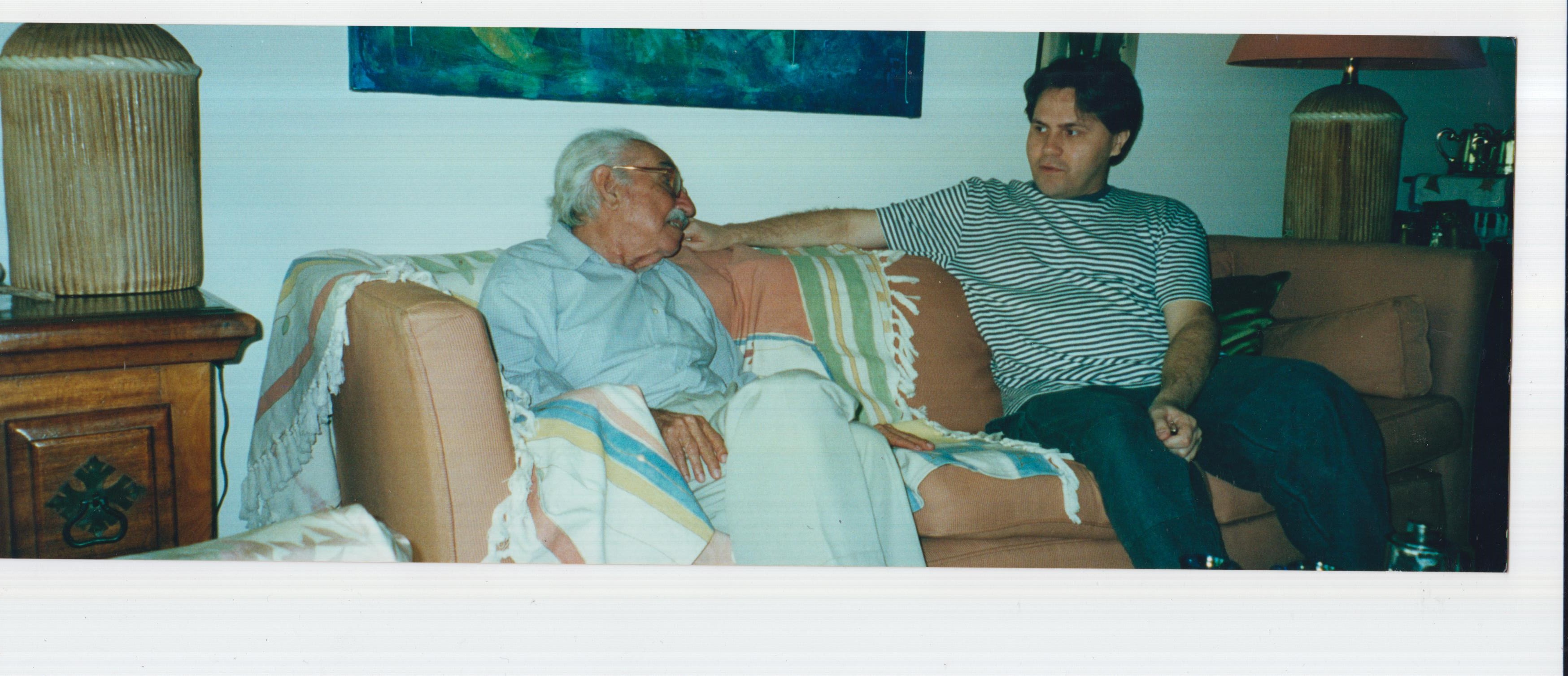Projeto Kom Biblioteca
Depoimento de Marcelino Freire
Entrevistado por Karen Worcman e Jonas Worcman
São Paulo, 25/06/2015
Realização Museu da Pessoa
KOM_HV016_ Marcelino Freire
Transcrito por Karina Medici Barrella
P/1 – Queria começar pedindo para você falar de novo o seu nome completo, a data e o local do seu nascimento.
R – Marcelino Juvêncio Freire. Nasci em 20 de março de 1967.
P/1 – Onde?
R – Sertânia, Pernambuco. Sertão de Pernambuco.
P/1 – E qual o nome do seu pai e da sua mãe?
R – Antônio Juvêncio Freire e Maria do Carmo Freire. O meu avô se chamava Juvêncio. O que aconteceu? O meu avô colocou Juvêncio, o primeiro nome dele, como sobrenome dos filhos. Então meu pai recebeu Antônio Juvêncio Freire e aí meu pai fez isso com os filhos, por isso que eu tenho o nome Antônio Marcelino Juvêncio Freire, por causa do Antônio Juvêncio.
P/1 – E o do seu avô era Juvêncio.
R – Era Juvêncio.
P/1 – Você conheceu esse seu avô?
R – Não, eu não conheci. Eu não conheci, eu só conheci uma avó, a Maria.
P/1 – Materna, paterna?
R – Materna. Só conheci essa minha avó. Mesmo assim ela morreu eu devia ter uns cinco anos, mas eu lembro dela.
P/1 – O que você lembra dela?
R – Fumava muito cachimbo, muito fumo de rolo. Tinha aquele fumo que ela comprava, ela ficava ali cortando aquele fumo, fazia seu cigarro e fumava. Eu lembro muito disso. E lembro do caixão também na sala. “Nossa, o que está acontecendo?” “Sua avó está lá deitada” (risos). No dia em que ela morreu. Eu morava em Paulo Afonso já, na Bahia.
P/1 – Isso depois, então?
R – É, isso foi depois. Porque eu nasci em Sertânia, Pernambuco, mas com três anos de idade eu fui pra Paulo Afonso, na Bahia. Fiquei lá até os oito anos.
P/1 – Antes disso me conta um pouco do seu pai e da sua mãe. O que eles faziam?
R – Meu pai tinha uma família grande lá em Sertânia, minha mãe também nasceu em Sertânia, os dois se conheceram. Meu pai tinha uma pequena terra, mas era uma terra muito seca, um lugar muito seco, até hoje é.
P/1 – Sertânia fica mais ou menos onde?
R – 380 quilômetros do Recife.
P/1 – Pra dentro?
R – Pra dentro, bem no sertão. Sertãozão. Meu pai tinha umas terras, mas criava gado, plantava. Mas aí vinha a seca, aquele sofrimento todo e minha mãe queria sair de lá, porque exatamente disse: “Isso não tem futuro”. Começava a ter uma coisinha, aí perdia. Aí a minha mãe queria sair de lá e meu pai queria ficar. Até que ela o convenceu, vendeu essa terra e eles se mudaram pra Paulo Afonso, na Bahia.
P/1 – Por que Paulo Afonso?
R – Porque já havia alguns familiares lá.
P/1 – Que tinham saído da cidade?
R – Não, acho que já eram pessoas que moravam lá, já tinham nascido lá. A irmã dele foi morar depois, depois que meu pai foi morar lá. Mas porque tinha a Chesf, Companhia Hidroelétrica de Paulo Afonso. E oportunidade de emprego, me parecia, muita água também porque tem a cachoeira de Paulo Afonso. Tanto é que a minha lembrança de infância é de água, não é de seca, porque saí muito novo de Sertânia.
P/1 – Qual que é essa lembrança que você tem assim?
R – Exatamente me levavam pra passear por cima da cachoeira, que é uma cachoeira imensa, né? Abastece todo aquele Nordeste ali. Então aquelas montanhas imensas, aquelas quedas d’água imensas. E eu lembro que eles me levavam pra passear naquela pontezinha e eu morria de medo, nossa senhora, que horror. Morria de medo que a ponte balançava e aquele aguareu lá embaixo. Mas era muita água, né? Então a minha infância, o que eu tenho mais lembrança é da água. Não é nem da seca, eu lembro muito pouco de Sertânia. Lembro de Sertânia pelo que herdei dos meus pais, em que sentido? Eles falavam muito em Sertânia, né?
P/1 – E o que era a imagem que você tinha de Sertânia?
R – Era aquela coisa de que era uma vida muito difícil, muito seca, porque o sítio, falava muito o sítio. Eles deram o nome ao sítio que eu ainda quero usar em um livro. O sítio se chamava Serecé.
P/1 – E o que é?
R – Não sei, na verdade. Mas parece ser o céu, não parece? Serece?
P/1 – É. Bonito, né?
R – Serece. E eles falavam muito do Serece. Tudo Serece, que no Serece. Eles tinham muitas saudades de lá, eles não queriam sair de lá na verdade, né? Mas tinha que sair. Então eles tinham saudade, saudade de tranquilidade, saudade do que plantava, do que colhia. Principalmente a saudade da seca, do sacrifício. Então minha mãe pegou os filhos todos, somos em...
P/1 – Quantos são?
R – Minha mãe teve 14 gestações, perdeu cinco, ficaram nove. Desses nove eu sou o caçula, dessa família de nove filhos, né?
P/1 – Quais os nomes dos seus irmãos?
R – Vamos lá. O mais velho é José.
P/1 – José Juvêncio?
R – José Juvêncio Sobrinho, porque já é uma homenagem ao tio, tinha muito isso, né? José Juvêncio Sobrinho. Aí vem Juvêncio de Almeida Neto, curiosamente que Almeida Neto já está dizendo que meu avô chamava Juvêncio de Almeida, né? Tem uma coisa de Almeida na família aí. Aí vem, José, Juvêncio, Paulo, Antônio, Maria, Luís, Antônio Fernando, Manuel e eu. Acho que já contei, são nove, né?
P/1 – Deu nove.
R – Uma mulher só.
P/1 – Poxa.
R – É, que era Maria. Desses oito irmãos um morreu já, tem uns cinco anos, seis anos que ele morreu.
P/1 – O mais velho?
R – O mais velho, que era o Antônio, né? Antônio Juvêncio Filho. Engraçado, Antônio Juvêncio Filho, Juvêncio de Almeida Neto, José Juvêncio Sobrinho.
P/1 – Parece a família Buendía lá (risos).
R – E todos com Juvêncio, à exceção da minha irmã. Minha mãe se chamava Maria do Carmo Nunes. O certo seria que a gente recebesse o Nunes, eu seria Marcelino Nunes Freire, digamos, mas ela perdeu o nome dela, o Nunes, ganhou o do meu pai, Maria do Carmo Freire, e o meu pai quando foi dar o nome a minha irmã colocou Maria de Fátima Nunes. O seja, ela não tem o Freire, tem o nome antigo da minha mãe e nem parece a nossa irmã. Maria de Fátima Nunes, se a minha mãe é Maria do Carmo Freire, então ficou um pouco essa confusão.
P/1 – E o que você lembra dessa chegada em Paulo Afonso, como que foi a casa, quem dormia com quem. Me conta um pouco o que você lembra dessa casa?
R – Eu me lembro muito pouco da chegada, mas eu lembro da casa. Eu lembro da casa, tinha um quintal. Eu lembro de pela primeira vez ter visto um urubu (risos) no quintal da minha casa, quando aparecia eu achava bonito. E eu lembro também de um quarto, o que eu mais lembro é do quarto da bagaceira, que é outro nome que eu pretendo usar em alguma coisa. Quarto da bagaceira é o quarto da bagunça, é o quarto que você coloca as coisas que você não vai usar, é uma dispensa assim. Chama quarto da bagaceira, esse nome vem muito das usinas, onde você guarda o bagaço da cana, é o quarto da bagaceira, onde o bagaço da cana fica guardado.
P/1 – E você lembra desse quarto por quê?
R – Porque tinha muita coisa e era lá onde eu ficava deitado, ficava vendo coisa velha. Eu gostava daquele quarto, eu acho que era meio que um casulo, meio que um casulo do escritor que eu viria a ser. Em que sentido? Ali tinha tudo que não prestava ou aquilo que estava inutilizado. Ali era onde eu me divertia, eu queria brincar com aquilo mesmo, era lá onde eu ficava deitado, olhando pro teto. E lembro que eu via muitas bananas, minha mãe colocava banana pra amadurecer, colocava no alto do quarto da bagaceira assim, penduradas, eu lembro um pouco disso. E lembro do meu pai no comércio, porque quando o meu pai foi pra Paulo Afonso ele foi trabalhar com aquilo que ele sabia, que era o quê? Cereais. Trabalhava com feijão, com arroz, com milho, vendendo isso em quiosque, no mercado público de Paulo Afonso. Aí eu lembro dele trabalhando com isso. Depois ele inventou de vender carvão, então trabalhou com carvão. Mas também as coisas não deram certo lá e a família toda foi pro Recife. Eu lembro do parque também, em Paulo Afonso. Paulo Afonso eu tenho mais lembrança do parque. Não entendia no carnaval quando dizia assim: “Os cangaceiros vêm aí”. E meu pai falava: “Porque Lampião, porque Lampião”, eu achava que era o próprio Lampião mesmo que chegava na cidade (risos), mas na verdade eram pessoas já fantasiadas de cangaceiros, me fascinava aquilo. O primeiro show do Luiz Gonzaga eu vi lá também, meu pai amava Luiz Gonzaga e me levou para um show em Paulo Afonso, eu também não entendia e achava que ele era o Lampião porque usava aquele gibão e meu pai adorava. E falava de lampião e tinha um homem vestido igual lampião, achava que Luiz Gonzaga era Lampião (risos). Uma música e um artista que me influenciou muito, Luiz Gonzaga, pelas letras e por aquela figura, assim, mítica, né?
P/1 – Mas isso depois. Ou nessa época você já ficou impressionado com ele?
R – Fiquei impressionado naquela época. Impressionado com a figura. E meu pai gosta tanto daquele cantor, né? E eu lembro dele comigo nas costas assistindo a esse show do Luiz Gonzaga. Do parque também. Lembro também que não passei muito bem em rodas gigantes, em carrossel, detestava carrossel. Me colocaram no carrossel, só fiz dar uma volta e já queria descer do carrossel porque me sinto mal, até hoje se eu der duas circuladas ali eu passo mal. Desde pequeno. “Ih, esse menino já não pode andar de carrossel”. Ainda bem. Nem carrossel, nem roda gigante. Aí eu lembro disso (risos). Dos amigos, dos primeiros amigos da rua.
P/2 – Do que você brincava mais assim?
R – Bola eu sempre fui péssimo. Horrível, nunca brinquei de bola. Era de bola de gude, aí bola de gude eu já era bom.
P/1 – Você começou a ir na escola em Paulo Afonso?
R – Sim. Minha mãe conseguiu, que ela ficou muito feliz, conseguiu colocar os dois filhos mais novos estudando na escola da Chesf. Na escola da Chesf só estudavam os funcionários de lá, mas como nós tínhamos vários primos que trabalhavam na Chesf a gente acabou estudando nessa escola da Chesf, que era como se fosse uma escola do Sesc, uma escola boa, eu lembro bem da escola. Depois as coisas não estavam boas, meu pai devendo, não deu certo. Aí minha mãe: “Aqui também não tem futuro, não, tem que ir para uma cidade que tem universidade, que meus filhos possam estudar”, e ela resolveu vir para o Recife.
P/1 – Só antes da gente chegar no Recife. Se você fosse descrever, qual que era característica da sua mãe? Ela era inquieta, ela valorizava o estudo? É ela que movia a família? Me conta um pouquinho se você fosse falar um pouco da sua mãe e um pouco do seu pai. Dá uma descrevida.
P/1 – Ela que movia, ela era muito teimosa, muito falante, muito inquieta, não se continha. Muito inquieta, com muita vontade de sair do lugar. Ela não sabia o que era, mas ela dizia: “Eu preciso ir, preciso sair. Isso não está certo, isso está muito estagnado, isso aqui está muito parado”. E meu pai não, meu pai era um homem da terra, achava que a gente não precisava estudar, a gente tinha que ficar ajudando lá mesmo na terra, ajudando no comércio. E minha mãe não, queria que estudasse. Estudar, estudar, estudar, estudar. “Estude, estude, estude pra ser gente!”
P/1 – Ela dizia isso?
R – Ela dizia isso. E ser gente não é ser poeta, né? Ser gente é ser engenheiro, advogado. Eu lembro que ela falava muito de um doutor Lafaiete, então ela enchia a boca pra dizer: “Porque o doutor Lafaiete”. Ele era um doutor de Sertânia, médico, que depois se candidatou a cargo público. Mas ela dizia: “Doutor Lafaiete”. Então quando ela queria que a gente estudasse, ela queria que a gente fosse doutor, não poeta. Não sabia ela (risos).
P/1 – Mas aí vocês todos estudaram e ela botou todo mundo na escola?
R – À exceção dos mais velhos. Os mais velhos já tinham largado estudo, era muita dificuldade para estudar em Sertânia. Esses mais velhos sofreram muito, né? Eu e o mais novo, eu e o Manuel, esqueci o Manuel, acho que não tinha contado, né?
P/1 – Você falou Manuel.
R – Falei Manuel? Manuel é o mais encostado a mim. Engraçado que eu nasci no dia 20 de março de 1967 e ele no dia 20 de abril de 1966. Significa que tem um momento que nós ficamos com a mesma idade, a gente até brincava e dizia com meu pai, pra minha mãe: “Acho que vocês treparam no hospital, não é possível” (risos), porque tem o momento que os dois filhos ficam com a mesma idade é incrível isso. Ah, por que eu estava falando disso, era do...
P/1 – Porque vocês eram os mais novos e nesse momento vocês ficavam na mesma idade.
R – A minha mãe queria que pelo menos os mais novos estudassem. Os mais velhos. Ah sim, eles diziam em relação a mim e a Manuel, que nós nascemos em berço de ouro. Porque nós não tivemos que andar léguas para estudar, a gente já foi estudar na escola da Chesf. Não precisamos capinar, pegar muito sol, pegar no pesado. Isso meus irmãos todos sofreram muito. De caminhar léguas do sítio para o centro de Sertânia pra poder vender coisas, caminhar com a minha mãe, ajudar, subir em cavalo, subir em jumento, essas coisas. A gente não teve essa realidade. Eles diziam que enquanto a gente nasceu em berço de ouro eles nasceram em berço de couro (risos). E aí só nós, só os mais novos ali, eu, Manuel, o Luís, Maria, conseguimos estudar um pouco mais. Os meus outros irmãos mais velhos têm o primário incompleto e trabalharam sempre em construção civil, até hoje tem um que trabalha em construção civil. E esse meu irmão que morreu, morreu em construção civil, trabalhando numa obra em João Pessoa, num acidente de trabalho. E esse Paulo, que é um dos mais velhos, ainda trabalha em construção civil em Angola. Aí tem um outro irmão meu, Fernando, que trabalha também em construção civil em Angola. Todos eles foram pra construção civil porque era o ápice do progresso e também da migração de nordestinos pra construir São Paulo, construir hidrelétricas, estradas, transamazônicas, etc, etc.
P/1 – Então vamos agora chegar, estamos chegando, não deu nada certo e vocês foram chegando em Recife. O que aconteceu aí, você lembra dessa chegada?
R – Aí eu já lembro um pouco mais. Eu lembro da minha mãe também chegando do Recife, ela ia muito ao Recife, ela é uma batalhadora danada, era para ajudar no orçamento da família, ela ia ao Recife, tinha alguns amigos lá, algumas comadres e parentes lá. Ela ia ao Recife pra comprar roupas e trazer essas roupas pra Paulo Afonso, pra revender. Então ela já tinha um pé no Recife. Então ela se determinou e disse: “Não, a gente tem que ir embora pro Recife”. Tinha um irmão meu, Juvêncio, foi o único, primeiro irmão que foi para o Recife, que ele foi servir o Exército. Passou e foi trabalhar no Exército. O Exército tem o seu lugar garantido, já morava lá no Recife. Se aposentou lá. Aí já tinha esse pé, ela pediu que Juvêncio, mais com a ajuda de uma comadre dela, procurasse uma casa no Recife, encontraram essa casa e ela levou a família toda. E eu perguntei uma vez pra ela, eu não lembrava como foi: “Como que a senhora fez a logística dessa ida pro Recife?”. Ela disse: “Eu ia, eu sempre ia, eu não queria muito saber o que era, mas eu ia”. Aí eu descobri, ela falando, que ela era muito falando, todo mundo gostava muito dela, ela dizia logo o que queria, sabe, não tinha muito mistério. Então ela foi para uma loja de móveis, onde ela comprou alguns móveis quando chegou em Paulo Afonso, e descobriu que o caminhão dessa loja ia vazio pro Recife e voltava com os móveis. Ela disse: “Ele vai vazio, então eles levam a minha mudança”. E conversou com o dono, o dono era muito simpático com ela e conseguiu que ela levasse as coisas. E ela fez isso. A coisa que eu mais lembro é que minha mãe dizia assim pra mim: “Olha meu filho”, a gente foi de ônibus, “Quando vocês passarem por uma estátua, monumento, uma garrafa bem grande, uma garrafa imensa, não vão gritar no ônibus: ‘Olha a garrafa!’, vou ficar com vergonha, os meninos vão dar vexame, né? Isso é coisa que dá vexame, vão dizer que vocês são matuto”. Era a garrafa da Pitú, uma garrafa famosa lá no Recife. Pitú é uma aguardente que tem em Vitória de Santo Antão, que é uma cidadezinha, quando você vai chegando no Recife você passa por Vitória e passa por essa garrafa. Ela queria que a gente não fizesse escândalo quando passasse por essa garrafa. Pra que ela foi falar isso que a gente ficou a viagem toda esperando a garrafa (risos). Eu lembro bem que a primeira imagem quando a garrafa apareceu não teve dúvida, a gente fez a maior gritaria com a garrafa (risos). E ela: “Para! Eu não falei? Que menino doido, que menino danado!”. Chegamos e a gente se deparou com uma casa muito grande, ela conseguiu alugar uma casa grande no Recife. Era uma casa de quatro quartos, um quintal imenso, era uma mansão. Era uma casa pequena em Paulo Afonso e era uma mansão. Só fazendo um corte muito curioso, eu não lembro nada disso, mas minha mãe me contava isso com muita graça e com muita tragicomédia. Quando ela estava vindo de Sertânia pra Paulo Afonso, ela pediu para os familiares de Paulo Afonso que procurassem uma casa pra ela, e encontraram um casa pra ela. Era uma casa numa rua de puteiros. Encontraram uma casa no baixo meretrício, era uma casa baratinha, acharam que ela não teria condições de pagar e de manter aquela casa. E quando ela chegou lá viu que o movimento noturno era um movimento muito estranho. Batiam na porta da casa dela achando que era puteiro, ou seja, a rua da luz vermelha lá de Paulo Afonso. Ela disse: “Não posso criar meus filhos assim desse jeito, e o povo achando que eu sou puta e todo mundo batendo na porta. E a minha filha, como é que vai crescer aqui? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer?”, e ela começou a procurar outra casa por conta dela. E ela era, volto a dizer, uma pessoa muito despachada, muito honesta, muito guerreira, e ela conseguiu em questão de uma semana mudar de casa. Só que ela ficou amiga das putas. Ela disse: “Não tenho nada contra vocês, estou saindo, não é nada disso”. Ia levar bolo pra elas, sabe assim? (risos) O tempo que ela passou lá, ela passou amiga, só que ela não queria ficar confundida, nem que pensassem... ela contava essa história com muita graça. Eu não lembro nada disso, só lembro mais da outra casa, que foi a casa que ela se mudou.
P/1 – E que era uma casa pequena, essa outra?
R – Era uma casa pequena. Era uma casa, na verdade, pequena, mas ela era comprida. Aquelas casas que enganam pela fachada, você entra, vai lá, tem um quarto aqui, outro quarto aqui, eu lembro que eram uns três quartos, mas era mais estreita. E lá se deparava com um quintal. Lembro de muito calor também. Ah, e tem uma coisa que eu lembro também de Paulo Afonso, era uma coisa curiosa também. Paulo Afonso eu lembro mais, e lembro que eu quebrei o braço em Paulo Afonso. Esse braço aqui meu é quebrado até hoje, ele tem um barulhinho que ele faz aqui, descolado. E quebrei lá em Paulo Afonso. Eu estava em cima de uma mesa, aí caí dessa mesa e bati com o braço numa lata, lata de água que eles colocam um pau atravessando a lata pra você conseguir pegar, sabe? Tem a lata, aí você bate dois pregos aqui, aquela lata fica como um braço, como um suporte ali pra você levantar a lata.
P/1 – Uma alça, né?
R – Uma alça. E aí eu caí com esse braço nessa alça e quebrei o braço. Minha mãe chegou desesperada, ela não estava em casa, quando ela chegou eu já estava com o osso quase cortando a pele e ela lembra bem que ela começou a chorar, desesperada, e eu segurei o choro e disse: “Não chore” (risos). Ela disse: “O que é que esse menino?”, e eu não chorava que era para ela não chorar. E aí fui pro hospital, fiquei internado lá, porque era muito complicado, quase que eu perdi o braço porque ele estava já furando, foi uma coisa meio complicada, mas conseguiram resolver. Aí lembrei disso agora.
P/1 – Isso foi em Paulo Afonso?
R – Paulo Afonso.
P/1 – E aí depois vocês chegaram em Recife, essa casa era enorme.
R – Enorme. Tinha pé de jambo, duas goiabeiras na garagem, era muito grande. E ali ficamos. A minha mãe foi procurar escola. Curiosamente minha mãe se confundiu, ela matriculou a gente. Ah, só um detalhe: meu pai ficou em Paulo Afonso, ele precisava resolver umas coisinhas pendentes e ficou em Paulo Afonso um tempo, aí a gente foi para o Recife. E lá no Recife, o que eu ia falar meu Deus?
P/1 – Ela se confundiu e botou vocês numa escola...
R – Ela se confundiu e colocou a gente numa série a menos. É como se a gente tivesse que entrar na segunda série já, ela colocou na primeira de novo. E a gente era muito adiantado. Quando eu digo a gente era eu e o meu irmão colado a mim, o Manuel. E os professores elogiavam, a gente era muito estudioso. Aí tinha um certo momento que tinha umas matérias que a professora ia dando e a gente já sabia das matérias (risos). A professora desconfiou, foi ver e descobriu que era pra gente já estar matriculado na outra série.
P/1 – E vocês estudavam na mesma série, os dois?
R – Na mesma série. Aí minha mãe conversou com a professora, resolveram, e a professora falou: “Não, eles merecem”, conseguiram uma maneira da gente no meio do ano pular pra outra série, pra não perder um ano.
P/1 – E como era a escola? Vocês tinham amigos, você tinha algum momento que te foi marcante, diferente das outras que você conhecia, que você tinha estado em Paulo Afonso?
R – Essa escola foi o primeiro lugar em que eu ouvi falar de teatro. Era uma escola muito pequenininha, era muito pequena. Era uma escola, era muito pequena, era uma escola de quatro salas. Era quase particular, não lembro se era do governo ou se era uma escola particular, não lembro. Mas eu lembro que era uma escola pequena. E eu lembro de ter ouvido teatro lá em algum momento, não sei o que teatro ou se apresentaram naquela escola, alguma coisa, e eu fiquei muito encantado com isso. Quando eu fui pra outra escola, que era uma escola maior na mesma rua, essa era a escola do governo, a escola Alfredo Freyre onde eu fui estudar depois, a outra era Almirante Barroso. Quando eu fui estudar na Alfredo Freyre, a Alfredo Freyre já era maior, e tinha um curso de teatro, aulas de teatro. E eu já tinha ouvido falar na TV também, de um ator que eu gostava que eu não lembro qual era, que ele falou não sei o quê do teatro. Eu digo: “Nossa, isso é legal”, eu já tinha ouvido falar na outra escola, aí fui fazer aula de teatro, isso eu tinha nove anos. Eu mesmo, por minha conta, bati na porta da secretaria e procurei saber como fazia para entrar nessa escola de teatro. Aí disseram: “Olha, as aulas são segundas, quartas e sextas de manhã, mas você tem que ver se você tem aula de educação física”, eu tinha aula de educação física um dia, que eu detestava aula de educação física. Aí fizeram um acordo os professores lá, então quando estava fazendo teatro não fazia educação física, mas tinha que fazer em outras horas lá, educação física, outros momentos. Aí adorei teatro, fui fazer teatro com nove anos. Falei pra minha mãe que queria fazer teatro.
P/1 – Ela achou legal?
R – Teatro? O que é isso, meu filho? Ela foi falar com o professor e eu fui fazer teatro com nove anos de idade. Adorei, aí foi a minha vida ali, o teatro, dos nove aos 19. Uma professora chamada Ilza Cavalcante. E o que é mais curioso, essa escola Alfredo Freyre tem esse nome porque Alfredo Freyre era o pai do Gilberto Freyre, era um sociólogo tal, Casa Grande e Senzala. E aí o Alfredo Freyre já era falecido, mas o Gilberto Freyre era vivo. Então Gilberto Freyre ia uma vez por ano na escola, que ele ficava muito orgulhoso da escola ter o nome do pai dele, e sempre ele visitava no final do ano. E aí a gente se apresentava para o Gilberto Freyre. Eu lembro daquele senhor chegando de carro, de motorista, chegava, já um senhor, atravessava aquela escola toda, a escola toda parava. Aí ia pro pavilhão, que era esse salão onde tinha um palco, sentado e a gente se apresentava. Eu lembro de fazer poemas pra ele, de cumprimentá-lo. Mas o que mais me encantava era por que é que aquele homem era tão importante. Aí eu fui pesquisar e saber que ele era sociólogo, que escreveu uns livros e que escrevia no Diário de Pernambuco, aí fiquei fascinado. Já comecei a ficar fascinado por Manuel Bandeira, que com nove anos de idade pra dez eu descobri. No teatro descobri textos da Maria Clara Machado, de outros autores, que foram me encantando.
P/2 – Você viu os textos e você recitava no teatro?
R – O Gilberto Freyre, além da obra dele como sociólogo, ele tinha alguns poemas. E a gente fazia umas apresentações em cima de uns poemas dele, alguns trechos também do Casa Grande e Senzala. Mas eu lembro de um poema dele que dizia: “Este Brasil brasileiro”, Brasil não sei de quê, Brasil não sei de onde. Uma vez até o Antônio Abujamra recitou esse poema do Gilberto Freyre no programa dele, naquelas aberturas do Provocações. Então recitava um poema dele, a professora fazia uma dramaturgia, fazia umas colagens e a gente se apresentava. E o que mais me encantava era essa figura do escritor porque eu comecei a descobrir os escritores e quando eu devia ter uns, não vou lembrar a idade, 13, 14 anos, a professora passou um trabalho sobre José Lins do Rêgo pra gente trazer a biografia do José Lins do Rêgo, trazer algo sobre o José Lins, os livros dele, tal. Cada equipe ficou com um autor, a minha equipe ficou com o José Lins do Rêgo. Como eu já gostava de ler eu sabia que o Gilberto Freyre foi muito amigo do José Lins do Rêgo. Aí eu disse: “Eu vou fazer um trabalho diferente. Eu vou entrevistar o Gilberto Freyre sobre o José Lins do Rêgo, ele que fale sobre o José Lins, não eram amigos?”. Mas qual era esse meu pretexto? Só pra ir a casa dele pra saber onde é que aquele homem morava (risos). Eu tenho um pouco dessa minha mãe que era assim, vai pedir pro homem do caminhão pra levar os móveis, então eu era assim. Eu disse: “Gilberto Freyre vem sempre na escola, não custa nada a gente perguntar se ele dá uma entrevista pra gente” “Mas como é que você vai fazer?”, eu digo: “Vou descobrir, diz que ele fica lá na Fundação Joaquim Nabuco”. Então eu já sabia. Aí fomos um dia, a equipe, de ônibus, à Fundação Joaquim Nabuco pra falar com a secretária dele, a secretária achou bonito aqueles meninos jovens querendo uma entrevista, da escola do pai dele, que tinha essa história. E ele nos recebeu no escritório dele, marcou um dia e fomos, a equipe, no escritório de Gilberto Freyre. Eu tenho essa fita até hoje, a fita em que a gente faz algumas perguntas pra ele e ele fala do José Lins do Rêgo.
P/1 – E como foi a entrevista?
R – Recentemente eu até ouvi. Tem uns três anos que eu ouvi essa fita de novo pra saber se tem alguma revelação dele sobre o José Lins (risos), porque às vezes ele falou alguma coisa que a gente não compreendeu bem, né? Porque depois até tem um documentário do Walter Carvalho, não é do Walter Carvalho, é do irmão do Walter Carvalho, tem um documentário sobre o José Lins do Rêgo. E há uma discussão entre o José Lins do Rêgo e o Gilberto Freyre tiveram um caso e isso é levantado no filme, inclusive tem foto dos dois, é uma discussão que ficava à época. Porque o Gilberto Freyre de alguma forma adotou o José Lins do Rêgo quando ele estava chegando da Paraíba, no Recife, Pernambuco. Eu digo, vai nessa fita que ele fala um negócio ali, aí eu fui ouvir de novo (risos) por causa desse documentário.
P/1 – E aí?
R – Não notei nada ali muito suspeito (risos), mas eu tinha essa ousadia nesse sentido, de acreditar sempre que eu podia mesmo não podendo. Eu ia muito além. Então quando a professora ouviu um trabalho com a entrevista do Gilberto Freyre falando de José Lins do Rêgo foi dez com louvor. “Gilberto Freyre, o que esses meninos tiveram essa ideia”, porque os outros eram... na época não tinha internet pra pesquisar. E eu vim com... não era um perfil? O perfil que desse então o melhor amigo dele. E ela adorou. É uma pena que eu perdi isso por escrito, mas tenho essa entrevista.
P/2 – Você fazia alguma relação do nome, tipo Freyre e você ter o nome Freire?
R – Perguntamos pra ele, porque o Freyre dele é com y. E ele disse até: “Você é Freire”, e a gente contou um pouco, mas o Freyre dele não tem muita ligação com a minha família. Quem tem um pouco mais de ligação, mesmo sendo distante, é o Paulo Freire, o educador. Paulo Freire educador tem uma ligação com o mesmo ramo da minha família, mesma árvore. Mas Gilberto Freyre não, tanto é que tem uma coisa curiosa, quando eu comecei a assinar os meus primeiros textos como poeta, ou quando comecei a escrever peças de teatro, comecei a fazer teatro, eu disse: “Eu posso escrever essas peças de teatro, eu posso escrever também”, aí eu comecei a escrever os próprios textos, com 14 anos eu já tinha texto montado no Recife pelo grupo da escola. E aí eu comecei a assinar Freyre com y. E a maior alegria do mundo foi quando saiu uma nota no jornal dizendo dessa peça, O Reino dos Palhaços era o nome da peça, essa primeira que eu escrevi. E lá saiu Marcelino Freyre com y, comecei a assinar com y. Aí alguém perguntou: “Você é parente do Gilberto Freyre?”, quando eu me toquei. Eu digo: “Não, não sou parente de Gilberto Freyre. Eu sou filho de Antônio Juvêncio Freire e Maria do Carmo Freire, eu não sou y, eu sou i”. Aí eu deixei de assinar com y. Porque eu não queria ser confundido com um Freyre, que aí iam ficar me confundindo, digamos, com a assinatura mais rica da família (risos). Aí eu disse: “Que bobagem esse y”, aí desisti e comecei a assinar Marcelino Freire.
P/1 – Eu queria voltar um pouco. Que momento foi que você começou a descobrir os escritores, por que você começou a descobrir isso? Porque pelo que você conta na sua casa não tinha livros, como era? Como foi o momento, descreve essa descoberta.
R – As pessoas acham que pra se tornar escritor tem que ter livro, né? Não tinha água em casa, na verdade, se você pensar em sertão, na dificuldade toda, Paulo Afonso. Mas a insistência da minha mãe que pelo menos os mais novos estudassem a gente foi estudando mesmo lá na Chesf: “Meus filhos, abracem a oportunidade, estude, estude, estude”. Aí isso, no Recife, em um livro de um irmão meu, do Luís Freire que hoje mora no Rio de Janeiro, num livro dele que ele também foi um dos que estudaram, eu vi um poema, eu lembro que foi no livro dele, que eu ainda estava começando a escrever livro. No livro dele tinha um poema do Manuel Bandeira, um poema chamado Bicho. Eu cheguei no Recife com oito anos, devia ter oito pra nove anos, já lia umas coisas, era aplicado, sabe? Aí eu vi esse poema, O Bicho: “Vi ontem um bicho/ Na imundície do pátio/ Catando comida entre os detritos/ Quando achava alguma coisa/ Não examinava nem cheirava:/ Engolia com voracidade./ Esse bicho não era um cão./ Não era um gato./ Não era um rato./ Este bicho, meu Deus, era um homem”. Aí eu disse: “Esse bicho não é um gato? Esse bicho não é um rato?” Porque o poeta já está dizendo, esse bicho não era uma cão, não era um gato, não era um rato. Eu digo: “Esse bicho então é o Zé Colmeia? Esse bicho é um urubu?” Não, este bicho que catava comida no lixo era um homem”. Aí eu parei. Achei forte e achei bonito como ele construiu aquele texto, né, eu disse: “Nossa, eu quero ler mais poesia dele”. Pedi pra meu irmão, ele conseguiu um outro poema. Aí fui pedindo pra um, pedindo pra outro. Já na escola eu fui pedindo. “Por que é que esse menino está pedindo Manuel Bandeira pra cá e pra lá”. Eu consegui ler com dez anos a antologia poética dele, com 11. Eu lembro que enquanto meu irmão ia comprar outras coisas, com o dinheirinho mirrado ele ia comprar gibi num homem que vendia uns livros assim, no chão. Tinha a feira, sabe, tinha a feira e tinha um monte de coisa e tinha um cara que vendia um livro assim. Aí eu pegava a antologia do Drummond, eu pegava livro em vez de gibi. Lia o gibi dos meus irmãos, que ele já tinha comprado (risos), e eu lia Bandeira. Consegui a antologia poética do Manuel Bandeira. Mas antes eu lembro perfeitamente de uma segunda poesia que eu li dele, que eu não entendia na época o que era, mas que eu sentia aquilo. Era uma poesia dele chamava Testamento, que eu até li ontem no sarau, falei. A poesia dizia assim: “O que não tenho e desejo/ É o que melhor me enriquece.” Quando eu estava lendo eu entendia que eu desejava muita coisa, que eu não tinha nada. Na família um sacrifício danado, era um sacrifício. No Recife também, meus irmãos um pouquinho mais velhos tiveram de trabalhar, aquele sofrimento de família grande pra comer, pra vestir, pra estudar, pra se divertir. Aí eu entendia aquele poeta, que eu gostei daquele poema vem com isso assim: “O que não tem desejo é o que melhor me enriquece/ Tive uns dinheiros — perdi-os.../ Tive amores — esqueci-os./ Mas no maior desespero/ Rezei: ganhei essa prece./ Vi terras da minha terra./ Por outras terras andei./ Mas o que ficou marcado/ No meu olhar fatigado,/ Foram terras que inventei./ Gosto muito de crianças:/ Não tive um filho de meu./ Um filho!... Não foi de jeito.../ Mas trago dentro do peito/ Meu filho que não nasceu.” Essa parte pra mim foi fundamental: “Criou-me, desde eu menino/ Para arquiteto meu pai./ Foi-se-me um dia a saúde.../ Fiz-me arquiteto? Não pude!/ Sou poeta menor, perdoai!”. Perdoai, desculpa, perdoai, eu sou um poeta menor. Minha mãe disse: “Estude pra ser gente, estude pra ser gente”. Eu digo: “Eu sou um poeta menor”. Manuel, meu irmão, trabalhava muito bem com o meu pai porque ele entendia muito de troca de dinheiro, de dar troco, era um homem dos números, tanto é que ele é empresário hoje. Eu não, fui ajudar meu pai não sabia, não gostava de dinheiro, ficava lendo, totalmente aéreo. Aí quando eu li esse verso do Bandeira, ele parece que me traduziu assim, sabe? Eu disse: “Nossa, eu sou um poeta menor, eu vou querer ser um poeta” (risos). Aí comecei escrevendo como Bandeira, escrevendo uns versos, aí fui lendo outros poemas dele, aí me deparei com o movimento modernista. Fui ler Mário de Andrade, caí na melancolia do Mário de Andrade, São Paulo. Tanto é que o primeiro lugar que eu procurei aqui em São Paulo quando eu cheguei em 91 foi a casa do Mário de Andrade, que é a casa que tem na Barra Funda, que eu já conhecia, Rua Lopes Chaves. E tem uma coisa curiosa também: minha mãe, meu pai, meus irmãos um pouquinho mais velhos, eles começaram a fomentar também essa minha vontade de leitura, a minha e a do meu irmão. Embora meu irmão não gostasse de ler tanto, mas eles fomentavam o estudo. Tanto é que eles nos isolaram de tal maneira pra que pelo menos até uns 18, 19 anos a gente não precisasse trabalhar, esses mais novos. Então tinha aqueles vendedores de enciclopédia pela rua, minha mãe fazia um sacrifício que você não imagina, pra comprar a Barsa. E pra comprar uma que pra mim foi extraordinária, que era um livrão, Grandes Personagens da Nossa História. Uns livros grandes da Editora Abril, imensos. E lá com perfis ilustrados de várias pessoas da história do Brasil, de Pedro Alvares Cabral, José Bonifácio, Mário de Andrade, Monteiro Lobato. E quando me deparei com aqueles perfis do Mário de Andrade, do Monteiro Lobato eu fiquei. Rua Lopes Chaves. Os textos eram muito bem escritos e tinha o Monteiro Lobato também, a história do Monteiro Lobato toda. Aí o Monteiro Lobato, isso eu já morando no Recife, né? O Monteiro Lobato fez uma turma, ele chamou de Minarete, que era um grupo dele de amigos, jovens, que se encontravam nesse lugar que ele chamava Minarete, onde ele se reunia pra ler e pra publicar coisas. Aí o meu sonho começou assim: “Eu quero meu Minarete, eu quero fazer meu Minarete” (risos). Lá escola. E quando reunia uns amigos na garagem da minha casa, essa garagem que não tinha carro (risos) e ficava lendo uns poemas, umas coisas, então era sempre atrás da leitura, dos poetas, aí o teatro foi me ajudando muito. Acho que o teatro me ajudou a me comunicar melhor, a ter mais confiança, a começar a escrever mais. A professora também foi fomentando isso muito, aí foi trazendo outros textos da Clarice Lispector, assim foi entrando. Parece uma portazinha que você abre e que as pessoas vão, um vai falando do outro. A partir do Bandeira eu fui pro Mário de Andrade, aí Oswald de Andrade. Graciliano Ramos vem uma hora ali na Casa Nordestina, com Vidas Secas, aí eu me deparo com aquela literatura extraordinária. João Cabral. Aí vai, vai indo embora.
P/2 – Cordel rolou também?
R – Muito boa essa pergunta do Cordel pelo seguinte, o cordel foi uma influência muito dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos que viveram em Sertânia, eles conviveram muito com cordel, de feira. Aí o que acontece? Eu saio com três anos de idade pra Paulo Afonso, quando eu poderia ter um convívio maior de cordel em Paulo Afonso vem, digamos, a televisão, tem a TV. A TV é 1950, mas aí a casa, eu estou chegando em Paulo Afonso em 1970, Copa do Mundo, eu lembro também de um barulho que eu não entendia o que era na rua, 1970, três anos. De 1974 eu lembro um pouco mais da Copa de 74, onde a minha mãe já tinha uma televisão preto e branco, então aquela televisão pra mim com seriados como Durango Kid, ou que eu adorava, que era Viagem ao Fundo do Mar, adorava! Então eu sou da geração TV, uma geração que não acoplou muito a poesia popular. Eu lia os livros ali, muito pouquinho em Paulo Afonso, mais no Recife. Aí o que acontece? Chego no Recife, aí a TV já é, vamos comprar com todo sacrifício uma TV colorida, um pouquinho mais pra lá, aí já era TV colorida e tal. Aí o Recife já é mais urbano, então pra você ouvir a poesia de cordel você teria que ir um pouquinho, centralizasse um pouquinho. Onde que eu via o cordel? O meu irmão mais velho, apaixonado por isso, Juvêncio, sobretudo Juvêncio, ele comprava pra matar as saudades (risos), ele comprava uns discos de cantorias. Ele ia pra esses festivais de cordelistas, eram aquelas disputas de cordelistas e ele comprava aqueles discos e ouvia de manhã, de manhã seis horas da manhã, nénénénéné, e eu me irritava profundamente (risos) porque eu queria dormir e pra mim era aquilo que eu não entendia muito bem o que estava sendo falado. Entendia assim, ficava ta ta ta, então aquilo ali me perturbava um pouco, curiosamente. Depois quando eu fui me deparar com o quanto era belo aquele tipo de verso, e ele foi me explicando o improviso e eu fui me apaixonando por aquilo sem saber que aquilo iria me influenciar muito no que eu escrevo, o que eu escrevo é cordelizado, tem aqueles ruídos e aquelas falas. Falas herdadas de uma fala sertaneja do meu pai, dos meus tios, da minha mãe, mas sobretudo desses discos de cordel. Então o meu contato com o cordel foi por meio de uma mídia, já era um LP. Curioso, né? Mas eles já vivenciaram mais essa cantoria mesmo, in loco, na feira. Cordel como também vender na feira, pendurado. Aí ele começou a me dar uns cordéis, esse meu irmão, começou literatura de cordel. Aí a Chegada de Lampião no Inferno, os clássicos. Eu lia e gostava muito.
P/2 – Marcelino, eu não se eu estou maluco, mas eu tinha ouvido falar no filme que você tinha tido uma coisa que você não podia ir à rua brincar e você tinha descoberto uns livros.
R – Meu pai não gostava que a gente ficasse na rua. Ele não gostava de barulho, não gostava de algazarra na porta de casa. Ele já voltando de Paulo Afonso e já chegando pra morar com a gente no Recife. Então meu pai era uma figura, por exemplo, ele era o homem da rua que rasgava a bola, sabe? Sabe aquele homem da rua que rasga a bola? Cai no quintal e rasga a bola? Ele era um homem rodeado pela molecada (risos) e temido pela molecada porque ele fazia isso. E eu morria de vergonha porque eu achava ótimo bola, achava que os meninos tinham que se divertir, morria de vergonha que ele fizesse isso com a bola dos meninos. Aí por isso que a gente não jogava tanta bola, jogava mais bola de gude. Aí, claro, eu nunca tive esforço físico. Educação física eu troquei pelo teatro, e também enquanto meus irmãos aprendiam a dirigir, ou jogavam melhor futebol eu lia Manuel Bandeira, fui cada vez mais ficando isolado, combalido por aquele universo lírico, enfermo. Eu queria ficar muito doente, eu gostava de ficar doente porque eu achava que eu ia morrer cedo, os poetas todos morreram cedo, à exceção do Bandeira. O Bandeira com 16 anos descobriu que era tuberculoso, deram poucos meses de vida pra ele, ele morreu com 82 anos. Mas a poesia dele era uma poesia muito melancólica, muito fúnebre. Mas Castro Alves morreu com 24 anos, Augusto dos Anjos morreu jovem. Eu dizia: “Nossa, pra ser poeta tem que ser doente”, eu achava.
P/1 – Aí você queria, você gostava.
R – Eu queria, achava que ia morrer cedo, com vinte e poucos anos. Eu queria morrer jovem (risos). Queria não, eu achava que eu ia morrer. Aí comecei escrevendo umas poesias, participei de um grupo de poesias.
P/1 – Esse grupo de poesia, essas pessoas que você começou a compartilhar, de onde elas estavam?
R – Tudo de bairro.
P/1 – Tudo do bairro. Tinha pessoas assim, não era estranhíssimo.
R – Esse grupo de teatro foi fundamental. Ilza Cavalcante, essas pessoas que se juntaram ali pra fazer teatro. Na escola alguns colegas, mas eu fiz mais amizade com o pessoal que fez teatro comigo, até hoje a gente tem contato. Teatro agrupa, agrupa pessoas que querem. Tem alguns que se tornaram jornalistas, outros atores. Eu passeei muito pelos festivais de teatro no Recife. Como o meu grupo da escola participou de festivais, eu muito jovem ia participar dos festivais de teatro, teatro de bolso, como é que chamava aquele festival de teatro de bolso? TEBO, teatro de bolso. Aí era louco pra ganhar um prêmio com peça, melhor ator ou melhor peça. Eu participava dos festivais e assistia muito as outras peças. Então estava com 14 pra 15 anos circulando muito em festivais de teatro de noite. Como ia com professora, com o grupo, minha mãe deixava. Mas resultado, eu ficava encantando. Via peças adultas, peças de temáticas adultas, mas já estava fascinado pelos atores, pelos grupos. Escrevi uma peça adulta também. Eu não sabia por que eu chamava a atenção, mas claro, um menino com 14 anos ali no meio, assistindo a peça, assistindo a todas as peças, diziam: “Lá vem ele de novo” (risos). E eu assistindo a todas elas. E quando revelavam que eu era o autor da peça que participava do festival chamava a atenção também. “Você é o autor?”, olhava assim, um menino de 14, 15 anos. E me fascinava muito, eu queria muito ser ator. Mas descobri que tinha muito pudor pra ser ator. Muito pudor.
P/1 – Mas que tipo?
R – Muita vergonha. De uma diretora falar assim: “Olha, fique pelado”. Porque eu assisti a uma peça de Curitiba, não vou lembrar no nome da peça, em que todos os atores estavam pelados, todos. E não era essa Hair, não era nada disso, era uma peça. Uma outra muito boa, era muito boa a peça. Eu disse: “Eu não vou conseguir ficar nunca pelado”. Aí desisti, comecei a desistir em mim do teatro. Porque como escritor não tenho pudor nenhum, mas como ator (risos)... Se o diretor dissesse: “Tire a roupa”, ou se o diretor dissesse: “Dança, requebra aquilo”, eu não ia conseguir, tinha muito embaraço pra isso. Aí desisti.
P/1 – Mas quando você fez peças assim, você tinha alguma coisa que você gostava de estar no palco, tinha algum lado seu que curtia muito?
R – Gostava muito de dizer, de falar. Gostava muito de dizer poesia. De falar. Não gostava muito de personagem muito complicado, que tivesse que colocar peruca (risos), não gostava muito. Agora eu fiz muito palhaço em várias peças. E fazia sucesso, era engraçado, fazia um jeito, umas coisas que a criançada, todo mundo gostava muito. Eu fiz, inclusive, essa peça O Reino dos Palhaços que eu escrevi. Mas quando eu fui crescendo, aí descobrindo outros atores, eu disse: “Nossa, eu vou ficar muito limitado. Não dá pra ser limitado”, em qualquer arte, né? Aí eu fui desistindo. Mas o teatro nunca desistiu de mim, no sentido que hoje, quando eu escrevo meus contos, eu penso em teatro, penso em voz alta. Eu falo em voz alta os meus textos. Os meus textos eu escrevo para oferecer para o outro e o teatro tem muito isso, o ator faz aquela fala, processa aquilo lá, estuda aquilo, para oferecer para o outro. E quando eu escrevo, eu escrevo pensando teatro querendo oferecer esse texto para o outro. Então todos os meus contos são muito influenciados pelo teatro. Meu romance é a história de um dramaturgo, ele também é bom de falar, eu tenho muito essa coisa da fala, da oralidade e da teatralidade. Aí o teatro meio que até hoje me influencia. E muitos grupos de teatro até hoje, do Recife, de outros lugares, aqui de São Paulo, eles me procuram pra levar os meus contos pro palco, porque reconhecem ali isso. Aí eu fico super feliz porque é um sonho antigo pra mim, que sobe ao palco no corpo de outros atores, com menos pudor (risos).
P/2 – Você lembra se você falava algum poema seu nessa época? Você lembra de algum poema seu que você falava nessa época?
R – Não lembro, os poemas antigos assim eu não lembro. Eu lembro que eu tinha uns poemas curtinhos. Deixa eu tentar lembrar. Ah, é de um tempo antigo esse. “Mataram um salva-vidas”. Só isso (risos).
P/2 – Nossa, que é a maior sacada mesmo, né? (risos)
R – Tinha um que era assim: “Deitada na pia/ uma barata fazia/ fisioterapia”. Que a barata fica assim com as perninhas (risos). Mas são coisas antiguinhas. Acho que o primeiro poema que eu escrevi, eu não vou lembrar dele, mas era uma coisa do tipo: “Homem cresceu, sabe-se apenas que cresceu”, não sei o que lá, não sei o que lá. “Está pensando seriamente em furar o céu”, tem alguma coisa assim. Antigo, isso eu devia ter uns nove anos. Eu achava bonito: “É, vai furar o céu. Vai crescer tanto que vai furar o céu” (risos). Mas não lembro. Eu comecei escrevendo pra teatro também, e outras poesias minhas. Tinha umas coisas que eram assim, “Que o tomate te mate/ Que a batata te bata”, umas coisas que eu escrevi muito pequeno.
P/2 – E quando era mais criança tu usava mais brincadeira com a palavra.
R – Sempre, gostava muito disso. Agora um conto meu que é um conto que escrevi com 19 anos, ainda no Recife, 19 anos deixa de ser jovem, e antigo já que eu estou com 48, é um conto que abre o livro Angu de Sangue. Angu de Sangue foi o meu primeiro livro por uma editora. Mas esse conto Muribeca eu escrevi com 19 anos pensando no Lixão da Muribeca. Muribeca é um bairro do Recife, tem um lixão da cidade lá e eu queria escrever um conto sobre o lixão e um conto que dissesse alguma coisa que ninguém ainda tivesse dito sobre isto. Já tinha visto vários filmes. Aí é a Muribeca, que aí eu comecei a dizer bastante na época. Não vou lembrar ele todo, mas é assim: “Lixo?/ Lixo serve pra tudo/ A gente encontra a mobília da casa/ cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar, sentar./ Lixo pra poder ter sofá costurado, cama, colchão/ Até televisão./ É a vida da gente o lixão/. E por que é que agora querem tirar ele da gente?/ O que é que eu vou dizer pras crianças?/ Que não tem mais brinquedo?/ Que acabou o calçado?/ Que não tem mais história, livro, desenho?/ E o meu marido, o que vai fazer?/ Nada?/ Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas?/ Vai perambular pela rua, roubar pra comer?/ E o que eu vou cozinhar agora?/ Com que dinheiro vou fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa?/ Fa fa fa fale o que a gente vai fazer da vida? O que a gente vai fazer da vida?/ Nem remédio pra dor de cabeça tem/”. É a fala dessa mulher, dessa Muribeca, desse lugar. Que é muito influenciado pela fala da minha mãe também, uma fala muito pra fora. Era uma mulher que falava muito, batia muita panela e falava muito. Os meus personagens batem essa panela e fala, fala, fala. “Nunca, nunquinha que eu vesti um vestido longo./ Sempre nuazinha/ com a tabaquinha de fora”. Tem essas mulheres que falam, que dizem, que contam. Muito presente por essa fala, né? E por esse teatro também, muito exagerado pra ter essa palavra dramática à frente. É isso.
P/2 – E o amor, Marcelino? Como foi?
R – Tem sido (risos). O amor. É engraçado, lá no grupo de teatro, muito jovem, eu me deparo com outras formações amorosas, porque era pai, era mãe, aquelas coisas. E aí eu me deparo evidentemente com amigos maravilhosos, gays. Evaldo, tinha o Evaldo Costa que era uma figura extraordinária. E uma figura que também tem a minha idade, uma figura que já desenhava e já fazia figurino. E eu achava muito bonito aquilo. Eu não fui apaixonado por Evaldo, nunca tivemos nada, mas me abriu uma possibilidade de desejo que eu não dizia: “Nossa, isso aí pode? Que ótimo!” (risos). E minha primeira grande paixão na verdade, acho que eu devia ter uns 16. Foi por um rapaz que eu conheci no trabalho. Com 16 não, 17. Que eu comecei a trabalhar aos 17 anos num banco. Só abrindo um parênteses. Aquela coisa de trabalhar, trabalhar, precisa trabalhar, eu e o meu irmão fizemos um teste num banco pra ser office-boy e passamos nesse teste, fomos trabalhar como office-boy num banco importante, o Banorte, Banco Nacional do Norte, um banco particular. Comecei a trabalhar como office-boy e como eles descobriram que meu teste foi muito bom de português e redação eles me mandaram pro Departamento de Normas, que era o lugar onde eram escritas as circulares do banco, onde eram escritos os normativos e tinha uma área toda que fazia revisão desses textos. Eles me mandaram pra ser office-boy lá porque era uma maneira de eu crescer no banco, já que eu gostava de escrever. Aí trabalhei como office-boy, depois como escriturário e depois como revisor de textos.
P/1 – Muito tempo no banco você ficou?
R – Eu trabalhei no banco uns cinco anos. Fui office-boy durante muito pouco tempo, aí eles já me promoveram pra área escriturária, e de escriturário eu fui promovido para revisor, revisava os textos. E eu já ia me tornar chefe de seção, o banco demitiu um monte de gente e eu ia ser chefe do setor de revisão, mas aí curiosamente quando eu fui sendo promovido a ser chefe de setor eu disse que não queria o banco, eu queria literatura, eu estava muito cansado, que eu estava fazendo faculdade de Letras e não estava gostando, queria uma mudança e se eu escolhesse ser chefe de setor eu achava que eu ia fazer uma profissão no banco, uma carreira. E eu não chegava em casa e dizia: “Vou pedir demissão”. Não, eu mesmo decidi, aí fiz um acordo com o banco, aí cheguei em casa e disse: “Eu vou deixar o banco”. Minha mãe: “Meu Deus do céu! O que esse menino vai fazer?”, eu digo: “Olhe, todo o meu dinheiro do FGTS eu vou dar pra vocês”. Dei uma parte, fiquei com outra e fui conhecer os escritores da cidade. Eu disse: “Olha, se eu estou escrevendo aqui no Recife, quem está escrevendo na mesma época que eu?”. Por coincidência, quando eu deixei o banco, na outra semana o Raimundo Carreiro, um escritor muito conhecido em Pernambuco, ia começar uma turma de oficina literária no Recife. Eu vi no jornal, aí eu disse: “Eu vou fazer a oficina dele porque é uma maneira de eu conhecer os escritores e de ver”, já estava escrevendo meus primeiros contos.
P/1 – Isso você estava com?
R – Isso tava... cheguei aqui com 23, eu estava com 18, 19. Não, pera aí.
P/1 – 22?
R – Não, foi antes então. Vamos dizer que eu comecei no banco com 16... não, 21 é muito. Porque eu comecei na oficina do Carreiro, quando eu comecei a oficina do Carreiro... eu cheguei aqui em São Paulo com 24 anos. Comecei a do Carreiro com 19. Tem uma confusãozinha.
P/1 – Só para eu entender. Nesse processo você terminou a escola, enquanto você entrou no banco também na escola?
R – Isso.
P/1 – E no teatro?
R – Isso.
P/1 – Então você fazia tudo isso?
R – Fazia tudo isso. Escola, trabalhava no banco.
P/1 – Como você fazia tudo isso? Me explica bem objetivamente.
R – Vamos lá, lembrar. Eu trabalhava no banco durante o dia até a tarde e fazia escola técnica à noite. Fazia o segundo ano à noite.
P/1 – E o teatro?
R – O teatro aí fazia... ah, mas nessa época, deixa eu lembrar. Nessa época do banco era mais final de semana porque eu estava já produzindo uma peça, já não estava como ator. Na escola eu fiz dos nove anos até os 18. Não, tem uma confusão aí. Porque eu deixei a escola Alfredo Freyre para fazer o ensino técnico que era equivalente ao curso técnico de segundo ano e terceiro ano. No terceiro ano eu fiz Artes Gráficas, em escola pública também. Nesse segundo e terceiro ano ainda estava trabalhando no banco, não estava fazendo mais teatro na escola, estava produzindo, produzi uma peça com o meu irmão Luís Freire, não vou lembrar o ano, a peça se chamava A Menina Que Queria Dançar. Trabalhei no banco, talvez não tenha trabalhado no banco tanto tempo, acho que essa é a minha confusão, não são cinco anos.
P/1 – Talvez três.
R – Uns três ou quatro. Aí fui fazer a oficina do Carreiro. Quando terminei a oficina do Carreiro ainda passei um tempo Recife, aí foi quando eu vim pra São Paulo.
P/1 – E você fazia Letras também?
R – Do curso técnico eu fui fazer Letras na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Durante esse curso de Letras eu desisti do curso, eu não fiz até o final, acho que fiz só dois anos e pouco do curso.
P/1 – E esse curso te serviu, foi interessante?
R – É porque eu me cansei, achava que o curso era legal, quando eu vi os professores, uma exceção ou outra, um professor muito bom, mas na outra já não levava mais caderno nem livro. Respondendo a tua pergunta, nesse período do trabalho eu conheci o Renato, que ele veio trabalhar comigo, eu era escriturário, ele veio ser office-boy. Nós só éramos amigos, depois a gente foi de alguma forma criando um amor em convívio.
P/1 – Que aí você se apaixonou por ele.
R – Sim, foi. Aí ele vem embora pra São Paulo. Porque na verdade ele era pernambucano, a família veio morar em São Paulo. Depois ele voltou pra São Paulo com a família, foi nessa época que ele foi trabalhar no banco. Depois ele sozinho veio morar, ele tem umas irmãs aqui e ele veio morar em São Paulo. Não vou lembrar o período, mas foi um período muito difícil porque a gente se gostava muito, mas teve uma separação horrível. Quem me convidou pra vir pra São Paulo? Ele.
P/1 – Agora só pra voltar. Antes você se apaixonou por ele, largou e foi fazer oficina literária. Explica na sua família, como é que foi? Você morava na casa dos seus pais.
R – Morava na casa dos meus pais.
P/1 – Com seus irmãos.
R – É.
P/1 – Ou eles não tinham o menor conhecimento dessa sua vida.
R – Não, não tinham o menor conhecimento. Até porque também eu nunca falei pra eles. Que acho que não precisa falar. Eu acho assim, eu ia falar pra minha mãe e pro meu pai e dizer: “Meus pais”. Pra quê? O que eles poderiam me ajudar, em quê? Sabe quem me ajudou sempre em tudo? Os artistas. Os escritores. Pra qualquer coisa que minha mãe falasse ou meu pai falasse eu tinha um Jean Genet. Pra qualquer coisa que meu cunhado falava que tinha uma Clarice Lispector, eu tinha uma Virginia Woolf, eles que eram meus alicerces nesse sentido. Então nunca também deixei de falar, olha que coisa curiosa, nunca deixei de contestar, nunca deixei de falar coisas que eram fora daquilo, daquela, vamos dizer, uma vez meu pai chegou pra mim e disse: “Você, com essa coisa de ficar fazendo teatro e vem esse Evaldo”, que era meu amigo só. Vinha o Evaldo me pegar de bicicleta pra gente ir pra praia em Olinda, juntos, e o Evaldo era afeminado, chamava muito mais a atenção e aí meu pai ficou perturbado porque os vizinhos começaram a perguntar pra ele: “Como é que é isso?”. Meu pai chegou: “Olha, quero falar com você. Esse negócio de você sair pra praia com esse viado”. Eu disse: “Ele é meu amigo”. Aquilo pra mim não atingia, ele é meu amigo. “Mas não sei o que lá” “Ele é meu amigo. O senhor não tem os amigos do senhor?”, e citava o nome dos amigos dele. “Ele é meu amigo e o senhor vai ter que respeitar os meus amigos, do jeito que eles são”. Aí no outro dia estava com a bicicleta e ia pra praia. A gente de alguma forma vai educando os pais, né? Nunca deixei de falar as coisas, já dei muitas entrevistas, inclusive no Recife, inclusive no teatro. Já dei muitas entrevistas, falei muitas coisas. Na verdade, a minha família é que não assume (risos). Não assume que sabe.
P/1 – Você não falou assim, olhando no olho?
R – Pra dizer o quê? Já falei em conversas em que sentido, contesta um, contesta outro. O que você tem contra os viados, ou então, aquela história da família: “Quando você vai trazer a namorada?”, aquelas coisas.
P/1 – Aí você respondia o quê?
R – “Quando você vai trazer a namorada?” “Não sei. Não sei se a minha namorada vai ter licença do quartel pra vir” (risos). “Quartel?! Ela trabalha no quartel?!”, eu digo: “É”. Ou então alguma coisa do tipo, sabe? Sei lá. Eu me divertia, tinha uma coisa que eles falavam que eu dizia assim, em outra ocasião: “E a namorada, onde é que está?”, eu digo: “No seminário”, eu só colocava lugar que homem visitava (risos), no seminário, no quartel, saía de perto. Meu irmão, tenho um irmão homossexual, o Luís Freire, ele é carnavalesco, esse do Rio de Janeiro.
P/1 – Ele é carnavalesco no Rio?
R – Foi uma pessoa muito importante também. Foi uma das primeiras pessoas, que ele era mais velho, foi uma das primeiras pessoas que teve namorado, sabe, e que a família também... as coisas, né? A família sabe, mas nem toca no assunto.
P/1 – Mas você viu isso, você sabia?
R – Eu já via, acompanhava, inclusive eu era um grande companheiro dele de confissão, de conversa, de aconselhar, acompanhar. E meu irmão tem uma coisa extraordinária que eu ainda vou escrever sobre ele, que ele era uma figura... Ele é, mas naquela época ele começou a desfilar no carnaval e ele começou a ganhar muitos carnavais no Recife. Ele era meio Clóvis Bornay, ele tem o título de hors concours no carnaval pernambucano, ninguém ganhava dele nas fantasias que ele fazia, de originalidade, de brilho, de luxo. E no carnaval a minha família toda, a casa toda era tomada por adereços de carnaval, por penas, plumas, e ele pra vestir a fantasia, a fantasia ficava imensa, ele tinha que ir pro meio da rua pra testar a fantasia. Pense, na periferia de Água Fria, que eu morei nesse bairro de Água Fria, é um dos últimos bairros do Recife, colando ao Fundão. É assim, Água Fria, Fundão e depois vem o primeiro bairro de Olinda, cola com Olinda esse bairro em que eu morei. Então todo mundo da rua, era o dia que ele ia testar (risos). Essa inserção, tinha um momento que ele vestia, tinha uma fantasia dele que ele... ah, quem dava os temas, só pra cortar, quem dava os temas para as fantasias dele era eu. Em que sentido? As pessoas colocavam muita coisa sem noção. Tem muito assim, o chinês do dragão da luta do chinês do dragão, não sei de quê. Não tem um negócio assim?
P/1 – É.
R – E aí eu colocava literatura. O primeiro grande prêmio que ele ganhou de carnaval era O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Ele fez o Dom Quixote, ele fez Morte e Vida Deolinda, que Deolinda era uma sem-terra que morreu numa dessas batalhas aí, desses enfrentamentos, aí eu disse: “Faz Morte e Vida Deolinda, que você já vai estar falando dos sem-terra, vai estar fazendo a referência ao João Cabral”, então eu era meio que um consultor, jogava sempre literatura. Camões, ele fez o Camões. Então eu acompanhava ele. Gostava muito dessa inserção de uma casa careta, ou preconceituosa, ou meio mais ríspida, quando a casa toda se reunia pra torcer por ele, pra ele ganhar um prêmio de carnaval. Na sala de casa era todo mundo reunido, inclusive meu pai sertanejo: “Por que é que ele não ganhou? Ele tinha que ganhar!”, sabe umas coisas assim? (risos) E isso era extraordinário pra mim, isso tudo, e feito sem muita crise, mas educando aos poucos aquela família pras diferenças. Desde quando meu pai me proibiu de ir pra praia com o Evaldo que eu continuava indo, pra ele entender que ele era meu amigo, que ele tinha que respeitar. E também, curiosamente, quando eu vim pra São Paulo quem me acolheu de última hora em São Paulo foi Ivan Cabral, que não é o do Sátiros. O Ivan Cabral é um amigo que já até retornou para o Recife e que era um amigo que eu fiz na escola técnica e que me visitou várias vezes em casa, mas era assim, muito afeminado, muito, quase uma mulher, e que era um grande amigo meu que eu levava em casa pra almoçar, pra jantar e que eu não tinha também nada com ele. Era um querido amigo e que a família recebia porque sabia que era eu que estava trazendo e que eles tinham de respeitar, isso já ficou na paisagem saber que as plumas que tomavam conta no carnaval do meu irmão, ou os amigos que eu trazia, as pessoas com quem eu convivia, eles tinham que respeitar. E quem me acudiu na hora que eu mais precisei? O Ivan Cabral, que já estava morando em São Paulo. E isso também foi uma reviravolta na família, quem já tinha um olhar meio avesso para o Ivan, quem me acolheu foi ele.
P/1 – Entender essa chegada. O Renato veio pra cá e você estava lá em Recife.
R – Sim. Aí o Renato me colocou pilha para eu vir pra São Paulo, ele queria muito que eu viesse.
P/1 – Vocês namoravam?
R – Não era namorado assumido porque era difícil pro Renato, na verdade (risos). Mas tinha esse convívio, essa relação.
P/1 – E ele veio pra cá por quê, por causa da família?
R – Ele veio pra cá porque ele queria, ele não se conformou em ter voltado pra Pernambuco, ele gostava mesmo de São Paulo, ele achava que ele poderia conquistar mais coisas aqui. Ele era pernambucano e foi morar em São Paulo. Quando teve que voltar para Pernambuco, porque o pai dele meio que faliu aqui, mas ele ficou ainda com São Paulo. Pegou meio que na adolescência, voltou. Mas aí ele não acreditava que eu viesse, na verdade.
P/1 – E você veio mobilizado por ele?
R – Sim, sim. Mas ele não acreditou que eu viesse, eu percebi e eu percebi que ele vai dar pra trás.
P/1 – Quando você chegou?
R – Não, eu já estava percebendo antes. Eu já estava percebendo porque estou na véspera da viagem e a pessoa desaparece? Não era época que você tinha internet, facilidade de falar com alguma pessoa por telefone. Aí eu já percebia. Aí ele ficava na casa das irmãs, difícil, irmã com filho, aquelas coisas de gay. Só que eu não falava nada pra minha casa, estava tudo certo. “Onde é que você vai ficar?” “Com meu amigo”. Na casa do meu amigo que desapareceu, não dá notícia, 15 dias não dá notícia. Eu disse: “Quando ele der notícias eu já tenho lugar pra ficar”. Foi quando eu lembrei do Ivan, fazia tempo que eu não via o Ivan, ele tinha vindo morar aqui. Aí procurei a família dele em Olinda, e aí conversando com a família consegui o contato dele, mandei um telegrama: “Me liga a cobrar”, ele me ligou, aí eu contei num horário ali pra ele, se minha mãe soubesse, né? Ele disse: “Venha”. Aí quando o Renato me ligou eu digo: “Olha, já tenho um amigo”. Aí parece que ele deu uma acalmada, sabe? “Ainda bem, porque não tem como ficar na casa da minha irmã”. Eu vim, o Ivan estava me esperando, um outro amigo meu que morava aqui, o Jorge, e aí eu fui morar com o Ivan, no Jardim Aricanduva, na Rua Luiz Gonzaga. Eu lembro que eu vi: “Eita, fui para na Rua Luiz Gonzaga”. No Jardim Aricanduva. E o Ivan dividiu comigo o que ele não tinha.
P/1 – O Ivan fazia o quê?
R – Ele era estilista. Trabalhava muito desenhando roupas para o Brás, todas essas lojas do Brás. Muito talentoso, muito querido. E a casa era uma cozinha, uma sala e um quarto. Sem janela. E ficava no fundo de uma outra casa, uma edícula. Quando chovia entrava água dentro de casa. E foi lá que ele me acolheu durante, acho que eu fiquei lá um ano mais ou menos. Cheguei em 1991. Depois o Ivan mudou pra Guaianazes. Eu fui ainda, passei um mês morando em Guaianazes. Mas nessa época eu já estava trabalhando porque eu procurava emprego. Tem essa coisa muito curiosa, que quando eu cheguei em São Paulo eu procurava emprego como revisor em agência de propaganda e em editora. Agência de propaganda diziam que pagava bem e eu procurava. Eu só procurava emprego na Avenida Paulista (risos) porque era a única avenida que eu conhecia e tinha um negócio, a Avenida Paulista é onde tudo acontece, e onde está perto de teatro e perto do centro, eu digo: “De longe eu já vim, eu tenho que estar perto de onde as coisas acontecem”. De longe eu já vim, então quero ficar perto. Então eu só procurava na Avenida Paulista (risos), editora e agência pra poder ficar perto do teatro, eu sabia que tinha a Brigadeiro Luís Antônio, que tinha o metrô. E consegui, na Avenida Paulista, trabalhar na agência de propraganda, a Almap/BBDO, comecei trabalhando lá em 91. Eu cheguei aqui em julho, em setembro eu já estava trabalhando na agência como revisor. Fiquei lá 13 anos como revisor de textos. Trabalhei muito, trabalhava muito. Era o único revisor, revisando texto, catálogo de carro, rótulo de água mineral, tudo tem que passar por mim para eu ler e aprovar. Era um trabalho. Agora como eu fazia? Pra cada rótulo de água mineral que eu lia eu escrevia um conto, que era pra não perder o sonho, né? Eu dizia: “Pra cada água mineral é um conto, pra cada catálogo de carro é um conto”, então eu sempre estava escrevendo. Enquanto eles iam consertar os acertos que eu determinava, eles estavam lá fazendo os acertos e eu escrevendo um conto. Então quando chegava aquele rótulo de água mineral, pra mim não era nada aquilo lá, eu já estava comprometido era com a trajetória do meu personagem, saber o que ia acontecer. Aquilo da água mineral pra mim não era nada.
P/1 – Porque você passava o dia inteiro lá.
R – Era o dia inteiro.
P/1 – E não tinha computador, né?
R – Quando eu cheguei, em 91, era uma máquina de escrever. Como eles sabiam, olhe que coisa doida isso, como o cara que fez a entrevista comigo sabia que eu gostava de escrever, ele chegou na minha sala e disse: “Providenciei pra ti uma máquina de datilografia. Aqui ninguém usa, já que você é escritor”. Olha isso. Era o querido Bira Borges, já falecido. Que me entrevistou, que me contratou e que me deu essa...
P/1 – E ele te contratou por quê?
R – Você sabia que eu gostava sempre de entregar o currículo pessoalmente, deixar o currículo pra mim era perder o currículo. Gostava de conversar, saber quem era a pessoa que recebia o currículo. E nesse sentido eu batia em várias portas, já estava desesperado, todo dia eu procurava emprego, todo dia. Olha que coisa curiosa, eu vim com três cartas de apresentação pra São Paulo, três cartas. De um grande amigo no Recife que me mandou uma carta para um diretor de marketing da Sherwin-Williams, tinha um outro que mandou uma carta para um médico muito conhecido aqui. E o Wilson Freire que me mandou para uma médica querida dele. Carta de apresentação assim: “Olha, recebe”. Duas cartas escritas e uma falada, indicada, para ver se eu poderia fazer. Eu lembro que eu cheguei no dia 13 de julho de 1991, eu vim de ônibus para economizar dinheiro. A minha família já tinha feito uma cotinha para eu poder vir de avião. Eu falei: “Não, me dê dinheiro que eu quero ir de ônibus”. Vim de ônibus. Saí no dia 11 de julho de 1991, cheguei no dia 13 de julho de 1991, sábado. Na segunda-feira eu fui pra minha primeira carta de apresentação, que já tinha marcado antes com o médico. Ele disse: “Quando chegar em São Paulo me ligue”, eu liguei, ele marcou na segunda-feira. Era um médico muito conhecido aqui, era médico do Pelé, umas coisas assim, Eduardo Cunha, acho, o nome dele. Muito simpático, foi um cara muito generoso. Isso foi de manhã, numa segunda-feira, ele ligou e disse: “Carlos, você pode receber esse rapaz, não sei o quê, ele escreve” “Posso receber”. Na terça-feira eu já estava na sala do Carlos Alberto Nóbrega, da Praça é a Nossa, do SBT. Foi muito atencioso comigo, mas ele perguntava assim: “Você escreve então” “Escrevo” “Ah, mas você já escreve”, aí dizia o que eu escrevia. “Mas você já escreve muita coisa, normalmente a gente não tem um cargo de redator, porque você tem que ser um redator”. Eu digo: “Não, pode ser qualquer coisa, ajudante de redator”, porque eu queria era trabalhar. Mas ele ficou com essa coisa: “Ah você vai ser o redator”, ficou com isso. E eu digo: “Caramba, eu quero qualquer coisa, não preciso ser o redator”. Mas ele me recebeu muito bem. Evidentemente muita gente passa, ele não vai nem lembrar dessa coisa. Mas que foi muito marcante pra mim no segundo dia já estar no SBT, nos bastidores de uma TV grande era muito curioso. Nenhuma dessas cartas vingaram, no entanto a minha persistência de ir procurando, procurando, procurando.
P/1 – Você fazia como para procurar?
R – Ah, eu pegava um catálogo telefônico, ia lá: “Agência de propaganda”.
P/1 – Pela letra a, assim?
R – Era agência de propaganda, eu ia lá, via os endereços que tinha lá na Paulista e imediações e procurava. E editora.
P/1 – Você pegava aquele endereço, você batia direto na porta?
R – Eu ia lá com o currículo, perguntava onde é que entregava o currículo, dizia: “Quem é que recebe o currículo?” “É no décimo andar que você entrega o currículo”. Eu chegava na recepcionista e dizia para a recepcionista: “Boa tarde. Quem é que recebe currículo aqui?”, ela dizia: “Pode deixar aqui” “Não, mas como é o nome da pessoa pra ligar depois?” “É Fulana” “Ah, mas ela não está?”. Dizia está ou não está. Quando ela estava eu deixava. Aí no caso do Bira Borges, ele estava. Ela disse: “Olha, ele disse que você pode ir lá na sala”. Aí eu fui lá conversar com ele. Mas era só pra entregar, saber e dizer, até mais dizendo que acabei de chegar. Ele disse: “Você teve alguma experiência em agência?”, eu disse: “Não”, eles tinham revisão, aí tinha isso, né? Ele disse: “Tá, se surgir a oportunidade eu te falo”. Isso aconteceu também no Círculo do Livro, eu quase que trabalho no Círculo do Livro. Lembra do Círculo do Livro? Que eu já quando gostava, lá trabalhando em Recife eu recebia, eu era um dos que faziam parte da clientela do Círculo do Livro. Eu procurei o Círculo do Livro. Era na Ministro Rocha Azevedo, era uma travessa...
P/1 – Perto da Avenida Paulista.
R – É. Procurei, fiz teste, passei lá. Quando eles me chamaram pra trabalhar lá eu já estava fazendo exame médico pra entrar na Almap. Eu digo: “Ah, já exame médico”, a Almap pagava um pouco melhor, aí eu comecei trabalhando lá, nessa agência de propaganda.
P/1 – Ele falou que ia te chamar e ele te chamou.
R – O que acontece? Ele não me falou, mas eles estavam sem revisor há um tempo. Eles estavam fazendo um teste pra saber se os redatores conseguiam fazer revisão. Os redatores não conseguiam, redator é redator, olhar pra revisão é uma coisa. Então estava saindo muitos erros, os clientes estavam reclamando muito. Ele fez várias entrevistas, ele foi depois me chamou e chamou outros que tinham deixado o currículo pra entrevistas. Ubirajara Borges. E aí me chamou para uma entrevista: “Estou te chamando para uma entrevista agora mais calmo, tem teste”. Tinha um teste lá que você fazia. Depois mais adianta ele me ligou: “Você está contratado, vai passar três meses de experiência e depois vocês contratam definitivamente”. Aí me contrataram definitivamente e eu trabalhei lá 13 anos. Eu participei de saraus, fiz saraus e jornais de poesia quando eu morava no Recife. Participei de um grupo chamado Poetas Humanos, até mostrei, trouxe uma foto dele lá, na escada. Participei muito do movimento de poesia lá. Olha que coisa curiosa também, que coisa louca. Quando eu trabalhava no banco Banorte como escriturário e depois como revisor, ao lado do Banorte tinha uma gráfica, Gráfica Apipucos, que era do Banorte, que imprimia todo o material do banco, todos os impressos do banco. Gráfica, impressos, não tenha dúvida, foi lá onde eu fiz os jornais de poesia, pedia pro pessoal, ia atrás de quem podia me ajudar. Aí descobri: “Ah não, a gente faz, a gente faz com jornal que sobrou”. Eu sempre disse o que eu queria, é bom, é importante você dizer o que você deseja, o que quer, pra depois não ficar com aquilo encalacrado. Colocar não na boca dos outros, eu nunca fiz isso. Eu lembro que nessa fase que eu deixei de ser ator eu disse: “Eu vou produzir uma peça”. Aí comecei a produzir uma peça chamada “A menina que queria dançar”, produzi com esse meu irmão Luís Freire. A atriz dessa peça era a Patrícia França, que depois veio a se tornar conhecida na Globo e agora está na Globo de novo.
P/1 – A jornalista?
R – Não, ela é atriz. Ela fez Renascer, fez Teresa Batista Cansada de Guerra. Ela voltou pra Globo agora. Eu fiz essa peça pra ela, pra Patrícia França. Ela estava com 14 anos quando ela fez essa peça. Eu imprimi os programas da peça na Gráfica Apipucos. E quando eu produzi essa peça eu queria apresentar essa peça no principal teatro da cidade, Teatro de Santa Isabel. O pessoal dizia: “Teatro de Santa Isabel? Nunca que eles vão dar pauta para um grupo da periferia, que é isso, você está louco. Teatro de Santa Isabel?”, digo: “Eu não perguntei pra eles”. O que eu era? Eu era um ótimo datilógrafo, fiz um projeto impecável. Na gráfica mandei imprimir umas coisinhas e tal, pedi a um fotógrafo pra tirar umas fotos. Eles ficaram encantados com o projeto e tivemos uma temporada vitoriosíssima no principal teatro da cidade. É aquela coisa, quando eu procurava na Paulista, procurava nesses lugares era porque eu dizia (risos). “Eu venho pra São Paulo e vou ficar distante, que eu sei que diz que São Paulo tem lugar que passa quatro horas pra você chegar”. Eu morava longe, mas eu queria estar perto de teatro, eu queria sair do trabalho e ir prum teatro. Tanto é que eu fui para o Teatro Oficina. Tanto é que eu fui fazer oficina de literatura assim que eu cheguei na Casa Mário de Andrade ali na Barra Funda. Por quê? Eu pegava o metrô na Paulista e ia direto pra Barra Funda e depois voltava para o Jardim Aricanduva. Então, o tempo inteiro eu me colocava desafios assim, porque se eu me sentisse menor como de fato eu era, vou usar até uma, mais menor eu ficaria. Então eu queria o que eu não podia, porque eu acreditava que eu poderia, mesmo não podendo. Como eu faço a Balada Literária? É esse mesmo espírito. Balada Literária que é esse evento que vai pra décima edição esse ano, eu faço a duras batalhas, como a minha mãe que pegou o caminhão, como eu que cheguei e procurava agência só no lugar mais central, ou mesmo o rapaz que produzia uma peça, A Menina Que Queria Dançar, no principal teatro da cidade. O menino que vai fazer entrevista com o Gilberto Freyre. Se eu me sentia menor eu tinha tudo pra ser, de fato, tudo menor, tudo inacessível, não é para mim aquilo. Não, é pra mim aquilo (risos). Eu quero aquilo, eu quero. Eu quero o que eu desejo, o que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu queria o que eu desejava. Em São Paulo o Renato não me aguardou. O Renato tinha uma coisa curiosa que era, já no Recife quando ele tinha emoções muito fortes ou ficava muito na expectativa, muito ansioso, os olhos dele inchavam, de uma hora pra outra inchavam e passava dois dias para desinchar, tinha que colocar soro e tal. Ele não foi me esperar na rodoviária, só encontrei com ele dias depois, lá pra frente, porque de tanta ansiedade, de tanto sofrimento, os olhos dele incharam (risos). Não tinha nem como ir lá me aguardar. Mas eu já sabia, na verdade, disso.
P/1 – E você sofreu?
R – Ah, eu sofri na verdade porque São Paulo me mostrou uma realidade muito urgente. Se eu vinha com um desejo de lutarmos juntos eu já senti antes de vir que essa luta não seria junto. Porque não é que eu sou mobilizado pra vir e 15 dias eu não sei, e aí eu resolvo. Como se aqui, então... então já tirei da possibilidade, não que vivêssemos uma história junto, mas que eu não poderia depender dessa força. Então já tirei. E tirar isso foi muito difícil, tirar essa possibilidade de construção juntos, ou de apoio mútuo foi muito difícil. Então eu tive que tirar isso pra mim, até sofre-se, não há dúvida, mas eu precisava viver, enfrentar. E São Paulo me deu forças que eu julgava que não tivesse e também realidades que eu achava que seriam tão diferentes, né? Eu achava que seria diferente, aí eu venho a São Paulo com toda a sua força motriz e eu ter que enfrentar aquilo. E aí ficou mais fácil, aí qual foi a minha realidade? Ir pra quem não estava na história, que era o Ivan, numa edícula, que quando chovia, é isso que tem. Vou ficar sempre aqui? Não. Não, mas essa ponte que me foi oferecida, a ela eu devo toda a minha gratidão até hoje, ao Ivan. E o que eu ia falar? Sim, quando eu procurava esses trabalhos eu procurava e não consultava Renato que estava procurando isso, não. Eu vou resolver e vou criar esse meu caminho. E criar esse caminho sozinho, uma coisa que você acreditava que fosse mais fácil junto, esse junto não existe, vamos então enfrentar (risos) sozinho.
P/1 – Você lembra assim, vamos pensar você saía, acordar de manhã. São Paulo é duro, né? Ir até o lugar. E essa decepção de alguma maneira amorosa junto, né?
R – Junto. Tudo isso junto.
P/1 – Como era quando você acordava de manhã, o que você sentia ou era no fim do dia? Em que momento que batia aquele...
R – Era de manhãzinha porque Ivan saía pra trabalhar muito cedo, ele trabalhava no Brás, então ficava eu ali. Eu não poderia dormir. Deixa eu dizer só a primeira sensação, logo quando eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei na casa do Ivan já sabia que o Renato não ia, já sabia que não existia isso. Um frio, 13 de julho, frio danado, pra mim, nunca saí do Recife. Saí do Recife pra outras capitais do Nordeste, mas nunca pro frio extremo, uma cidade imensa, chovendo, atravessar toda a Zona Leste e chegar na casa do Ivan. A casa do Ivan, fechou a porta escuridão total, né? Não tinha janela. Me recebeu com um almoço maravilhoso, eu lembro bem, cozinhava bem, me recebeu ali com feijão (risos), galinha (risos). Conversamos muito e eu fui dormir. Quando eu acordei achava que estava em casa, Recife, barulho da casa. Barulho da casa, eu ouvi o barulho da casa, ouvi a minha mãe na cozinha, ouvia o barulho da casa. Claro, nunca tinha... pense, 24 anos num lugar e naquele barulho, naquela fala. Quando eu acordei era escuro ainda, não era de manhã ainda e eu: “Oxe, cadê o povo?” (risos), não tinha nada. Eu olhei assim, onde é que eu estou. O Ivan encolhido ali num frio da porra. Aí eu digo: “É, não tem mais”. E eu digo o seguinte: “Caminho só vai pra frente, caminho só vai pra frente”. Eu não tinha essa: “Ah, eu vou voltar”. Deu banzo, não era nem saudade, deu um momento que foi banzo, muita saudades. De coisa que eu julgava que nem tinha saudade. Saudade de uma infância, nem sabia que eu tinha uma infância, que eu tinha uma casa. Não sabia que eu tinha um barulho, não sabia que eu não tinha uma memória. Tudo isso São Paulo me deu. São Paulo me deu. São Paulo me deu sotaque, eu não sabia que eu tinha sotaque. Que quando eu falava todo mundo dizia: “De onde você é?”, então isso não era costumeiro no Recife. Então eu tive que dar respostas que eu nunca havia dado. Havia dado é boa, né? (risos) Respostas, posturas e afirmações. Afirmações. Sou de Sertânia. Afirmações, por mais cruel: “Estou sozinho nessa porra”. E também: “Tenho um grande amigo Ivan”. Eu perdi uma e ganhei outra, né? “Não tenho uma casa”. E ajudei Ivan até onde eu pude, dele ter um pouco mais de conforto. Aí quando segunda-feira Ivan vai trabalhar, eu tinha as cartas de apresentação que eu falei, fui atrás disso. Aí isso vai minando.
P/1 – Não vai rolando.
R – Não vai rolando. Eu digo, quem me falou de agência de propaganda foi um dos que me deram a carta, agência de propaganda. Eu fui lá no catálogo telefônico e ia procurar. Tem um senhor, me lembrei disso agora, catálogo telefônico. Tem um senhor da Sherwin-Williams, não vou lembrar o nome dele, que ficava em São Bernardo. Sherwin-Williams é uma marca de tinta e ele era gerente de marketing, um senhor muito simpático. Contou a história dele toda para mim e ele, é isso que eu ia lembrar, ele que me deu umas folhas do catálogo telefônico, folhas. Ele disse: “Olha, a Sherwin-Williams ainda não tem, eu vou ficar atento. Mas ó”, ele cortou com uma tesoura uma agência de propaganda, cortou com a tesoura umas editoras e disse: “Vai, vai ligando. E vai me ligando também porque se rolar aqui eu também”. E aí eu ia. Eu também peguei o catálogo do Ivan procurando outros, até que eu liguei uma época pra esse senhor e disse pra ele, foi a primeira ligação que eu fiz: “Eu estou te ligando da agência de propaganda” “Você conseguiu! Que maravilha!!!” Era um espanhol que tinha vivido aqui, sofrido muito. “Nossa, eu já estava aqui também vendo umas coisas”, ele foi muito generoso, sabe, uma conversa boa com ele. Dois imigrantes. Aí comecei a trabalhar na agência de propaganda em setembro. Tem um diálogo que é extraordinário, eu ia fazendo esses contatos, procurando esses empregos. Ah, a sensação que eu tinha quando acordava de manhã: “Tenho que fazer alguma coisa, aqui eu não fico”. Teve um dia que o Ivan queria ajeitar a casa, eu digo: “Ivan, amanhã eu ajeito a casa”, então ficava às vezes ali ouvindo uma música, ajeitando a casa. Aquele dia que eu estava cansado de procurar, mas a maioria era assim. Qual é o meu próximo passo? Ah, não tem nada? Vai pra rua. Vai pra rua. Vai procurar naquele telefone, vai numa agência de emprego, faz o inferno, o que for, sai. O sair é movimento, é milagroso, né? Então às vezes eu estava depois de tudo, ligava para uma agência e dizia: “Amanhã, amanhã não tem, já fui pra tudo quanto é agência. O que eu vou fazer? Ah, vou ver aquela”. Olhava uma, ia. Às vezes também ia pro cinema, dizia: “Vou pro cinema e de lá eu vejo um teatro”. Aí também, teatro, dizia: “Vou nas bocas do teatro pra ver se alguém está precisando, algumas vezes está lá precisa-se de...” Teatro é uma paixão minha. Fui lá para o teatro que tem perto, o Teatro Rui Barbosa, o Ágora, tinha o teatro do Oficina, então eu parava. E ia ligando. “Tem alguma resposta?”, essas coisas. Agora a sensação era de muito frio. Eu pegava um ônibus até Vila Carrão, na Vila Carrão pegava o metrô. Encontrava o Renato à noite.
P/1 – Ah, então vocês continuaram.
R – A gente continuava se encontrando. Ele trabalhava num banco, o Banorte, ele fez a transferência pro Banorte. Ah, mas eu lembro desse diálogo que foi o seguinte. E o Renato ia perguntando. Eu já sabia que não poderia contar, ele ficava perguntando: “Não, eu tenho visto”, mas não dizia: “Tenho visto, Fulano ficou de me dar uma resposta”, nada disso. “Eu tenho visto”. Aí ele dizia assim: “Eita, vixi maria, se demorar muito você vai, é capaz até de ter de voltar pra lá”. Eu dizia: “Voltar? Nunca! Nunca”. Meu caminho só vai pra frente, eu não tenho essa. Vou voltar, só se voltar outro, mas voltar não. E esse sacrifício da porra eu não ligava pra minha mãe porque tinha aquela coisa de ligar todo domingo, escrever. Eu não ligava pra dizer nada ruim, era tudo: “Não, está indo, está caminhando”, nada. A vida é minha, eu não tenho que estar preocupando os outros. Às vezes não tinha, quando eu comecei a trabalhar e às vezes passava uns sufocos, o dinheiro dela estava certo, estava lá na conta, que eu mandava dinheiro pra minha mãe desde do primeiro salário, então às vezes dava contado. “Tá tudo bem?” “Tá tudo excelente”. Não estava tudo excelente, mas por que está tudo ruim? Por que eu vou dizer a ela que está tudo ruim? A vida, não escolhi o meu caminho, a vida não é minha? Eu que tenho que resolver pra ficar boa, não eles. Perturbar uma pessoa não sei quantos quilômetros? Aí eu lembro que quando eu estava certíssimo de que eu iria trabalhar, começar na segunda-feira na agência de propaganda eu encontrei com o Renato no domingo à noite e por essas coincidências da vida a gente foi comer, fazer um lanche, era um McDonald’s que tem ali na Brigadeiro, antigo, que não é mais um McDonald’s, era um que ficava perto da Brigadeiro, hoje parece que é um banco Santander. Aí ficava esse restaurante, a janela, dava pra ver o prédio em que eu iria trabalhar, é o 688 esse prédio. Quando eu passo lá, é o 688, fica na Paulista quase na esquina da Brigadeiro. Era onde a Almap ficava, depois a Almap/BBDO foi pro Morumbi. Aí eu estava comendo com o Renato e eu ia finalmente contar pra ele que eu ia começar a trabalhar, ele não estava sabendo de nada. Ele disse: “Ah Marcelino, eu vim com uma ideia pra ti”. Isso era o quê? Eu cheguei no dia 13 de julho, isso era setembro, eu comecei a trabalhar no dia 16 de setembro, dois meses quase. Ele disse: “Vim com uma ideia pra ti” “Qual é a ideia?” “Você é um cara muito inteligente, Marcelino, você escreve. Por exemplo, se você começar a trabalhar como garçom vão descobrir que você é muito inteligente e você pode ter condições de crescer nesse lugar, como garçom”. Eu disse: “Mas Renato, eu não tenho nenhuma habilidade, não tenho nada contra o garçom, eu faço o que for, eu não tenho tempo ruim pra mim, mas eu não tenho habilidade nenhuma, vou quebrar todos os copos. Não tenho habilidade pra anotar pedido, vou derrubar tudo, eu não tenho habilidade manual, um horror. Mas antes de você prosseguir com a sua ideia, eu já vou começar a trabalhar na segunda-feira, naquele prédio ali. Vou trabalhar como revisor dia 16 de setembro” (risos). E comecei a trabalhar.
P/2 – Mas você já sabia que ia trabalhar ou previu?
R – Não, eu já sabia. Tem uma coisa também, muito louca também mais adiante lá. O Renato é uma figura extraordinária, ele é muito sensível pra música, tocava saxofone e foi com quem eu descobri muitos cantores que eu não conhecia. Era um menino muito jovem, ele é dois anos mais jovem do que eu e ele entendia tudo de jazz, Joan Baez, mesmo o Bob Dylan, que era casado com a Joan Baez. Mesmo João Gilberto nos seus discos clássicos, quem me apresentou tudo isso foi o Renato, tinha coleções de disco de vinil. E eu era literatura, então houve um casamento. O Renato tinha esse passeio indefinido, tanto é que ele depois casou, tem filhos e tudo hoje, e que eu acompanhei, acompanhei o nascimento de um filho, a gente...
P/1 – Ficaram amigos.
R – Ficamos amigos e tudo. Conheci a esposa dele. Mas é a pessoa que está ali naquela coisa vai pra outra... é natural, depois então a gente percebe. Mas o que eu não entendia era essa força minada, minada pra ele também porque ele tem muito talento, poderia ter acreditado, ou ter feito isso, mas enfim, pra cada rótulo de água mineral um conto, sabe essas coisas? A cidade vinha toda me provocando, me pisando e eu tinha que encontrar forças. Quando eu chegava, daqui a pouco eu vou até a história dos vinis, mas quando eu chegava pra entregar o currículo, que você me perguntou, sabe qual era o meu refúgio nesses lugares todos? Era o elevador. O elevador é ótimo. Eu entrava no elevador, era onde eu dizia: “Puta que pariu, que bosta”, era onde eu me desarmava. Quando eu entrava no elevador, antes de sair dele. Antes de sair dele eu estava destruído: “Vou entregar mais um currículo, puta merda, o tempo passando”. Abria o elevador e eu (risos). Abria o elevador: “Onde é que entrega o currículo” e o que foi. “Ah, não temos vagas hoje” “Não, não tem problema” “Nem ligue porque não vai ter” “Então obrigado pela atenção”. Abria o elevador (risos), encontrava forças. Não podia cair, a queda era minha e eu tinha que ter forças pra enfrentar as outras coisas de cabeça erguida e sempre com muita força, né? E eu estava falando dos discos, o Renato depois passa por uma crise, sai do banco, filho e essas coisas todas e fazia muito tempo que não o via. Cheguei a ajudá-lo, inclusive, em revisão, ele era muito inteligente, lia bastante, me ajudou em algumas revisões uma época que ele estava meio... E depois eu não o encontrei mais. Onde que eu o encontro depois de muito tempo, olha que coisa doida. Onde que eu encontro depois de muito tempo? O Renato. Estou eu na Paulista, um tempo já na agência, estou indo na Paulista para aquele Cine Belas Artes, finalmente reabriram, mas eu ainda sou da fase do primeiro. E quando tinha a Livraria Belas Artes. Lembra? O nosso caminho era ir para o cinema Belas Artes, parar na Livraria Belas Artes, que depois eu vim a publicar um livro por conta própria, que a gente vê nos próximos capítulos, e que eu me tornei best-seller da Belas Artes. Um livro meu EraODito, que eu mesmo fiz, ele virou best-seller da Belas Artes. Quem conta isso em entrevista é o José Luiz.
P/1 - Jose Luiz Goldfarb.
R – Ele conta isso. Ele disse que duas pessoas que enfrentaram a fila de vendedor de livro, que tem uma fila dos vendedores de livro que iam de manhã na Belas Artes e em outras livrarias, se for hoje ainda tem. Eles fazem uma fila, tem agendado ali os horários pra apresentar o catálogo da editora. E eu ia por conta própria minha, um livro que eu publiquei por conta própria, eu ia na fila e ficava esperando o vendedor da Saraiva, aí eu ia lá, essa mesma historinha do menino do Teatro de Santa Isabel. Eu ia lá e o Zé Luiz barbudão: “Qual é o seu livro?", eu digo: “Esse livro eu mesmo fiz”. Aí ele olhou e disse: “Eu gostei desse livro. Nossa, isso aqui é bom, vai vender. Me dê dez”. Aí eu dei dez. Ele me ligou dois dias depois: “Traga mais dez!”, e depois: “Traga mais 20!”, depois: “Traga mais 30!” (risos). Foi vendendo o danado do livro. E que também vendeu muito na Livraria Cultura, na Ática Shopping Cultural que ainda era... foi um livro que vendeu, o pessoal gostava de dar de presente. Em resumo, ele disse que na fila dele duas pessoas passaram por aquela fila: Paulo Coelho e eu (risos). O Paulo Coelho virou um milionário, eu digo: “Tá vendo a diferença da escolha de qual literatura você vai fazer?” (risos) E ele sempre lembra de mim e conta essa história. Depois eu vim ganhar o Jabuti dado pelas mãos dele. Contos Negreiros. Então, aquela livraria tinha essa história. Quando eu estava indo em direção a Belas Artes eu vejo discos no chão extraordinários. Eu digo: “Nossa, esses discos de vinil, olha, bem cuidados, umas raridades”. Quando eu olho, quem que está vendendo disco? Renato. Ele sofreu um aperreio e os discos, a única coisa era se livrar da maior paixão dele que eram os discos de vinil, era a única coisa que ele poderia ter uma renda mais rápida. E aqueles discos, que a gente se conheceu muito por causa dos discos, a gente se aproximou muito por causa desses discos que ele me apresentou no Recife, que zelava de tal maneira que pra tocar um disco daquele, pra pegar nele, não arranhar, aquelas coisas. Que coisa de doido. Aí vocês me perguntam. Vejo isso como vingança? Olho isso com um olhar de vingança, olhar de bem feito? Não, eu vejo isso como escolhas, como escolhas que você faz na vida, né? Tanto é que eu ajudei, ainda depois a gente se encontrou, ainda fez outras revisões, fazia tempo que não via, nunca teve esse... mas escolhas, escolhas de vida, por parte de sacrifício que você possa usar, por mais sacrifício que ele passasse, por mais olho inchado que ele tivesse, ele não poderia ter deixado de ir aquele nível que chegou, não poderia. Se eu estivesse com o pé quebrado eu ia com o pé quebrado, eu ia inventar o diabo, eu ia com enfermeiro, eu ia com tubo de oxigênio, mas eu não abandono ninguém. Eu acho que seria muito sintomático pra trajetória da vida dele e da minha. Abram uma gaveta, é muita coisa, porque isso viximaria, ainda tem nossa...
P/2 – Nossa, que legal.
P/1 – Pegue um texto então que tenha a ver.
R – Deixa eu ver um que tenha a ver, aliás, todos têm a ver com essas coisas. Vou ler um pequenininho, curtinho. Pode fazer uma?
P/1 – Sim, pode.
R - O meu pai no final da vida dele, ele morreu com 84 anos, mas ele estava muito caduco, perdendo muito a noção das coisas, saía pelado na rua (risos), aquela coisa, sabe? Não chegava a sair pelado, mas mijava na porta de casa, ele que era um homem, imagina, completamente preocupado com essas coisas e tudo. E eu vi, dessas minhas viagens de visita pro Recife vi um momento em que ele estava muito debilitado e a minha mãe contratou uma cuidadora, uma outra pessoa pra cuidar dele. E era um momento em que estava dando banho no meu pai. Ele não estava conseguindo tomar banho sozinho. Não é o meu pai, não é o meu pai mas é a partir de uma fala da minha mãe. Foi isso, era minha mãe contratando essa cuidadora, tentando ver quem é que poderia cuidar dele. Não é o meu pai, não é a minha mãe, mas é a fala que ficou. “Acompanhante”. “Sujar ele se suja/ Mas não se preocupe/ Há um cinturão de fraldas/ Um nó gordo que segura/ Para não escorrer na poltrona/ Melecar a parede da sala/ Um dia até no teto ele deixou uma manchinha pendurada/ Feito uma criança que voa/ Cuidado para ele não comer bosta à toa/ Coitado!/ O que é a idade?/ Ave!/ Você precisava ver como ele era./ Eis a fotografia./ Quem diria? Era? Ou? Não? Era? Outra? Pessoa? Minha? Filha?/ Sopa de ervilhas ele adora/ É preciso saber cozinhar/ Tudo o que ele for engolir aconselho triturar/ Mole/ Mole/ Coisa dura nem pensar/ Nada de dentadura/ Digo assim/ Na hora de almoçar/ Papar/ Periga ele se engasgar como numa certa vez/ Os dentes foram sugados/ E a outra menina teve de puxar/ Lá de dentro/ Ele já quase morrendo/ Roxo/ Eis aqui/ O copo é este/ Desde muito tempo/ Ele só bebe neste copinho/ Que bonitinho!/ Da! Cor! Que! Ele! Gosta! Minha./ Filha./ Cinzento!/ O banheiro é este./ A banheira é esta./ Você vai ter de acompanhar./ Pode lavar a cara e as costas./ Esfregar./ Esfregar./ Esfregar./ Nem pense em economizar./ Vá fundo./ Só não deixe o esqueleto pular muito./ O sabonete naufragar./ Cair./ O xampu entrar nos olhos./ Porque ele começa a gritar./ A espernear./ A mijar feito um afogado./ Quem ouve pensa./ Estão matando o que já está morto./ Salvem o coitado!/ Aquele alvoroço./ Como se a gente tivesse coragem de esganá-lo./ Que pecado!/ Minha. Filha./ O? Que? Passa? Pelo? Coração? Deste? Povo?/ Ah! Para dormir não dá trabalho./ É só contar uma história./ Ajudar o diabo a rezar./ Se quiser pode até cantar uma cantiga de ninar./ Antiga./ Que ele aprova./ Vou ser sincera./ O problema é quando ele acorda./ Por causa de um pesadelo./ Uma saudade./ Algum desejo que ficou./ Sei lá./ Adormecido./ Ele perde o juízo./ Baba./ Espuma./ Vai querer você bem perto./ Pertinho./ Ele tira a roupa./ Feito um debilóide./ O pobrezinho./ Mas veja./ Não é nada muito sério./ Ele só se sente sozinho./ Deite-se com ele./ Minha. Filha./ Não há perigo./ O. Velho. Só. Precisa. De. Um. Pouco. De. Carinho.”. Muito. Obrigado. Boa. Tarde. (risos).
FINAL DA ENTREVISTA
Recolher