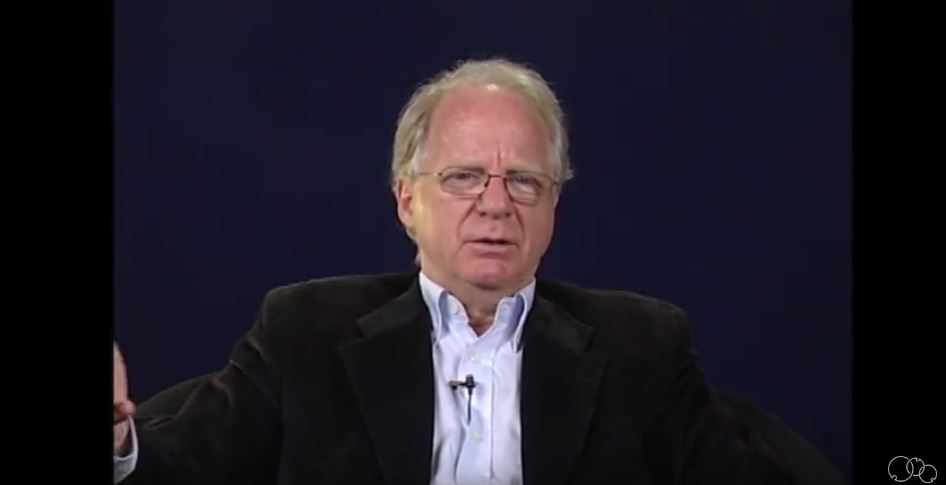P/1 – Eu ia começar do início mesmo, Nise, era para você dizer o dia, o local e a data do seu nascimento.
R – Nasci em Maringá. Maringá no Paraná. No meio de uma terra vermelha, não tinha ainda asfalto, então a cidade era no meio do barro, da terra vermelha. Mas com muita natureza. Uma natureza muito pujante, com florestas subtropicais e ainda sendo muito desbravada essa região, com muita agricultura. E o meu pai, ele tinha vindo do Japão, ele era japonês. Ele veio aos 27 anos, trabalhando no Banco de Tóquio, e ele era de uma família muito tradicional japonesa, então desde os samurais, nobres, até toda essa área... Tinha médicos, juiz e é uma área militar muito forte. Tanto é que o meu avô, ele ficou dois anos na Inglaterra e foi quem trouxe toda aviação pro Japão, então ele era considerado assim, o cabeça da força aérea da marinha japonesa. E o meu tio avô, ele era almirante - como esse meu avô mesmo faleceu, ele faleceu numa situação que os assessores dele tinham resolvido bombardear o Imperador. E eu não sei exatamente o porquê, circunstâncias, mas no fim ele acabou sendo arrolado no meio, depois o Imperador achou que ele não tinha culpa, então também fez todo um processo. E ele tá lá nos livros de História. E o meu pai, depois da guerra, tendo todos os problemas que o Japão tinha, ele resolveu ir pro Brasil. Então...
P/1 – Ele veio pro Brasil mais ou menos em 1900 e?
R – Pois é, eu vou ter alguma dificuldade. Depois ou tenho que achar as datas para vocês. Porque foram 27 anos de idade, e isso acho que em 1950 e alguma coisa. Porque eu nasci em 59. Então ele tinha chegado acho que em 57, 56, por aí...
P/1 – Quer dizer, ele passou a guerra no Japão...
R – Isso. Ele passou a guerra no Japão, passou fome, a escola onde ele estava foi bombardeada. E ele tinha saído um dia antes. Então assim, a subsistência foi muito difícil, ao mesmo tempo ele era muito sistemático. Ele que tinha economizado dinheiro, na época, e foi quem conseguiu sustentar um pouco a família quando eles vieram de volta da China, onde eles estavam. Então foi uma vida muito interessante, porque ele era muito alegre, muito comunicativo, mas falava um português péssimo. E ele foi ter aulas com a minha mãe, em duas semanas eles noivaram e em dois meses eles casaram. E aí um ano depois eu nasci. Então foi super tcham tcham tcham e a minha mãe tinha 21 anos.
P/1 – E a sua mãe tinha nascido no Brasil?
R – Minha mãe era filha de imigrantes no Brasil. Até o meu avô chegou a ser preso, por causa daquela questão dos japoneses que não acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, então teve uma tentativa de insurgência dos japoneses contra aqueles que não acreditavam. E meu avô tinha uma pensão e alguns se alojavam lá, então foi toda uma confusão dessa época. E a minha mãe, ela nasceu no Brasil e foi educada no Brasil com toda a questão da literatura brasileira, a música clássica, óperas, porque alguns pensionistas eram muito eruditos, ensinavam-na. E ela declamava poesias, então toda essa área do português propriamente dito eu herdei da minha mãe. E a parte da comunicação, do empreendedor, o meu pai tinha aí um lado muito forte assim, na vontade de fazer. Muito alegre. E eu nasci em Maringá, onde eu vivi até os 14 anos de idade. E quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu me rebelei contra toda cultura japonesa, eu achava um absurdo aquela hierarquia toda, que você não tivesse como criança nenhuma opinião, então eu queria saber o porquê do porquê do porquê. E em casa era assim, o porquê. Se é porque eu quero, então não existia.
P/1 – Você tinha outros irmãos?
R – Eu tinha. Tinha mais quatro irmãos. Então eu era a mais velha, um outro irmão que fez medicina, um outro irmão que foi morar no Japão, ele foi educado no Japão, fez administração lá, mora em Tóquio até hoje. Uma irmã que mora em Zurique e a outra que ficou fora dez anos e que voltou ano passado. Então nós somos cinco, mas espalhados pelo mundo. E agora somos três aqui em São Paulo. E o meu pai faleceu quando eu tinha 23 anos de idade, então ele morreu aos 49 anos de idade em um acidente de carro. Foi uma coisa bastante súbita. E a minha mãe já era professora nessa época em que ela o conheceu, ela era professora do primário, do jardim. Aí depois ela fez a faculdade de Letras, ele achou que ela devia fazer faculdade, depois ele a colocou na pós-graduação, então ela foi fazer pós-graduação em Florianópolis. Ela fez uma tese de mestrado No papel do infinito no Grande Sertão: Veredas.
P/1 – Nossa.
R – Do Guimarães Rosa. E eu ajudava, tinha 14 para 15 anos, eu ajudava a decodificar as histórias do Grande Sertão: Veredas, à luz da filosofia. Porque aos 14 eu fui morar em Curitiba. Em Curitiba eu tive acesso a toda uma vertente filosófica, hinduísta, budista, rosacruz. E eu tinha amigos com quem eu discutia muita filosofia, eu lia muito, eu lia tanto na biblioteca quanto na livraria, quanto uns livros que um amigo meu, que era monge da Vedanta, me emprestava. Ele passava o dia inteiro lendo. Ele tinha uma floricultura, então ele ficava lá lendo. Aí nós íamos lá pelas cinco discutir o que é que o Jandir tinha lido. E eu e o Toni Luna, que era na época Recepções Públicas da Ordem Rosacruz, e tinha sido mestre, nós ficávamos discutindo todas as filosofias. Aí eu escolhi os livros que eu ia ler. Depois nós saímos para ver todos os tipos de tratamentos alternativos que existiam em Curitiba e eles me traziam de volta para a casa umas oito e meia, nove horas, me deixavam lá e eu ficava. Eu na época já fazia Matemática e Física à parte, eu fazia Inglês também. Além disso, ainda dava aulas particulares, voluntárias para uma amiga de 35 anos que fazia supletivo. Então dez e meia da noite ela ia para casa e eu ficava dando aula de Matemática, Física, Química e até agora fui dar uma aula em Curitiba, fui na casa dela e da mãe dela que tem 89 anos. E eu sempre fui muito amada pelas pessoas, sempre cuidaram de mim de alguma maneira, porque aos 14 anos, você morando sozinha, numa cidade....
P/1 – É, então. Vamos voltar só nesse período que você falou que você se rebelou. Então eu queria que você explicasse um pouco prá gente assim...
R - O que é que foi essa rebelião...
P/1 – O que era essa educação japonesa e contra qual você se rebelou.
R – A minha casa era assim: ela seguia muito os rituais japoneses. Então nós não usávamos sapatos dentro de casa, nós tomávamos banho de ofurô onde os mais velhos entravam antes, depois as crianças, até o menorzinho. Você toma banho fora, depois entra numa tina que aquecia com carvão ou lenha. Então era um ritual onde cada um tomava um banho, mas era bem japonês, sabe? A comida, a maioria era japonesa, e comíamos arroz, feijão e outras coisas. Assim, da cultura brasileira, ou mineira, tinha uma cozinheira mineira fantástica que contava as histórias de cobras, histórias da noite lá mineira, de assombração. E então eu tinha uma cultura híbrida, em casa ela era muito rígida, meu pai conversava pouco, ele era muito ausente e quando ele vinha, era tratado como um rei. Então nós levávamos o jornal, levávamos o chinelo para ele, fazer umas massagens nos ombros, nas pernas. A minha mãe trazia um chá, conversava com ele. E criança não tinha a vez. Então eu tocava piano desde os cinco anos de idade, apresentava nas festas, nas reuniões, mas assim, aquela participação não existia. E eu observava que os meus amiguinhos, os vizinhos, abraçavam os pais, que tinham outro tipo de relacionamento, que discutiam as coisas, e eu queria os mesmos direitos. Então eu comecei a questionar a questão da cultura japonesa e ainda tinha um outro aspecto, que era a cultura homem e mulher. Então a mulher, ela tinha que lavar louça, tinha que arrumar as coisas. Na família japonesa, em geral a mulher come por último e é a primeira a se levantar. Nas estruturas medievais tinha até um degrauzinho onde os homens comem em um degrau acima e as mulheres comem em um degrau abaixo. Isso na minha casa não existia tanto porque a minha mãe era muito independente, ela era uma japonesa com alma espanhola. Pela cultura, pelo fato dela ser professora, enfim, ela era muito ativa. Mas mantinha-se um ritual onde o homem era muito importante dentro de casa.
P/1 – Mesmo entre os irmãos, por exemplo?
R – Mesmo entre os irmãos. Então eu tinha mais obrigações do que o meu irmão, por exemplo. E aí eu queria equivalências, não é? E eu questionava a autoridade dos meus pais, eu achava que eles tinham que me explicar porque é que eu deveria fazer determinadas coisas. Eu não aceitava. Como eu discutia, por exemplo, com o pastor da Igreja onde eu fui educada dentro da religião metodista, e eu discutia com o pastor da Igreja a questão dos princípios filosóficos ou porque é que existia tanta desigualdade no mundo. Eu era muito questionadora com 12 anos, 13 anos de idade. E aí criou-se um frisson na minha casa. E eu ia participar de um concurso de Matemática do Estado do Paraná e mais ligado ao Norte do Paraná, que exigia um ano de preparação. Ia ter várias provas, eram três dias de provas, então eu passei um ano na oitava séria, que seria quarta série ginasial, estudando Matemática, além de tudo que eu fazia, que eu fazia vários esportes e tudo isso.
P/1 – Isso porque você queria assim essa?
R – Ah, sim. E porque eu ia muito bem, eu sempre me destaquei muito na parte intelectual da escola. E aí acabei ganhando no final do ano, isso foi um certo passaporte porque aí o meu pai resolveu investir e permitiu que eu fosse para Curitiba, depois para São Paulo, estudar. E me bancou em termos de estruturas, escolas.
P/1 – Que você ganhou esse concurso?
R – Ganhei, ganhei.
P/1 – E aí você que falou “Quero ir para Curitiba?”. Como é que foi essa, porque que é que te deu essa...
R – Na realidade, aos 13 anos meus pais se mudaram para Cascavel. E eu tinha a opção de ir morar em Cascavel ou de ficar em Maringá para terminar a oitava série e fazer o concurso. E de certa forma para a família, para a harmonia da família, era interessante que eu ficasse porque eu era o ponto de ebulição da família. Porque eu questionava tudo. Então meu irmão e minhas irmãs foram para Cascavel. Nessa época o meu irmãozinho tinha ido morar no Japão, que foi outra coisa que eu achei na época meio demais pro meu conceito. Porque ele foi ser educado no Japão, ele tinha sete anos de idade e eu achei assim...
P/1 – Foi uma decisão dos seus pais.
R – Na realidade, ele espontaneamente quis, porque... Aí é uma outra história. As minhas irmãs gêmeas nasceram temporonas e quase morreram. Vieram para São Paulo e sempre houve o desejo de que um de nós fossemos pro Japão para ser educado lá. Porque a minha tia, que era a irmã mais velha do meu papai, que tinha tido câncer... Câncer não, ela tinha tido tuberculose ovariana, ela não podia ter filhos. E ela era casada com o último nome de uma família, então era necessário que houvesse um herdeiro para aquela família Komatsu. E o meu pai queria que fosse alguém da própria estirpe familiar. Ao mesmo tempo, existia uma questão que seria melhor que fosse homem, porque ele seria o fruto daquela família, teria que constituir outra família para ter filhos. Uma coisa bem tradicional. Eu tenho uma árvore genealógica toda marcadinha aí, não sei quantas gerações que esses papéis vão ao longo dos séculos. Então do lado da minha mãe não, os meus avós eram agricultores. As famílias cultivando caqui, maçã, pêra, que é uma coisa muito especial no Japão, mas são terras pequenas, são outras mentalidades. Então essa minha tia, como ela durante a guerra cuidou muito do meu pai, ela dava a comida dela para que ele comesse e ficou doente, então ele tinha uma certa gratidão e ele queria muito que um de nós fôssemos. Quando esse terceiro filho nasceu, que era o meu irmão Wilson, foi proposto que ele fosse pro Japão quando pequeno. E a minha mãe achou que ele ir sem ter conhecido os pais, sem ter nenhuma vivência do Brasil, ele acharia que ele tinha sido rejeitado e eles acharam por bem não mandá-lo quando pequeno. E a minha mãe tinha o conceito de que aos sete anos de idade a criança já tem uma série de parâmetros e que poderia já ter a sua formação de personalidade mais estruturada. Então que se aos sete ele quisesse ir, ela deixaria. Mas ele cresceu com asma, ele era mais franzino de todos, muito ligado a ela, ninguém imaginou que ele pudesse ir um dia. E aos sete anos nasceram as gêmeas que quase morreram, porque elas ficaram com desidratação, septicemia, infecção no hospital. Meu pai alugou um jatinho e trouxe para São Paulo e aí conseguiram salvar. E no avião, a minha mãe segurando a mão das filhas quase morrendo, ela falou assim “Será... Por que será que eu recebi duas? Será que é para uma ir pro Japão?”. Aí elas sobreviveram. Meses depois chega uma carta que meu pai escreveu: “Olha, dessa vez é possível que ela aceite mandar pelo menos uma das filhas.” Aí quando chegou a carta, ela levou um susto, ela falou: “Não, não queria falar isso...”, imagina. Não era bem assim. Continuava lendo a tal da história, ele tem que ter sete anos, não sei o que, ela ficou assim... E aí ela era muito religiosa. Então ela começou a meditar e a pedir orientação divina e tal. Eu me perguntava se eu queria ir. Eu não queria, eu tinha 12 anos e eu estava por aqui com a cultura japonesa. Meu irmão menor também não queria, o Charles. E aí ninguém perguntou pro Wilson. Mas aí o Wilson um dia estudando com a minha mãe, falou “Olha, eu tô querendo ir pro Japão, tô pensando, tô com uma vontade de ir pro Japão”. Que ele via a foto da minha avó, que era uma gracinha. Ele pensava que ele ia ficar com ela. E aí a minha mãe falou “Mas escuta, você não sabe falar japonês direito, você não está acostumado. Você vai sentir saudades”. Ele falou: “Eu vou sentir saudades, mas eu aguento”. E ele era muito determinado. Um bom resultado: ele foi pro Japão, acabou se adaptando. No começo foi uma choradeira e tal, mas ninguém contou pra gente isso, eu só soube isso anos depois. Mas ele foi muito bem cuidado e ele é absolutamente vinculado a toda a cultura japonesa, a educação japonesa. Ele foi educado lá, ele fala japonês de uma altíssima qualidade. Eu falo um japonês macarrônico assim, um japonês doméstico. Porque mal dá pro dia a dia, mas com as minhas tias eu tenho que falar em japonês, porque elas têm 88 anos e 90 anos de idade, então elas não falam inglês. E esse meu irmão então ele morou lá. Mas isso me fez também questionar um pouco mais, porque no meu contexto não tava tudo certo. E com tudo isso acabei ficando em Maringá, morei com três missionárias da Igreja na época, japonesas...
P/1 – Presbiteriana a Igreja então...
R – Não, Metodista.
P/1 – Metodista.
R – E elas me davam uma coisa que eu não tinha em casa normalmente, que era assim esse amor palpável. Então eu ia jogar basquete, eu chegava em casa, tinha uma comidinha pronta para mim, sabe? Elas sempre prestavam atenção se eu estava sendo atendida ou não. Em casa era meio assim, cada um fazia as suas coisas e a gente fazia direito, tanto é que eu ia muito bem na escola, em todas as atividades que eu fazia. Eu fazia também outras coisas que eu acho que isso é legal, porque isso mudou muito a minha forma de ser. Eu era bandeirante, então eu já trabalhava em ações sociais naquela época, com pessoas pobres, carentes, pela Igreja, eu ia visitar pessoas que precisavam, orfanatos, enfim, coisas que a gente precisava ajudar de alguma maneira. Essa coisa de ajudar o outro sempre foi muito presente, desde o jardim da infância, eu já era quem cuidava para que os meninos não batessem nas meninas. Então eu tinha uma coisa meio também assim de justiceira, de querer que as coisas fossem mais assim. E na escola sempre eu cuidava da classe, era representante, orientava, ajudava. E isso, por um lado teve um papel importante no desenvolvimento de uma personalidade ativa, por outro lado tive uma infância meio truncada, porque eu brincava bastante nas redondezas, mas era sempre permeada de responsabilidades. Que foi a forma como se encontrou nessa família de educação dura. Mas eu acabei tendo acesso a informações muito boas porque aos sete anos eu comecei inglês - então aos cinco eu comecei piano, aos sete eu fazia Inglês. Leitura de todos os tipos, literaturas, romances, livros filosóficos, dez, 11, 12 anos de idade.
P/1 – Isso sua mãe e seu pai assim, era uma orientação familiar.
R – É. Meu pai lia muito livros japoneses, então eu não tinha acesso a isso. E a minha mãe era assim, livros normais. Mas eu lia os que a escola me mandava e mais outros, eu ia na biblioteca mesmo e pegava os livros e lia. E tinha também alguns fascículos, os bichos que a minha mãe comprava e aí a gente lia assim, devorava, porque era um fascículo por semana. Tinha livros tipo seleções, que nós líamos também. Então era uma coisa assim boa, é um estímulo bom. E aí com a questão do prêmio, eu saí pela primeira vez no jornal da cidade, porque era um Prêmio do Rotary, e tinha uma cerimônia e aí o meu pai realmente passou a investir na minha formação em Curitiba, onde eu fiquei dois anos. E quando eu resolvi vir fazer o terceiro colegial em São Paulo para fazer a faculdade na USP, ele também permitiu e eu fui morar com uma tia que era solteira e que cuidou de mim por uns dois anos até eu entrar na faculdade e começar a faculdade. E aí o meu irmão veio morar em São Paulo, ele morava comigo em Curitiba, eu tinha 15 anos de idade, porque com 14 eu fui para lá, fiquei um pouquinho sozinha, ele veio morar depois. Eu tinha 15 e ele tinha 14, 13 anos e meio. E nós tínhamos um apartamento.
P/1 – Seus pais o quê? Eles alugaram o apartamento? Como e que foi?
R – Ele comprou. Comprou o apartamento para mim e pro meu irmão em Curitiba e eu fiquei estudando lá.
P/1 – E aí como vocês faziam? Estudavam, faziam comida, como era?
R – Eu comia no restaurante macrobiótico, que eu já adorava essas comidas mais naturais e a gente cozinhava um pouco em casa, era uma bagunça total porque a gente não sabia limpar direito, nós sempre tivemos muitas empregadas lá em casa. Então essa coisa de cuidar da casa sempre foi muito complicada. Mas a gente se virava bem, não podia entrar homem lá no apartamento, então só o meu irmão podia trazer os amigos até a porta. Aí meu pai morava em Cascavel e minha mãe estava fazendo Pós em Florianópolis. Então eles vinham, encontravam-se em Curitiba, ou iam passear ali pelas praias de Santa Catarina e eu ficava nesse apartamento. Antes morei num pensionato em Curitiba, aí com umas 20 e poucas mulheres, era muito complicado. Fui morar numa república com outras três, também não deu certo, mas uma delas era psicóloga e eu era a cobaia dela para todos os testes que ela tinha que aplicar. Então meu QI era 140 e alguma coisa, porque eu sabia todos os testes, todos os tipos que ela aplicava. E eu lia Jung e Freud nessa época. E a gente tinha um grupo da escola, do Colégio Estadual do Paraná, a gente tinha um grupo de discussão do Freud. Que era...
P/1 – Colégio Estadual?
R – Era. Três Amiguinhos. Aí começou a ter uma mistura lá das histórias do Freud com os relacionamentos. Aí o grupo não deu muito certo porque é muito... A discussão de Freud nos instintos é muito complexa pra cabeças tão jovens. Então eu achei que não era conveniente, que aquele grupo não tinha maturidade suficiente. Mas imagina, eu tinha 14 anos, morava com três mulheres de 30 e poucos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, uma delas fazia Psicologia, a outra era professora de Educação Física e a outra trabalhava. Então eu estava exposta a ambientes muito diversos. Mas como não deu certo nesse pequeno grupo, o meu pai comprou um apartamento quando o meu irmão veio para Curitiba e nós passamos a morar juntos. Eu sinceramente não sei onde eles estavam com a cabeça, eu não teria hoje deixado meus filhos com 14, 15 e 13 anos morarem sozinhos porque os riscos são grandes. A gente sabe que o mundo não é simples. E aí eu vim morar em São Paulo. Na época era a época do AI-5. Então eu lia o Fidel Castro escondido, eu colocava debaixo da cama e eu tinha amigos que tinham sido perseguidos pela Ditadura e com quem eu aprendi alguns conceitos importantes de liberdade. Daí, entrei na faculdade, na faculdade eu fazia muito esporte, então eu treinava basquete, natação, tênis de mesa, no gol de handebol e fiz... Entrei em cinco faculdades na época. Entrei na USP, na Paulista, na Santa Casa, na Santo Amaro e na PUC, e aí fiquei na USP. E para mim foi uma vivência maravilhosa porque eu era da Atlética então eu fazia todos os tipos de esportes. Todos os dias. Tinha um grupo ótimo de pessoas que faziam esporte que até hoje são médicos de renome em todos os lugares, então a gente sabe que quando alguém faz algo com muito empenho, ele acaba fazendo em outras áreas também. Então foi muito especial porque a gente tinha uma turma alegre interagindo e eu passei a morar também em São Paulo com meu irmão, antes numa casa junto com duas chinesas dividindo espaços e depois ali perto do HC [Hospital das Clínicas]. Bom, na realidade, eu vim pra USP porque eu queria fazer a melhor faculdade do Brasil. Que como eu já vinha de muitas formações heterodoxas, nessa idade eu achava que eu tinha que fazer uma formação sólida acadêmica para que um dia não me chamassem de charlatona. Que eu ia caminhar olhando muitos caminhos ao mesmo tempo. Então eu achei que deveria fazer uma faculdade mais sólida como também optei por isso o meu caminho, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pesquisa clínica, trabalhei em sociedades médicas, dentro da academia, sou do HC e participei da Associação Médica Brasileira, Instituto Nacional do Câncer, os comitês... Mas assim, desde muito cedo eu sabia que queria ser médica. Eu não sei te dizer de onde veio porque a única referência médica que eu tinha na minha cidade eram coisas muito pequenas e não eram ícones, não eram pessoas que seriam referências como comportamento. Um vizinho que eu tinha, mas que brigava com todo mundo. Eu não tinha assim essa visão, mas eu sentia que eu deveria ser médica. Eu falava para todo mundo que ia ser médica, ninguém nem entendia porque já que não existiam médicos diretamente na minha família. Eu fui a primeira.
P/1 – Entendi. E isso surgiu, veio...
R – Acho que desde os sete ou oito anos de idade, que eu saiba, eu já achava que ia ser médica. E até em Curitiba eu estive acessando várias das curas dos tratamentos que existiam, naturais. E teria entrado com facilidade na faculdade, mas eu achei que realmente deveria fazer uma faculdade bem boa e tive uma excelente formação aqui. E quando eu me inscrevi na faculdade, eu comecei a fazer vários cursos paralelos. Então eu fiz curso de homeopatia, de acupuntura, de medicina antroposófica. Tinha grupos de estudos de filosofia, participava também da Liga de Farmácia para conhecer as medicações da Liga de Febre Reumática, da Liga de Combate à Sífilis. Então eu trabalhava aos sábados como voluntária na paróquia de São Judas Tadeu e lá eu aprendi a cuidar de gente porque tinha o geriatra que agora é até professor titular da geriatria do HC, Wilson Jacó. Ele chegava, sentava na mesa e falava “Dona Maria, como é que a senhora tá?” e abraçava todo mundo. “E fulano, e não sei o quê”, e ouvia as histórias e se interessava pelas pessoas. E eu e mais dois acadêmicos íamos lá nos sábados e ajudávamos a atender crianças e adultos. E aí eu aprendi a encontrar o ser humano. Intensas Ligas de Combate à Sífilis onde a gente fazia a entrevista dos pacientes, conversava com eles nos ambulatórios voluntários. E depois ainda no consultório de homeopatia em que eu acompanhava um médico e ficava nas consultas que ele me permitia, então eu via anamnese, a forma como ele perguntava. Então eu tive essa experiência bonita e, ao mesmo tempo, eu fazia pesquisa em Biologia Molecular e Microscopia Eletrônica. Eu fazia Microscopia Eletrônica com o professor de Patologia da HC, eu estudava em ratos jovens. Era uma coisa assim: você pegava, fazia fotos de microscopia eletrônica, media os grãos de zimogênio do pâncreas de ratinhos jovens e via quantos grãos tinha e tal, ficava medindo, e aprendia a mexer naqueles aparelhos que na época era o top de linha. Isso era 1979, em 1980, quando era o começo das estratégias. O Brasil tinha poucos computadores, aqueles computadores enormes que ocupavam uma sala inteira, aparelhos de ultrassom, tinha um no HC que a gente acompanhava. E eu sempre ia junto com o paciente, eu sempre queria ver o método, assim como na faculdade, mesmo no internato, que se chama de internato, que você começa a atender os pacientes, eu ficava até o final do dia para conversar com a família. Porque eles vinham às vezes às sete horas da noite, algumas pessoas que trabalhavam, então eu ficava esperando as famílias dos pacientes virem, para eu conversar com eles. E os médicos, os assistentes, falavam assim: “Você não tem que se envolver. Por que é que você se preocupa com isso?” E eu cheguei a conclusão que eu me envolver sim. E eu tive a sorte de uma amiga que jogava basquete comigo, ela ter me trazido uma informação que existia uma médica suíça que morava nos Estados Unidos, que era Elizabeth Kluber-Ross, que tinha escrito alguns livros sobre a relação com pacientes graves. Sobre a morte e morrer. E quando eu li o livro, eu chorava, eu sabia que ali tinha uma verdade e que envolta ninguém estava preparado para lidar com os pacientes graves. Tanto é que os meus assistentes, eles falavam para eu não conversar com os pacientes, nem com as famílias. E nem contar o que eles tinham. E através desses estudos autodidatas, eu acabei aprendendo. Quando eu fui morar na Alemanha e na Suíça eu conheci algumas pessoas que trabalhavam diretamente com Elizabeth Kluber-Ross e aí eu comecei também a ler os livros dela em alemão e a trabalhar com os pacientes nos hospitais por onde eu andei. E eu descobri que você pode fazer um trabalho humano onde quer que seja, em qualquer língua, porque o ser humano é o mesmo. Então por exemplo, lá nos prontos socorros do Hospital das Clínicas, que são macas e macas e macas, quantas vezes eu conversei com pacientes graves, fiz a família fazer a despedida. A gente fazia uma espécie de ritual de passagem, de respeito, sabe? Mesmo nas macas do pronto socorro. Na UTI de Guarulhos, onde fui dar plantão no meu período de residência, porque daí depois que eu voltei pro Brasil, além de trabalhar com esse grupo de oncologia clínica. Eu fazia plantões para ir pro Memorian, porque aí eu juntava o dinheiro porque meu pai já tinha morrido e eu então dava plantões fora da residência, plantões na residência e trabalhava ainda com esse grupo onde atendia na hora do almoço ou no final do dia no consultório, e ainda via os pacientes internados, no Nove de Julho. Sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu juntava todos os plantões para eu ter uma semana ou dez dias de folga para eu poder ir para Nova Iorque, aprendendo uma ciência num outro patamar. E por muitos anos eu fui muitas vezes a Nova Iorque, tenho amigos até hoje assim, as portas sempre foram muito abertas. Eu estava falando antes pra vocês sobre sincronicidade, que são encontros. Eu cheguei em Nova Iorque a primeira vez, e o hotelzinho que eu ia ficar ele não ia ter vagas porque ia ter uma maratona. Então ou eu vinha embora ou eu ia ficar no hotel de 300 dólares, 400 dólares, que não era o meu caso naquela ocasião. Então eu fui andar no Jardim da Cornell University que era logo do outro lado da rua, da York Avenue lá em Nova Iorque, para ver se eu achava algum pensionato de jovens, alguma coisa para dividir, enfim, e encontrei uma moça no meio do jardim. Eu vinha vindo, ela vinha vindo, aí eu parei para conversar, ela era japonesa. Perguntei “Escuta, você conhece algum lugar? Eu sou do Brasil, tô fazendo estágio aqui no Memorian, tô precisando de um lugar para ficar”. Ela conversou comigo e falou “Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já tenho uma amiga que tem um flat aqui na Columbia Avenue e eu vou falar para ela que você é minha amiga e de repente ela deixa você ficar lá”. E por anos eu passei para Nova Iorque ficar na Columbia Avenue, eu pagava dez dólares por dia para essa amiga, e podia ir para Nova Iorque. Eu chegava, juntava o meu dinheiro, pagava passagem e ia para Nova Iorque e ficava no Memorian. Os meus amigos de lá me convidavam para almoçar, para jantar e sempre fomos fazendo uma rede de contatos. Quando eu tinha dúvidas, aqui com os meus pacientes, eu ligava para lá, e pegava uma segunda opinião. Eu ficava sempre um a dois dias só dentro da biblioteca xerocando artigos científicos que depois eu trazia os protocolos de pesquisa para eu estudar. E aqui no Brasil, eu passei a dar aulas de Imunologia de tumores, que era uma área nova onde eu acreditava que existiam mais coisas além da quimioterapia. Então eu acabei me especializando em estratégias de ponta e fiz toda essa parte de pós-graduação, também de mestrado, em Imunologia de tumores e o doutorado em Genética, Biologia Molecular, Marcadores Tumorais na época. E tive acesso a vários institutos de pesquisa mundiais que são parceiros em estratégias de discussão de projetos. Depois eu fiquei muito tempo mais ligada a Houston e também com amigos, que era um casal de judeus que moram lá muitos anos. Ele é o chefe de uma parte grande de Biologia Molecular de Houston, e eu fui muitas e muitas vezes. O chefe da oncologia clínica era muito amigo meu, veio para o Brasil para palestras e eu sempre organizei congressos porque eu acredito no poder da educação. Eu senti isso na carne. Se eu não tivesse tido o desejo de conhecimento que eu sempre tive, a busca de conhecimento, eu não estaria pronta para realizar as coisas quando elas precisaram ser feitas. Então por exemplo, eu comecei a estudar alemão no segundo ano da faculdade porque inglês eu já sabia. Mas eu queria estudar os clássicos alemães, os músicos, os filósofos e aí quando eu fui morar na Alemanha, eu já sabia falar alemão muito bem. Quer seja, você se prepara para alguma coisa que você não sabe que você vai encontrar lá na frente, mas tem que fazer aquilo que está na sua frente naquele momento. E isso assim para um jovem... Então quando eu fui fazer inglês aos sete anos de idade, eu não tinha noção do quanto ia me servir para me comunicar com o resto do mundo. Quando eu fui fazer alemão, no segundo ano da faculdade, eu só queria aprender os clássicos, aprender os filósofos alemães, eu queria ler Kant, Schopenhauer em alemão e aliás, para dizer a verdade, é impossível ler Kant em alemão. A frase começa aqui e acaba no final do livro, a mesma frase. Então é assim, tudo em ordem invertida. É praticamente impossível. E eu queria estudar os músicos. Beethoven, Mozart. Então eu fui fazer alemão como segunda língua, porque eu pensei: “Ah, japonês para mim é mais fácil porque eu falava na infância, então eu vou aprender alemão”, mas exigia muito mais. Só que no final eu fui morar na Alemanha e na Suíça, então foi muito útil essa língua para mim e é ainda até hoje. Porque você até pode falar inglês com o alemão, mas se você fala em alemão você tem outra abertura. E nas cidades onde eu morava, muitas pessoas não falavam inglês.
P/1 – E por que você foi morar na...
R – Porque eu me interessava pela medicina antroposófica, pela homeopatia e pela medicina humanizada, eu queria conhecer hospitais que tivessem uma outra visão do ser humano.
P/1 – Isso depois de você ir muito para os Estados Unidos?
R – Não, antes. Eu me formei na faculdade e fui prá Alemanha e Suíça.
P/1 – Então vamos voltar só um pouquinho pra gente entender.
R – Tá.
P/1 – Assim, você se formou em medicina.
R – Formei-me em medicina.
P/1 – Em algum momento você foi interessada nisso e em outro você decidiu que ia ser oncologista, então tem...
R – É, a oncologia foi depois.
P/1 – Tá, então vamos lá. Você formou-se...
P/2 – A sua residência foi no Brasil ainda? Antes de você ir para a Alemanha?
R – Não. Eu fiz a faculdade e aos 23 anos de idade eu fui pra Alemanha e pra Suíça. Aí eu fiquei um ano lá.
P/1 – Com desejo de entender essa coisa mais humanizada.
R – Mais humanizada. Eu queria aprender uma medicina diferente daquela que eu via na faculdade. Eu achava que precisava de outros caminhos e que era necessário você chegar mais perto dos pacientes. Então eu fui trabalhar em hospitais na Floresta Negra, na Fielder Clinic, que era Stuttgart, perto de Stuttgart. Fui morar com uma família que eu conhecia na época da minha infância em Maringá, eles me acolheram lá em Stuttgart, eles tinham voltado a morar lá. E eu fui com uma cartinha para um médico da Fielder Clinic porque eu ia fazer um curso na Suíça de dois meses e depois e eu queria aprender alemão melhor. Eu já falava, mas eu queria exercitar mais a língua. Então eu fui com uma cartinha e cheguei lá no hospital em Stuttgart e eles me aceitaram para eu fazer um estágio. Então eu fiquei na cirurgia, na radiologia, na pediatria e na psicossomática. E nessa época eu conheci a ressonância magnética, que eles estavam desenvolvendo uma pesquisa num hospital do lado que era um aparelho enorme, que eu nunca pensei que chegaria no Brasil. Então eu fui e pensei em ressonância. Depois quando eu fui morar em Basel para fazer esse curso de humanização da medicina, eu ia no Instituto de Imunologia de Basel e ia na Universidade de Basel assistir algumas aulas. Então eu tive a oportunidade de conhecer as pesquisas de anticorpos monoclonais quando eles estavam começando. Tinha dois Prêmios Nobel lá que fizeram a pesquisa em linfócitos tipo T, então eram coisas da imunologia que ninguém sabia, nunca tinham ouvido falar aqui no Brasil. Então eu tive nessa busca da medicina humanizada, eu tive um contato com uma tecnologia de ponta extraordinária na Europa pra época. E foi morando lá que esse grupo do Brasil me chamou para voltar para trabalhar com eles em oncologia.
P/1 – Tá.
R – E eu cheguei a fazer uma prova para ser médica nos Estados Unidos também, depois que eu voltei. Aí eu fiz a residência aqui no HC, mas eu já trabalhava com esse grupo do Einstein e da Nove de Julho no Sírio e fazia os intercâmbios com Nova Iorque. E aí eu fui construindo uma carreira não linear porque eu voltei já trabalhando com um consultório, bem situada, fazendo cursos e já dando aulas. Um ano e meio depois eu já tava dando as aulas de Imunologia de Tumores pro Brasil.
P/1 – E aí a oncologia surgiu já...
R – Já vim definida para oncologia. Lá mesmo nesses hospitais, eu trabalhei muito com pacientes oncológicos, lá na Alemanha, porque eram hospitais que tinham pacientes muito graves, então a gente tinha muitos pacientes oncológicos. E aí quando eles me chamaram para fazer oncologia eu fiquei pensando se eu devia mesmo fazer só oncologia ou se eu devia fazer uma clínica mais ampla. E achei que a oncologia era uma área onde eu poderia ser útil. Eu tinha sempre a preocupação de fazer algo em que eu pudesse ser útil. Por exemplo, quando eu resolvi não ficar na Alemanha e voltar pro Brasil eu pensei que no Brasil as coisas ainda estavam para ser feitas e na Alemanha elas já estavam feitas. Então eu achava que eu deveria voltar. Quando veio a questão de fazer oncologia, eu me perguntei se eu teria estrutura emocional para fazer só oncologia. E eu achei que, filosoficamente, e pela minha percepção da vida e da morte e das perdas do ser humano, eu tinha o necessário estofo filosófico para poder ser médica oncologista. Então eu voltei e na residência médica, de clínica médica, eu só internava casos de oncologia, mas aí eu já tinha toda monitoria, porque eu já trabalhava dentro do próprio HC, nos ambulatórios de oncologia e já ia pro Memorian e já fazia os cursos. E aí depois eu fiz as pós-graduações.
P/2 – E essa era década de 80?
R – 84. Eu voltei em 84 pro Brasil. Então não existia oncologia, existia hematologia e a oncologia clínica estava começando, tanto é que esse era praticamente o segundo grupo de oncologia clínica e acabou sendo um grupo muito forte de oncologia clínica, porque não existia essa especialidade.
P/1 – Não existia?
R – Não existia.
P/1 – A oncologia não existia.
R – A oncologia clínica não existia. Existia a cancerologia. Existia a Sociedade de Oncologia Clínica, mas a área de atuação em oncologia clínica foi feita, eu fiz a primeira prova do Brasil, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, porque não existia especialidade.
P/1 – Tá.
R – E a imunologia também era outra especialidade muito recente no mundo.
P/1 – Mas assim, em termos de entender... Você falou e eu fiquei me perguntando se eu estava pronta, vamos dizer, para entrar na oncologia, se eu ia aguentar isso. O que é que tem nessa área especificamente que te fez juntar tanto a partir dessa procura mais humana, mais holística. O que é que tem ali?
R – É, eu acho que o paciente, ele está num momento que eu até chamo de paciente inicial, eu não acho que é um paciente terminal, eu acho que é um paciente inicial. Quando a gente inicia um caminho muito acelerado, por quê? Porque a oncologia, ela traz ainda um estigma da doença. Então, nessa época, 1980 e pouco, 83, quando eu morava lá, ainda o câncer era sinônimo de morte. Hoje em dia nós temos muitas técnicas de detecção precoce. Vamos imaginar, não existia tomografia, não existia ressonância magnética, ultrassom eram poucos. As biópsias, só com cirurgia. Cirurgias que não tinham toda estrutura que nós temos hoje. As UTIs estavam começando, tô falando de 30 anos atrás quase. Vinte e... Quase 30. Então existia um estigma de uma doença gravíssima que não tinha cura. E que você, enquanto médico, teria que estar lidando com situações extremas da vida e onde o seu limite seria encontrado com muita frequência. Então você decidir entrar numa área em que você sabe que você não vai ganhar a parada sempre, isso é, que na maioria das vezes você não ia ganhar, exigia muita coragem. Porque eu tinha consciência do que isso significava. Ao mesmo tempo, na minha concepção, a vida e a morte elas são faces de uma mesma moeda, então eu tenho uma percepção filosófica de continuidade da vida. E se eu pudesse contribuir para que as pessoas ficassem aqui bem, eu estaria muito feliz. Se elas não pudessem ficar aqui bem, e pudessem ir em paz, eu também estaria cumprindo um determinado papel. Que se imbrica no papel de médico curador, entendeu? Da cura da doença. Graças a todo o avanço e eu sempre fui buscando a cura, sempre. Eu buscava tratamentos avançados para buscar a cura. Eu sempre fui atrás desse paradigma, porque eu achava que era possível ir além. Como muitas vezes a gente vai além. Por exemplo, eu olho para um paciente, eu não penso: “Ah, esse paciente que estatisticamente tem tantos meses de vida...” Não. Eu penso: “Esse é aquele que vai superar e que vai além”. E eu pauto a minha vida por isso. E a gente consegue muito longe exatamente porque você não acredita só nas estatísticas, elas servem como balizador, mas elas não são determinantes do ser. Então assim, eu até tenho uma frase que eu às vezes penso que ela tem um impacto, que em inglês é “Against the odds, with the Gods”, “Contra as estatísticas, mas com a ajuda de Deus”, ou com os Deuses. Com aquilo que você tem de melhor. Então vamos buscar na ciência, vamos buscar no indivíduo, na força estruturada da família, na comunhão dos amigos. Então a gente estimula muito essa relação. E você tem que ter coragem sim, para olhar para um paciente e enfrentar aquela situação juntos, a decepção daquele momento, “Olha, não está funcionando. Vamos buscar outra opção, mas nós estamos juntos”. Se você não tiver essa capacidade de estar junto com a pessoa, distanciar-se, dificilmente vai conseguir ter uma liga humana que permita superar os momentos difíceis. Então assim, o que eu aprendi na Alemanha: aprendi a linguagem não verbal. Como eu tinha muita dificuldade de falar tudo o que eu queria, expressar na mesma facilidade, eu dependia que a pessoa capturasse o que eu desejava para ela por outras vias. No sorriso, no toque, sabe? Num olhar. E isso é imediato. Eu às vezes gosto de ir sorrindo para as pessoas, no meio do aeroporto. Volta e meia você encontra um que resolve sorrir para você também. Criança então, uma facilidade. E essa coisa da linguagem não verbal, assim, ela é bárbara, porque eu até lembro de uma entrevista que eu dei lá pra Patrícia Travassos, que eu acho que eu citei uma frase que assim “O que você é fala tão alto que eu não consigo te escutar”. Então você pode falar o que você quiser, mas se você não estiver nem aí com as pessoas que está na sua frente, você não vai convencê-la de nada, entendeu? A outra coisa, o que é o poder da compaixão que é “com” – “paixão”, quer dizer, não é pena, é paixão, é passional a história, é amor, é vontade de fazer junto, sabe? Isso faz toda diferença. A pessoa chega derrotada, ela sai mais forte. Ela sai mais forte porque ela sente a força dentro dela, não é porque você deu. Você só espelhou para ela quem ela é. Que é outra característica que eu acho que é bárbara da relação humana, é você ajudar a outra pessoa a se achar. Então eu tenho essa preocupação nas minhas consultas não só de dar a prescrição técnica, na realidade eu hoje faço o seguinte: antes do paciente entrar, eu pego todos os exames, eu olho tudo, eu já penso nas condutas, óbvio que posso mudar de opinião de acordo com o exame físico, mas eu já tenho algumas coisas e eu sento para conversar com a pessoa. Para ouvir as queixas, o que ela precisa saber, as perguntas, para sentir a dinâmica que ela me traz e eu tenho uma ótima memória comportamental. Às vezes eu tenho dificuldade para saber algumas coisas de datas, mas se a pessoa senta na minha frente, eu lembro da história dela inteira. Se ela me contou do papagaio, do periquito, da família, da tia, da sogra, que brigou com o filho... Por isso que eu acho bárbara essa coisa do Museu da Pessoa. As histórias das pessoas são palpáveis, porque é um acervo que ela traz com ela e a partir do qual ela lê o mundo. Então eu entro dentro da história dela para ler o mundo sobre a ótica dele ou dela, para tentar ajudar a encontrar os melhores caminhos. Então hoje existe uma questão prática também: “Que convênio a pessoa tem? Que direito que ela tem? Em que hospital? Que exame ela pode fazer daquele jeito? Como é que a gente vai racionalizar o processo, trazer o melhor dentro de cada coisa. Dentro daquela família ela mora sozinha? Ela tem uma irmã que tá doente? Ela tem um filho que abandonou? Como é que essa pessoa vai ser cuidada. Se ela cai à noite e está sozinha, quem que ela vai chamar? Então eu me preocupo com toda estrutura social e de suporte, então às vezes alguns pacientes que são solteiros, por exemplo, ou mais velhos, têm as amigas, sempre tem um monte de amigas, amigos, então a gente fala uma rede de amigos. Quem é que eu chamo? Eu tenho tudo anotado ali no meu prontuário. Quem são as pessoas que estão em volta? Quem é que constrói aquilo?” Então assim, oncologia para mim, é uma história de amor, é uma história de você se envolver profundamente, mas é como um mergulho mais ou menos como a Perséfone faz: entra e sai junto. E, para mim, entrar junto com o paciente implica muita vezes em abrir mão dos meus conceitos pessoais, você tem que entrar na forma da pessoa ser, compreender aquele momento pelo qual ela está passando e encontrar direções. E eu costumo dizer assim, se você procurar estar no melhor de você mesma, a sua luz vai iluminar o processo da melhor maneira possível, vira um holofote. É como um farol no meio da escuridão. Então é muito importante esse trabalho individual. Eu estimulo muito a reflexão. Às vezes a pessoa fala assim “Ah, mas eu preciso deixar tudo resolvido?” eu falei “Claro”. É preciso deixar tudo resolvido sempre, a gente não deve deixar para última hora uma série de pendências. Brigas etc. Então eu tenho todo um cuidado nesse sentido. Então fazer oncologia tem a ver com isso.
P/2 – Nise, mas esse cuidado com o contexto social, então a hora que você trouxe aquilo da Alemanha para o Brasil, isso foi para você uma percepção muito diferente, pelo menos, que é a sociedade...
R – Foi, foi. Tanto é que eu fazia no HC grupos de discussão dos livros da Elizabeth Kluber-Ross, então os residentes da minha equipe que era da Clínica Médica do HC e os estudantes que passavam por lá. E a gente fazia discussões sobre relação médico-paciente. Vários deles são psiquiatras até hoje. E a gente construía uma dinâmica de debater amplamente as relações dos médicos com os pacientes, era muito assimétrico, de ouvir as demandas e eu fui fazendo isso em todos os lugares por onde andava. Fosse na Avenida Europa, fosse no Sírio, no Einstein, no Osvaldo Cruz ou no Nove de Julho, ou dentro de situações absolutamente insuficientes, como no SUS.
P/1 – Você trabalhou, você trabalha no SUS. Como foi a sua relação com a medicina pública no Brasil?
R – Eu trabalhei muito na área social, sempre. Então também nos direitos dos pacientes com câncer, eu criei uma entidade para pensar sobre isso numa época que o paciente nem sabia que podia ter direito, e a gente fez várias audiências públicas, várias reuniões e cartilhas, manuais, e educou o sistema. Os direitos dos pacientes também através das Sociedades Médicas ou então da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que fui diretora científica há seis anos, depois eu sempre trabalhei de alguma maneira revendo o sistema, reformatando o sistema. Então por exemplo, todas as unidades de quimioterapia do SUS do Brasil eu participei da portaria, eu elaborei junto. A gente criou o sistema de referência de contra-referência do SUS. Eu participava do Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer, então eu discutia desde as tabelas, ou que remédio devia ser dado, que tratamentos, os programas de radioterapia, fiz cirurgia oncológica. E na Sociedade Brasileira de Cancerologia, todas as áreas de especialização, então cirurgia oncológica, oncologia clínica e pediatria oncológica. Eram nossas. Na área de fazer as especialidades. Então eu tive inúmeras discussões com diversos convênios médicos para incorporar em tecnologia mostrando por A mais B que diminuiria o custo operacional se ele soubesse direito o que fazer. Então, tentando falar também a linguagem do sistema, então farmacoeconomia, economia da saúde, custos benefícios entrando no jargão de cada especialidade. Então essa mesma facilidade que eu tenho para entrar no mundo do paciente, eu tenho para entrar no mundo corporativo. Então por exemplo, eu participei da Câmara Americana do Comércio, na estrutura de saúde, eu dava aulas lá de relacionamento médico-paciente. Na OAB, no Instituto de Ibccrim de Criminologia. Eu tenho uma facilidade de entrar na linguagem nos Congressos Mundiais. Eu presido vários congressos latino-americanos, eu organizo fóruns de tabagismo também. Dentro da Assembléia Legislativa ou da Câmara dos Deputados, eu fiz toda uma campanha para passar uma convenção mundial contra o tabaco no Brasil. Então na minha biografia essa é uma coisa maravilhosa, por quê? Você vê um problema e você tenta ver de que maneira dá para resolver aquilo. Então por exemplo, eu organizei um congresso latino-americano de câncer de pulmão no Guarujá e eu coloquei gente da Anvisa, do Ministério, para discutir uma série de itens e um fórum de tabagismo e descobri que tinha a Convenção Mundial do Tabaco que estava parada na Câmara dos deputados fazia dois anos e não era votada. Aí eu liguei pro Presidente do Instituto do Câncer, pro Ministro da Saúde da época e falei “Olha, nós vamos ajudar”. Juntei todas as Sociedades Médicas, todas as ONG’s e começamos a fazer passeatas, outdoors, movimentos e publicação em mídia etc. Fizemos um elenco das coisas que eram necessárias e pacientes meus me ajudavam. Então o paciente me colocou na sala do Presidente do Congresso. Aí eu cheguei para ele e falei assim “Olha, eu sei que amanhã a pauta abre por duas horas. Por favor, mande a Comissão Quadro pro Senado Federal” e ele mandou. Fizemos um acordo de lideranças e imediatamente no dia seguinte, duas horas foi pro Senado. Aí chegou no Senado, e os senadores do Sul que eram ligados a vários lobbies na indústria do tabaco, queriam mandar de volta. Mas a gente segurou. Aí no Senado nós fizemos um trabalho individual com cada senador nas bases deles através das sociedades médicas e das ONGs. E ainda fazendo movimentos e denunciando quem estava a favor, quem estava contra, uma coisa assim, intensa mesmo. E depois de quase dois anos nós conseguimos passar no Senado. O Ministro da Agricultura chorou comigo porque ele estava segurando, não tinha entendido que não era, eu falei “Olha, não vim falar de um tratado de agronegócios, eu vim falar de um tratado de saúde. O senhor sabe que é ter câncer? O senhor sabe a dor de uma família? O senhor sabe o que é que causa o cigarro? E os jovens, como eles são assediados?”, ele começou a chorar. Porque ele já tinha tido câncer, a mulher estava sendo tratada de câncer, os pais tinham morrido de câncer. Ele falou assim: “A senhora tem razão. Eu tenho uma comissão aqui, mas eu vou conversar hoje com o Presidente, com o pessoal da Casa Civil e vamos autorizar. Mas nós precisamos de verba para os fumicultores passarem as agriculturas para outros tipos”. Aí eu liguei para quatro outros ministros, falei: “Olha, nós precisamos apoiar, vamos fazer assim e assim”. Todos querendo mesmo na época, o Ministro da Saúde era o Presidente do Instituto Nacional do Câncer. Ele foi a Campos comigo em todos os lugares, a gente fez todo o movimento na Câmara, no Senado e ele foi fazer audiência pública no Rio Grande do Sul, no meio dos fumicultores. E aí a gente há três dias, quatro dias de acabar o prazo da ONU, o Brasil aprovou. Era o centésimo país do mundo. Porque o país ele é o segundo maior produtor do mundo, mas é o maior exportador mundial de tabaco. Então assim, a gente lutou contra um lobbyenorme. Mas você tem que saber que é possível, se você acha os mecanismos também. A mídia trabalhou super a favor, super a favor. A gente tinha um apoio total e ao mesmo tempo as pessoas de bem, elas imediatamente se entusiasmavam com a ideia e faziam o que precisava. Daí nós fizemos um outdoor em Brasília “Senhor Senador, que forças os impedem de aprovar a convenção contra o tabaco?” E a Época repercutiu. Então, dia 31 é o dia da verdade. Dia 31 era o dia da renúncia de Severino Cavalcanti. E eu ia para Brasília com uma claque, um rapaz vestido de pulmão todo estropiado, uma moça magrinha que parecia uma bituca e um outro que era o mal bobo, que era um cara vestido com quadrado assim todo amarelo, de dente amarelo, que era o cínico. Eu falava assim “Ah, você pode fumar quanto você quiser, você pára a hora que você quer. Começa, não tem problema”. E a mocinha bituca carregava o pulmão que tossia, tossia. E ela sedutora, “Venha. Fume”. E aí eu ia com essa turma lá. Mas o Severino Cavalcanti ia renunciar naquele dia e a gente tinha marcado uma coletiva na Biblioteca do Senado. Aí eu liguei para um assessor de imprensa voluntário que tinha parado de fumar. Levamos esse pessoal. Um paciente meu lá de Brasília, que é pastor conseguiu que os senadores da ala evangélica trouxessem os rapazes para dentro, esse pessoal para dentro e a gente ficou lá na área verde entre a Câmara e o Senado. E aí o pessoal que estava filmando estava cansado de ver o Severino e todo mundo lá falando, um discurso atrás do outro. Então eles vinham filmar o nosso pessoal e aí eu aproveitava e colocava o Presidente da Associação Médica, o Presidente da Sociedade de Oncologia e aí depois nós demos os nomes dos senadores que apoiavam e os senadores que atrapalhavam. E saiu para a Folha a lista dos senadores que atrapalhavam a convencer o quadro contra o tabaco. Era um tal de senador ligando pro meu consultório e falando “Olha doutora, eu sou a favor . Eu e o meu amigo e não sei quem”. Então esse tipo de coisa que você envolve as pessoas, é maravilhoso. E aí nesse sentido, tem a história dos jovens que eu acho que eu não poderia deixar de falar, porque é uma coisa muito bonita que aconteceu. Meu filho estava numa escola chamada Micael, aqui na Raposo Tavares e ele estava acho que no segundo ano da escola. E os jovens que estavam se formando, vieram na festa do final do ano falar que eles estavam querendo ir para um Fórum Social na Suíça. E por que é que eles queriam ir? E fizeram um discurso porque eles acreditavam num mundo melhor, porque era possível mudar o mundo e tal. Eu achei fantástico aqueles jovens querendo fazer. E eles tinham resolvido que a classe de 35, que tinha metade de bolsistas, ou iam todos ou não ia nenhum. Então eles estavam começando a coletar dinheiro, isso era novembro para dezembro. Eu me entusiasmei, dei uma passagem para eles para Suíça, o meu ex-marido deu a outra e aí entrou final do ano, perdi contato. Chegou fevereiro, começaram as aulas de novo, o evento era em abril na Suíça. E a turma tinha se desarticulado. Chegou em fevereiro, eles tinham cinco passagens das 35. E aí começou aquela história. “Não vai dar. Mas a gente já tem cinco. Então com cinco, quem vai?” “Ah, vou eu que trabalhei” “Não, você trabalhou porque quis, afinal você não falou que ou iam todos ou não iam? Que história é essa? Agora você quer mudar a história só para se beneficiar?”. Começou a maior briga na classe. E eu olhei aquilo e falei: “Gente, se esses caras perderem hoje a crença de que é possível mudar o mundo, o que vai ser deles? Aos 17 anos chega com toda vontade e depois não dá?” Aí eu pedi uma licença pra professora e fui conversar com eles. E eu falei “Olha, eu vim conversar. Porque o que tá acontecendo aqui é o que acontece lá entre Israel e a Palestina. O que tá acontecendo aqui é o que acontece para as pessoas viverem brigando no mundo inteiro. Tá certo, quem fez, fez porque quis. Vocês concordam que essas pessoas trabalharam acreditando que era possível? Quem não fez, não fez por quê? Porque não acredita, porque acha que não vai dar certo mesmo, porque acha que é uma balela esse negócio de ação social e tal, evento na Suíça? Eu quero que vocês façam como o rapaz lá das Cartas ao jovem poeta” que era o Rainer Maria Rilke, eu contei a historinha para eles, o rapaz que veio e perguntou pro Rainer Maria Rilke se ele poderia ser poeta. E o Rainer Maria Rilke falou “Olha, você tá perguntando pra pessoa errada, não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para você. Você vai no seu quarto, na noite escura e pensa: eu quero ser poeta? Eu quero fazer a poesia a minha vida? Eu morreria se eu não fosse poeta? Se você chegar a conclusão que você quer ser poeta, seja poeta, não importa o que os outros pensam, nem o que eu penso”. E aí eu falei: “Então agora vocês vão pra casa, cada um chega no seu quarto e pensa: eu quero ir pra Suíça? Eu acho que isso é válido? Porque sim e porque não. E me escreve uma carta e aí eu vou pensar o que eu vou fazer depois que vocês me escreverem a carta”. Todos queriam ir. E teve mais uma coisa. Eles escreveram coisas lindas. Eu falei: “Bom, então a gente tem que convencer os outros. Porque nem seus pais sabem que vocês devem ir”. Então eu os convidei. Convidei os pais, os 35, para irem jantar na minha casa. E aí convidei os pais para dizer para eles a importância que é você ter ideais. E como é importante você poder perseguir esses ideais e ainda reverberar isso em algo bom para os outros. E eles saíram tão motivados que vários os pais já resolveram que podiam pagar. Então a gente aumentou o número ali. Aí nós fizemos alguns eventos para os meus pacientes, em que eles vinham, eu fazia saraus líteros-musicais na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Porque eu achava que os pacientes com câncer tinham que acreditar num mundo melhor, então no sarau, a gente fazia assim: a importância da arte, a arte como arte, não como performance. Então não importava se a pessoa sabia tocar, tipo concerto. Mas se ela tocasse com o coração, ela podia vir. Se ela falasse uma poesia ou cantasse, também podia. Mas tinha coisas lindas. E a gente organizava de uma maneira muito interessante. Era um sarau lítero-musical e ficou na Livraria Cultura sete anos. Eu fiz a minha clínica antes, depois lá. Porque eu era muito amiga da Hertz, que era a velhinha que era a dona da livraria. E aí o Pedro, que é amigo-irmão meu, ele me deu todo o espaço e tal. E aí os jovens fizeram dois concertos lá, um pai que tocava piano maravilhosamente veio tocar e levantamos dinheiro. E ainda uma companhia farmacêutica que fazia pesquisas, que tinha várias ações sociais na região, a Roche, deu cinco passagens para eles, porque era na Suíça. Eu liguei pro Presidente, ele deu cinco passagens. E começou a surgir assim. Resultado: em um mês e meio a gente tinha 35 passagens. Ah, mas teve uma outra coisa linda. Nós fomos na escola conversar com os professores das outras classes, com o conselho de pais porque não adiantava eles irem representando a escola Micael e o Brasil, porque o que eu falei naquele dia “Não adianta ir qualquer número de pessoas representando o quê, se vocês hoje são um monte de gente brigando? Se vai fazer ação social, tem que estar representando um corpo” e aí a escola assumiu aquela tarefa. Fizeram pizzada e o conselho de pais emprestou dinheiro para duas passagens. E eles foram, inclusive levando um rapaz que tinha problemas de paralisia cerebral e eles é que davam banho no rapaz e cuidavam dele. Foram sem tutor porque o dinheiro não dava para mais um, com 17 para 18 anos, no meio da Guerra do Afeganistão. Daí a gente teve ainda que ver a questão de que não podia ir pela América Airlines, então algumas passagens que tinham sido dadas pela América Airlines não dava para ser, porque não dava para passar pelos Estados Unidos. Enfim, chegaram lá, eles fizeram um sucesso no evento, os jovens de outros países começaram a dar dinheiro para eles. Sobrou dinheiro. Aí quando eles voltaram, eu falei assim: “Bom, agora vocês tem que devolver pro pais o que vocês receberam”. E nós fomos na Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo], que eu cuidava de um dos diretores da Fiesp e eles sentados lá com o Presidente da Fiesp e tal, discutindo do Fórum Social e não sei o que, e fizemos um Fórum para jovens do Brasil, onde 250 eram de escolas privadas e 250 eram das favelas. E aí a gente começou a montar um movimento chamado Connecting, que virou um grande Fórum Mundial que aconteceu alguns anos depois no Brasil, que era o Connectivity, que aí vieram mil jovens do mundo inteiro, onde também 500 de áreas sociais e 500 de escolas públicas. E nesse evento que teve lá na Fiesp, aí eles aprenderam a organizar evento, aprenderam a fazer found rasing e esses jovens hoje acabaram as faculdades, foram trabalhar em bancos, estão no mundo. E a gente criou o Connectivity e foram vários Conneting’s no Brasil que a gente fez e eu acabei dando aulas também num fórum desses mundiais lá na Suíça sobre “Como é que através da sua profissão, você pode fazer ações sociais”. O que foi muito bonito foi que você pode trabalhar no micro. Se aquela classe não tivesse dado certo, todo o resto não teria acontecido da forma tão pujante como aconteceu. Porque se você briga, é intolerante entre poucos pares, entre poucas pessoas, não tem como você querer mudar o mundo, porque você tem que mudar antes de mais nada você mesmo. Aliás, esse foi meu grande aprendizado ao longo da minha vida, com uma experiência de acesso a tantas estruturas no planeta inteiro. Eu viajo muito. Teve vários anos que eu saía mais de duas vezes por mês do Brasil. E viagens curtas de ida e vinda. Eu fui agora dar uma aula no Congresso Mundial em São Francisco, voltei agora em setembro tem que ir para um Fórum de Discussão lá em Washington. Dois, três dias, eu vou e volto. Mas assim, o que eu descobri é que a essência é muito simples. O que a gente tem é que trabalhar as nossas próprias sombras, as nossas próprias limitações, as nossas carências e nos tornarmos seres humanos melhores. E aí no momento em que você se torna um ser humano melhor, você catalisa outros em volta. E você influencia outros. Então aquilo se multiplica, é como bioressonância, quer dizer, não é uma questão de quantidade. Basta um. O Gandhi tinha uma frase emblemática: “Quando uma pessoa descobrir o verdadeiro sentido do amor, isso anulará o ódio de milhões de pessoas”. Então eu acredito nisso, eu acredito no poder do indivíduo. Quer seja, uma pessoa que se transforme, que brote, que cultive e que seja manancial de amor, de coisas boas, ela vai permeando a humanidade de uma série de outras coisas boas. E assim, eu tenho tido a oportunidade de por exemplo, de trabalhar no Ministério Público da Saúde, que eu fiz por alguns anos e que há dois anos agora, ou um ano e meio, mas onde eu tenho percebido a dor das pessoas dentro de prisões. Eu fui visitar uma prisão feminina, dentro dos postos de saúde, dentro das necessidades todas, então a gente não vai conseguir mudar tudo como a gente gostaria. A gente pode fazer o que a gente pode fazer. Quer dizer, o que é seu, você pode fazer. O que é do outro você pode tentar ajudar o outro a fazer também. Mas de verdade, em nenhum momento você deve esquecer de que você é tão falível quanto todos os outros, de que você tá em processo de crescimento, de auto conhecimento e que quanto mais perto da sua essência você estiver, mais útil você vai poder ser. Porque o mundo precisa de gente competente, de gente boa, de gente que queira pôr a mão na massa e que trabalhe, que vá em frente e que não tenha medo de traçar novos caminhos, que possa realmente perpetuar a espécie e a essência do ser humano da melhor maneira possível. Então eu tenho pacientes, alguns que são famosos e outros que são heróis anônimos, mas que no seu anonimato fazem toda diferença, porque para as pessoas que os querem bem eles não são anônimos, não é? Então, como é bom você poder compartilhar da vida de milhares de pessoas direta ou indiretamente. Então diretamente eu tenho oito mil pacientes com câncer até hoje, que eu cuidei assim no meu prontuário. E que eu cuido. Muitos e muitos eu cuido, e é por isso que a minha agenda fica meio complicada. Eu atendo sábado e domingo com muita frequência. Feriados e tal. Na realidade, você pode cuidar de oito mil pacientes diretamente. E que cada um tem uma capilaridade enorme porque você cuida de oito mil famílias e as centenas de amigos que cada um tem e que constrói ao longo da vida. Então a gente faz parte de uma grande rede. De seres humanos. E além disso, através das ações sociais, você pode cuidar de milhões de pessoas. Por exemplo, mesmo essa lei contra o tabagismo ou passivo, essa proteção ambiental, são milhares de pessoas que vão estar sendo impactadas de alguma maneira. Podem reclamar ou enfim, mas de alguma maneira vão estar sendo impactadas. Então eu acho que o acesso a essas possibilidades de você atuar diretamente e indiretamente, ou de motivação. Eu gosto muito de conversar com estudantes que querem fazer medicina. Então eu sento com filhos de pacientes, sobrinhos, com quem queira conversar comigo para trazer um pouco do ideal. E depois eu me preocupo em cultivar um pouco o ideal para que eles não percam ao longo do caminho. Mas eu gostaria, por exemplo, de ter mais tempo para estar com estudantes, porque ao longo desses últimos anos eu estou podendo estar perto de alguns poucos estudantes.
P/1 – Eu ia fazer uma pergunta um pouco assim: pensando na sua vida, você sempre teve a característica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então é uma dinâmica. Mas elas foram ampliando e aí queria que você visse como que você lida com isso, como as coisas se conectam? Como é que você lida com essas tarefas todas ou tantas coisas ao mesmo tempo?
R – Hoje eu tenho uma estrutura fantástica. Eu tenho quase 30 funcionários que trabalham comigo. Eu tenho uma secretária pessoal, assessora que fala inglês fluentemente, porque eu tenho muita comunicação internacional. Tenho várias secretárias, uma que cuida só da minha agenda, outra que cuida do Ministério. Dois motoristas, duas empregadas em casa, enfermeiras, médicos que trabalham comigo, quer dizer, eu tenho um timaço. A questão é como você rege o time. Então por isso que eu digo, eu procuro estar no lugar certo, na hora certa. Eu uso muito a sincronicidade, eu procuro ver o que cada um gosta de fazer e desde que a pessoa exerça o melhor dela. Então para mim, essa possibilidade de conhecer a essência do ser humano me ajuda nessas escolhas. E a minha irmã me ajuda a administrar a clínica também.
Mas eu tenho uma coisa que eu disse assim que é difícil de compatibilizar, que é a questão da maternidade. Porque a maternidade, ela é um trabalho de tempo integral e da forma que eu fiz, deixa muitas lacunas. Por quê? Eu tive filhos fantásticos, hoje em dia a Marjorie tem 20 anos, vai fazer 21 e o Kenzo acabou de fazer 15 anos. Eu tive a primeira filha, eu estava fazendo pós-graduação, trabalhando. Então eu trabalhei até ir pro Einstein para ter neném e depois já no segundo, terceiro dia, eu já estava assinando papéis e fazendo as matérias que eu precisava. Foi uma cesariana e eu amamentei até o nono mês. Então a cada duas horas eu ia pra casa e depois à tarde ela vinha pro meu consultório atrás da mamadeira dela, que era eu. E eu dava aulas a partir dos dois meses de idade dela, no Brasil, e com reuniões no mundo. Então eu carregava a minha filha comigo para onde eu ia. Ou a minha irmã ou o meu marido na época foi uma vez, daí ele não gostou muito da ideia. Então eu comecei a levar outras pessoas ou quando eu ia pra Europa, uma das minhas irmãs me ajudava. E elas vinham para me ajudar a cuidar, então eu fui fazendo toda uma dinâmica para conseguir ser mãe, participar da escola, das reuniões de classe, trabalhar nos bazares e então eu sempre trabalho na festa junina, no bazar, vou vender paçoca, enfim, essas coisas de mãe. E tentando cuidar da parte social da vida deles, então recebendo amiguinhos em casa, levando para dormir na casa dos amiguinhos. Fiz assim o melhor que eu pude. Eu diria que é insuficiente, mas eles são extremamente criativos, os dois são maravilhosos, um se apoia muito no outro e meu ex-marido cuida muito bem deles também. Então quando a nossa separação, a minha filha foi morar com ele e o meu filho foi morar comigo e aí eles se encontram sempre durante a semana, tem dias que ficam na casa de um, na casa de outro, então foi muito criativo. Acho que é incompatível se a gente for ser perfeccionista em cada modelo. Então se a Nise cientista, acadêmica, social, política, médica, mãe, for fazer só isso, dá para fazer só isso. E eu diria que eu gostaria, eu me cobro isso, eu gostaria de poder me dedicar o tempo todo a cada uma dessas áreas. Por outro lado, eu aprendo a ser grata, a ser grata, a vida que me traz tantas experiências e tantas oportunidades tão especiais. E fazendo aquilo que eu posso para contribuir com o mundo da maneira como ele está. Então vai ser insuficiente, vai. Tem uma frase do Fernando Pessoa que é “A única certeza é que a gente sempre vai ser interrompido antes de acabar”. Que é uma dança, a vida é uma dança. Isso também aprendi, a gente tem que se desenvolver na vida assim dançando, criando as coisas, os projetos e oferecendo a vida. Se tem alguém melhor para levar aquela ideia para frente, dê aquela ideia pra pessoa que ela vai seguir. Ela não é sua, você foi um instrumento para que aquela ideia viesse a se manifestar, mas, de verdade, nada é seu. Então vai oferecendo. E eu tento fazer de uma maneira assim dinâmica e criativa. E acabo tendo o privilégio de realmente poder compartilhar de muitas coisas com muitas pessoas.
P/1 – Mas você se angustia, ou se cansa, ou se frustra?
R – Veja, eu trabalho quase 18 horas por dia, às vezes até 20 horas por dia, dependendo. Porque eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Então óbvio que cansaço físico é uma coisa bem presente. Por outro lado, eu utilizo os horários que eu estou no carro com o motorista para fazer as ligações ou para relaxar ou para fazer todo um processo de interiorização. Eu tô sempre me revendo no meu estresse, eu tenho um bom manejo de estresse. Sem dúvida alguma, há muitos momentos em que eu gostaria de poder fazer as coisas de uma maneira diferente e aí eu fico tentando buscar as opções melhores para aquele momento. Mas eu também aprendi que a gente tem que levar a vida um pouco mais leve, sabe? Tem que estar realmente na insustentável leveza do ser, precisa estar trabalhando assim mesmo para poder contribuir com aquilo que você pode. E saber que também outros virão e que estarão ocupando os nossos lugares e fazendo as coisas que acreditam, muitas vezes diferentes daquelas que a gente acredita. Até porque nós não somos os donos da verdade, nós podemos olhar o mundo sob uma determinada ótica, uma determinada perspectiva. Mas outros virão e que virão de outra maneira e ambas são tão verdadeiras quanto. Então esse equilíbrio de coisas e de forças é que são muito interessantes.
P/2 – Nise, eu queria perguntar uma coisa da sua trajetória, sobre os prêmios que você recebeu, como é que foi?
R – Não, na realidade eu já recebi alguns prêmios. E tive a oportunidade também de ganhar algumas premiações de reconhecimento pelos trabalhos que eu fiz de tabagismo, de saúde, enfim. Então eu também procuro que cada situação tenha uma reverberação. Então para mim, eu vejo assim, como eu estava naquele momento representando uma comunidade, representando um grupo. E não uma coisa assim individual. Mas a gente tem que lidar com o ego também. Em vários momentos da vida. E eu descobri que o ego ele existe no ser humano para ele ser superado. Então é muito bom você ter um indivíduo inteiro, individuado. Não ególatra, mas individuado, é sempre um balanço entre todas as coisas, quer seja, como é que a pessoa pode estar no melhor de si mesmo, bem postado, com a auto-estima bem colocada, com as suas sombras bem trabalhadas e ao mesmo tempo podendo realizar coisas no mundo. É todo um processo. É todo um processo.
P/1 – Essas reflexões, como é que você vai vivendo esse processo de pensando sobre o que você faz e como você pode se superar com alguns níveis do que você está fazendo. Como é que você vive?
R – Eu faço muitos tipos de terapia, há muitos anos. Já fiz vários tipos de terapia. Mas as pessoas em volta sempre me educam de alguma maneira porque eu aprendo no contato. Quando eu ultrapasso um limite, quando eu não percebo a visão do outro, quando um funcionário me mostra de alguma maneira que eu deveria ser diferente. Então eu acho que é uma pena que a gente tenha que errar para aprender. Mas é importante que a gente aprenda com os próprios erros, então eu tenho essa oportunidade de refletir sobre as questões que eu gostaria de mudar, de tentar fazer a diferença e de tentar construir algo dentro de mim mesma. Mas são através das fricções, através das pseudoderrotas que muitas vezes não são derrotas, são aprendizados enormes. Eu acredito nesse potencial de se aprender com cada situação por mais difícil que ela seja, então é mais ou menos nessa linha que eu vou. E refletindo mesmo, olhando por que é que aquela pessoa entendeu aquela situação daquela maneira. E respeitando aquele caminho. “Ela deve ter os seus motivos, eu deu margem para que ela pensasse assim?” Gostaria que não, mas dei margem para que ela pensasse assim. Então o que é que em mim está despertando isso no outro? Para mim é uma reflexão profunda mesmo.
P/1 – Ainda nesse nível de avaliação, Nise, oito mil pacientes em situação, com câncer.
R – Muitos curados.
P/1 – Assim, dessas, cada uma, uma grande viagem, provavelmente, como você falou no início. Tem alguma coisa, algum padrão, alguma coisa específica que você aprendeu de tudo isso sem que nessa sua trajetória foi te impactando?
R – Ah sim, eu aprendi o seguinte: em primeiro lugar que realmente o câncer tem cura, desde que você detecte precocemente. Então eu luto muito para que a gente faça a detecção precoce de câncer. Além disso, o potencial inimaginável de cada ser humano é impressionante. A capacidade de superação dos indivíduos. E de conquistar mesmo, coisas importantes. O quanto uma pessoa é importante para uma comunidade inteira, ela não tem noção. Muitas vezes a própria pessoa descobre que ela é mais amada do que ela pensava, ou que a luta dela não é uma luta solitária, que ela tá representando ali para aquele universo de pessoas, uma referência. Então eu aprendi o valor do cotidiano, o valor das coisas simples. Como é gostoso poder comer, fazer uma digestão, como é gostoso poder respirar, como é gostoso poder falar, pensar, se movimentar. E isso é algo que a gente descobre infelizmente quando falta, então eu procuro tornar a vida das pessoas mais agradável, sempre. Tentando encontrar a melhor solução para aquela situação de desgaste ou de perdas e como recuperar a vontade de viver. Uma outra coisa também essencial é que quanto mais a pessoa tiver dentro dela a vontade de viver, mais ela pode ter chances de superar as questões difíceis. Então existe algo que nutre o ser humano e que permeia a sua trajetória. Ela precisa ter vontade de viver vital. Capacidade de se adaptar a situações difíceis, mas também algo que venha da essência do ser humano. E a vida é quase palpável. A gente consegue de certa forma ter essa percepção. Então os pacientes, eles me ensinam isso. O valor das coisas simples, das pequenas coisas.
P/1 – E a relação com a morte, em todo esse tempo?
R – Eu tenho uma relação profunda com a vida. Então eu trabalho a vida, em cada momento. A morte ela é vista como uma derrota pra gente que busca a cura. Então é impossível você não sentir essa perda, essa vontade de superar aquilo de uma maneira diferente e tornar a vida da pessoa mais longa, mais bela, mais digna. Então a morte é sempre difícil de lidar. Por outro lado, essa possibilidade que eu sinto muito presente de que a vida seja eterna, de que pro amor não há tempo, não há espaço, faz eu me sentir muito próxima de todos os meus pacientes que já se foram. E das suas famílias. Então eu costumo conversar com a família que é importante construir essas pontes, é importante abrir os olhos da alma. A gente precisa poder olhar para dentro e abrir os olhos da alma, porque aí você vai enxergar a pessoa dentro de você, no seu coração, na sua mente, na sua memória. A sua referência é construída, abalizada a partir de pessoas que nos antecederam, nossos pais, nossos avós. Então eu procuro trabalhar essa essência. E aí muitas vezes a morte é como se fosse um abrir de asas e a gente poder voar com mais tranquilidade. E é muito mágico quando a pessoa se torna essa essência e fica bem com ela mesma, se encontra, é um grande encontro que existe entre a pessoa e a sua própria essência. E aquele encontro ele ocorre de uma maneira assim intangível. Mas é muito especial. O amor de todas as pessoas em volta ajuda a construir essa ponte. Então eu acredito realmente que a morte é como uma curva na estrada a não ser vista, como dizia o Jorge Luis Borges, porque a gente marca as pessoas e a gente guarda todas as marcas que nos foram impregnadas. E tem que ser muito grata a isso. E viver com muita alegria. Então eu não trabalho a morte, eu trabalho a vida. Assim eu consigo, sabe? Aquele tempo que a gente tiver que ele seja bom, que seja profundo. E a relação humana permite essa eternidade naquele momento.
P/2 – Esse trabalho com a vida que você tá dizendo, não com a morte, então quais são esses avanços, quer dizer, você vai percebendo assim, que lá no começo, 80 e poucos não tinha nenhum aparelho...
R – Ah, isso é fantástico. O avanço da medicina é tudo de bom, porque dizem que é assim: cada vez que a humanidade descobre uma coisa, ela acha que é o máximo. Então foi assim na época do telégrafo, foi assim na época do trem a vapor. Quando descobriram os correios, quando fizeram os correios, acharam fantástico que você podia mandar carta para um lugar que distribuía, porque antes ia para um mensageiro. Quer dizer, cada conquista da humanidade ela acha que é o máximo. Eu vivo a época da descoberta do DNA, da molécula, da terapia gênica, da fantástica possibilidade de você compreender essa maquinária que instrumentaliza o mundo orgânico. Então, no momento em que você tem novas estratégias diagnósticas que é para você diagnosticar mais cedo, para você fazer tratamentos mais corretos e ainda você ter estratégias terapêuticas, é algo maravilhoso porque muda o curso de determinadas doenças. Existe um tipo de leucemia que você dá um derivado de vitamina e as células ruins viram boas de novo. Existe uma outra que você dá uma substância que aquele monte de células leucêmicas envelhecem e morrem. Então existe uma possibilidade de atuação hoje em dia através das terapêuticas que já estão sendo desenvolvidas, extremamente boa. E essa possibilidade de nós estarmos atuando com essa tecnologia, claro, dentro de um ambiente muito seleto. Mas a minha preocupação é como fazer isso ao pensar mais o público, então é muito especial, eu diria que eu espero que nos próximos 20 anos muita coisa tenha mudado.
P/2 – Nise, mas além da tecnologia, você trabalha sempre na sua área com várias alternativas multidisciplinares, então você trata a pessoa holisticamente.
R – São linhas complementares. Na realidade não são alternativas a um tratamento clássico. Eu considero o tratamento clássico, acadêmico, cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, oncológico assim, tratamentos extremamente eficazes. E ter conhecimento dessas áreas me permite circular com mais tranquilidade. E é um conhecimento infinito porque ele inclusive está mudando ao longo do tempo, você tem que tá se reciclando sempre. Agora, a percepção do ser humano como algo maior ajuda nesse encontro entre uma vertente totalmente um mais um igual a dois, com um mais um podendo ser cinco, na realidade, ou dez, ou mil. Você soma possibilidades e o arcabouço fica muito melhor, então eu acho que a medicina ela deve contemplar sim, tudo aquilo que tem de mais moderno em termos estruturados, científicos, tecnológicos, mas ela de forma alguma ela pode esquecer o indivíduo e toda a sua dinâmica e toda a sua família e todos os seus amigos.
P/2 – E essa percepção a gente só com vê com essa possibilidade de você ter feito lá atrás aquele monte de curso de acupuntura, homeopatia, farmacologia. Você acha que é uma percepção sua veio aquele momento ou acha que você criando durante...
R – Eu acho que veio da família que eu tive. Nós temos discussões filosóficas até hoje. Nós sentamos para jantar e tem sempre uma discussão filosófica. E das pessoas que eu encontrei, dos amigos que eu tenho até hoje e de todos esses encontros e desencontros que a vida me trouxe e do que eu fui podendo aprender. Então não é de um fator só, são múltiplos. Até ter buscado conhecer outras coisas que hoje já são consideradas científicas. Na época não era muito considerado científica, acupuntura por exemplo. Como é que você vai entender algo que a dois mil, cinco mil anos atrás falava que aperta aqui, aperta ali e ali produz endorfina. Hoje você sabe o que é endorfina, mas na época como é que as pessoas sabiam? Então são coisas difíceis de explicar. Mas a medicina é feita de muitas coisas difíceis de explicar. A vida é uma delas. Como é que todas as células do seu corpo funcionam ao mesmo tempo? E tem um sistema nervoso automático, tem um sistema nervoso voluntário e os dois têm que interagir. Você pensou na sua mão indo lá e ela foi. Você não precisa lembrar para rabiscar, nem pro seu coração bater, nem pro seu pulmão respirar. E tudo isso tem que funcionar ao mesmo tempo. Então a vida é fantástica. Um amigo meu lá de Nova Iorque dizia assim, que “A vida é um milagre, a ausência do milagre é que é a doença”. Porque tudo funcionar ao mesmo tempo é algo extraordinário.
P/1 – Pensando assim agora pro futuro, que a gente pode analisar um pouco, qual o seu sonho? Uma coisa mais lúdica, o que você gostaria que te acontecesse que você fosse olhar o futuro...
R – Sabe, que eu estava discutindo isso outro dia lá nos Estados Unidos. Eu não tenho grandes aspirações pessoais porque de certa forma eu cheguei mais longe do que eu imaginava chegar em termos de várias áreas. Eu gostaria de ter assim mais tempo. Mais tempo para fazer ciência, mais tempo para estar com os meus filhos, depois mais tarde com os netos, para encontrar os amigos, para jogar conversa fora. E eu gosto muito de esportes, então o ano passado eu fiquei três meses de cadeira de rodas com problema de joelho que eu tive. Gosto de fazer ginástica, enfim, adoro a natureza, mas eu me comprazo com uma flor no jardim, com um pedaço do céu, sabe? Às seis da manhã eu vejo o nascer do sol quase todos os dias, andando em volta do meu prédio mesmo. Então eu não tenho assim grandes... Eu gostaria realmente que a saúde brasileira melhorasse, que a saúde do mundo melhorasse. Isso sim, isso faz parte do meu desejo. Também que nós encontremos mais curas, porque é uma delícia ficar curado. É uma delícia ter saúde. Então que a ciência possa caminhar muito mais rápido, ela precisa de mais cooperação entre as pessoas. E que nós possamos ser mais felizes. São todos desejos amplos que eu não preciso realizar sozinha e nem vão ser realizados agora. Você é só parte de um caminho, parte de um processo. Mas se eu posso desejar algo pro futuro, eu quero mais é que todo mundo seja muito feliz e que dê tudo muito certo, que a gente tenha muita coisa boa, que no botão tem o índice, não é PIB é o FIB, é a Felicidade Interna Bruta. Que a gente possa ter mais felicidade interna bruta como acervo de um país tão especial que nós já temos. E outra coisa, viu, a gente precisa de um marketing melhor para o bem porque o marketing do mal é poderosíssimo. O indivíduo fazendo alguma coisa errada ocupa jornais o tempo todo. E as pessoas boas elas não encontram muito espaço. Esse é um espaço importante, interessante, de multiplicar as ações. Mas de uma maneira geral, a gente precisa de um melhor marketing do bem e poder construir uma crença no ser humano, no indivíduo. Ajudar as crianças a serem crianças mais saudáveis e mais inteiras, que estão vindo umas crianças lindas. Parece que elas chegam prontas. Então acho assim, poder acompanhar esse mundo do jeito que tá. Eu sempre achei que eu iria viver até os 40 anos. Daí eu fiz 40 e achei que a vida tinha investido muito em mim, valia a pena eu andar um pouco mais. Eu tô com 50. Aí fiquei pensando: como é viver até os 80, até os 90. Não é fácil, mas tem muita coisa boa para ser vista por aí, muita coisa difícil para ser trabalhada. E nós estamos aí para lidarmos com o imponderável.
Recolher