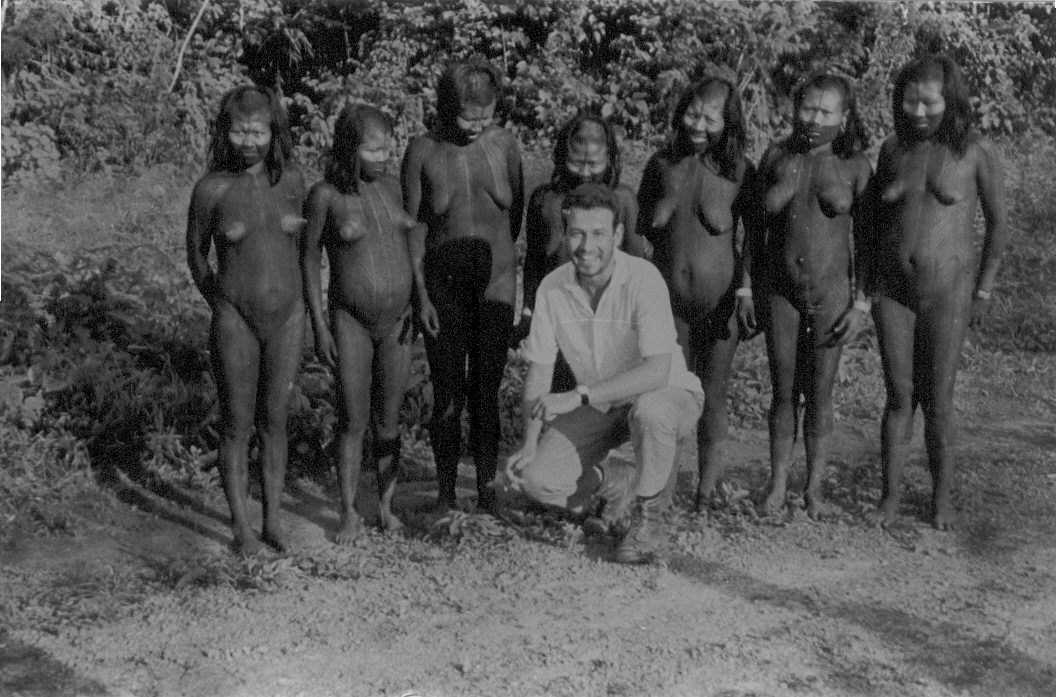Projeto Kinross Paracatu
Depoimento de Paulo Gontijo
Entrevistado por Márcia Ruiz e Luís Gustavo Lima
Paracatu, 15/06/2017
Realização Museu da Pessoa
KRP_HV23_Paulo Gontijo
Transcrito por Karina Medici Barrella
P/1 – Então Paulo, é o bate papo que a gente teve da outra vez, tá? A gente vai conversando, é que dessa vez a gente vai gravar, tá? Então, antes de mais nada queria te agradecer em nome do Museu da Pessoa e da Kinross a sua participação, você ter vindo aqui no dia do feriado.
R – Eu que agradeço a oportunidade.
P/1 – E pra começo eu gostaria que você falasse o seu nome, local e data de nascimento.
R – Meu nome é Paulo Ferreira Gontijo. Nasci em Belo Horizonte, Minas [Gerais].
P/1 – E a data do nascimento?
R – Quatro de dezembro de 1959, 57 anos.
P/1 – E o nome dos seus pais e qual era a atividade deles?
R – Meu pai, Pedro de Paiva Gontijo, é advogado não praticante. E a minha mãe Miriam Ferreira Gontijo, ela é de casa.
P/1 – Você falou que seu pai se formou em Advocacia mas não exerceu por quê?
R – Naquela época, como era muito comum, os pais determinavam a profissão dos filhos e ele teve que fazer, não sei se obrigado a fazer Direito. Só que quando ele formou, ele entregou o diploma pro pai e falou: “Olha pai, é isso que você queria, mas não é isso que eu quero da minha vida, eu quero ser comerciante, vou trabalhar com automóveis”, era a grande paixão dele. E foi isso que ele começou, viveu e criou os seus filhos todos nessa sua profissão de comerciante de automóveis em Belo Horizonte mesmo.
P/1 – Você me falou dos seus avós. E os pais deles, qual era o nome deles e o que eles faziam?
R – Os meus avós, José de Paiva Gontijo, ele era também comerciante, tipo um caixeiro viajante no interior de Minas, onde enriqueceu e mudou definitivamente pra Belo Horizonte e casou-se numa dessas viagens em Ibiá, em Minas, próximo a Araxá (MG), com a Maria do Carmo Gontijo Paiva, que foi a esposa dele durante um período, com sete filhos e o meu pai era o último, até que a minha avó faleceu quando meu pai tinha um ano e meio, quando ela estava tentando o oitavo filho, ia dar à luz e não resistiu ao parto, nem ela e nem a filha. Então, ele perdeu a mãe com bastante antecedência.
P/1 – Você falou que seu avô era caixeiro viajante, ele saía vendendo o quê, você sabe?
R – Ele seguia a estrada de ferro no interior de Minas e vendia tudo quanto era coisa, de roupa, calçados, era tipo um caixeiro viajante mesmo, vendendo tudo, todas as iguarias que tinha e sempre.
P/1 – E quando ele se mudou pra BH ele foi fazer o quê? Porque você falou que ele acabou enriquecendo.
R – É, ele enriqueceu, ele criou o Banco Gontijo Irmãos com o irmão dele na Rua dos Caetés, em BH, uma rua bastante conhecida em Belo Horizonte daquela época. E ele criou os filhos nessa vida de banqueiro e foi se enriquecendo nessa parte do banco mesmo.
P/1 – E por parte de mãe, como era o nome dos seus avós?
R – Por parte de mãe é Sebastião Virgílio Ferreira, o meu avô materno. Ele era engenheiro de minas, formou-se em 1926 em Ouro Preto (MG). E a minha avó também era dona de casa, apelido Lica, mas era Conceição, Maria da Conceição Souza Lima, que é uma família bastante tradicional de Belo Horizonte. E o meu avô, interessante que ele se formou engenheiro de minas em 1626 e foi fazer uma pós-graduação na Bélgica, onde ficou por dois anos, retornou. Como naquela época a mineração não era tão desenvolvida ainda, ele mexia muito com a parte de ferrovia e depois teve uma parte da vida dele na mina de Nova Lima, antiga mina de Nova Lima e depois também retornou à parte da ferrovia, na Rede Ferroviária Federal também. E chegou até a ser professor da escola de Engenharia.
P/1 – E quando ele trabalhou na mina, era uma mina do quê?
R – Mina de ouro, né, em Nova Lima.
P/1 – Quem era a empresa?
R – Era empresa inglesa que é a mina da Morro Velho, antiga Morro Velho de Nova Lima, eram ingleses os donos da mina de ouro. Até eu fiz estágio lá na minha época de escola, em 1983, no ano que eu me formei. E nessa época que eu fiz estágio lá, a parte mais profunda da mina chegava a quase 2 mil e 300 metros de profundidade. E a mina subterrânea muito... hoje já não opera mais, já está fechada, exaurida.
P/1 – E você foi fazer Engenharia de Minas por causa do seu avô ou não?
R – É, teve uma certa influência sim, do meu avô. Eu sempre percebia, a gente ia muito, com uma frequência muito grande na casa dele. Encontrava os primos, a gente reunia a família sempre nos finais de semana lá e ele sempre tinha essas histórias, desde a época dele de engenheiro de minas em Ouro Preto. Ele nos contava muitas histórias de Ouro Preto e aí, por uma influência dele, poderia dizer isso, quando eu decidi fazer Engenharia, eu estava em dúvida qual Engenharia, mas aí, por uma certa influência dele, por ele também ter sido engenheiro de minas de boa performance, um profissional bem conhecido no mercado, eu senti que seria uma boa profissão que eu poderia seguir, seguindo os passos dele, a referência dele.
P/1 – E você falou que ele chegou a ser professor na faculdade. Em BH ou em Ouro Preto?
R – Em BH mesmo na Universidade Federal. Mas na parte Civil, área de Engenharia Civil
P/1 – Você sabe a origem da sua família, o Gontijo de onde é?
R – O Gontijo vem da cidade de Bom Despacho, que é próximo de Belo Horizonte, fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Meu pai sempre fala que se você encontrar um Gontijo no mundo, ele tem a origem em Bom Despacho. E é lá. Bom Despacho eu não conheço, eu vou muito a Araxá porque a minha avó materna, meu pai ia muito quando era garoto nas fazendas lá de Ibiá e a Araxá, então ele ficou bem mais ligado à Araxá do que a Bom Despacho, mas a família do que a família Gontijo. Então Bom Despacho pra mim era só uma cidade que eu passava indo pra Araxá. Meu pai falava: “Seu avô nasceu aí, tal. A origem da família toda é de Bom Despacho”, então o Gontijo é de Bom Despacho mesmo.
P/1 – E você falou que seus pais tiveram sete filhos, né?
R – Meus pais? Seis. Eu sou o quinto.
P/1 – Você contou dessa coisa de ir pra casa dos avós. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância em Belo Horizonte, do que vocês brincavam.
R – Interessante, Márcia, que eu nasci na Rua Paracatu, uma coincidência (risos), em BH, interessante que eu nasci lá, me formei e saí de lá pra minha profissão. Belo Horizonte naquela época, nos anos 60, anos 70, quando a gente começou, a minha infância mesmo era muito tranquila, uma cidade típica do interior, vamos dizer assim, a capital mas uma cidade grande pequena, né? E a gente brincava de pique-esconde, futebol na rua, sempre com os amigos e uma liberdade total. Meus pais nunca, daquela época de uma rigidez grande, me reprimiam ou colocavam alguma restrição a alguma coisa que eu fizesse, mas sempre me orientando, me colocando a par de todas as situações. Foi uma infância muito tranquila. Jogava futebol, era futebol de botão, toitinha, fazia meus times, jogava até sozinho, brincava bastante nessa, gostava demais. E na escola, no colégio desde cedo também sempre jogando futebol, era paixão que eu tinha sempre. Eu lembro que o primeiro presente que eu pedi pro meu pai, quando você estava naquela época jogar bola, foi o uniforme do Flamengo (risos) apesar de eu não ser flamenguista hoje. Eu falo que eu achava bonita aquela meia toda riscadinha, tracejada, vermelho e preto, eu achava muito bonito. Mas depois, por influência dele também, a gente teve que mudar de time (risos), aí sim ele colocou pressão. Mas eu era o quinto, então eu tinha três irmãs mais velhas, o meu irmão, que em 1970, ele com 12 anos e eu com dez anos, ele teve um tumor no cérebro, não era maligno, mas ele teve que retirar, era até do tamanho de um limão, e ele ficou com o lado direito paralisado, a mão, a perna, a fala ele perdeu, então ele já estava na quinta série e teve que recomeçar todo o trabalho de reaprender, de falar e tudo, então isso marcou muito a família na época. A minha mãe estava grávida do sexto, minha sexta irmã. Então, minha mãe, você imagina, com um filho de oito meses, um filho que teve uma cirurgia onde o médico falou que ele poderia ter 80% de chance de não ter sucesso, foi uma situação bem complicada mas que a gente soube superar isso através de muita união da família, de toda a família nessa época, os irmãos também. E eu fiquei marcado com isso, porque eu era dois anos mais novo e, vamos dizer assim, todas as atenções dadas a ele. E eu sabia exatamente esse problema. Eu tinha dez anos, ele 12, então a gente passou por isso e ficou muito ligado. Hoje ele conseguiu retomar a vida dele depois de um tempo com a fonoaudióloga, com todo o trabalho e ele conseguiu terminar o segundo grau, fez faculdade também, Administração, curso técnico, conseguiu passar por essa. E depois de muito tempo da gente achar que ele não se casaria, ele se casou e está bem. A gente é muito ligado.
P/1 – Você falou que nessa época a sua mãe estava grávida, quer dizer, veio uma criança, um novo membro pra família depois de muito tempo.
R – Dez anos, né? Então literalmente eu caí do galho mesmo (risos).
P/1 – Porque você era o caçula.
R – Era o caçula, era o segundo homem, vamos dizer assim, segundo rapaz da família, e ela veio e virou o xodó da casa e eu fiquei mais uma vez, vamos dizer assim, de lado (risos). Mas isso foi bom porque eu me amadureci bastante nessa questão do meu irmão e ter ela também porque as atenções pra ela, recém-nascida, e pra esse meu irmão que teve essa dificuldade, teve esse problema. A gente sabe superar isso e dosar.
P/1 – E como é que se descobriu a doença? Teve algum sintoma, como é que foi?
R – Teve um sintoma, eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos almoçando na casa dos meus pais, com um casal de parentes de Araxá, primos nossos, e meu irmão pediu ao meu pai que colocasse um guaraná pra ele no copo. O meu pai pediu para que ele colocasse. Quando ele foi colocar o guaraná ele jogou o guaraná totalmente fora do copo. O meu pai, todo mundo estranhou, um almoço com parentes ali tudo a gente achou estranho, não estava tendo nenhuma brincadeira nisso. Minha mãe olhou e no dia seguinte, na segunda-feira já levou ele no médico, no oculista e o oculista, no exame de fundo de olho, detectou que tinha um tumorzinho ali. Aí foi no neurologista e esse neurologista, que o acompanha até hoje, detectou e viu: “Olha, nós temos que fazer uma cirurgia rápida”. Naquele ano, a dificuldade, 70, não tinha uma tecnologia de Medicina tão avançada, por isso que ele teve que fazer uma abertura do lado esquerdo que comprometeu toda a parte direita. E aí quando ele tirou já estava do tamanho de um limãozinho já. E se ele não tirasse, aí não tinha como escapar. Mas teve que encarar e, felizmente, deu certo.
P/1 – Você colocou as coisas das brincadeiras, da infância em BH, que era uma cidade mais tranquila, tal. Do que você brincava e como é que era a rotina na sua casa, você um pouco antes, sendo filho único, mais novo, mimado, vamos dizer assim, com o que você brincava, como era a rotina de ir pra escola?
R – Meu pai todo dia cedo levava todos nós de carro pra escola. Ficava na escola na parte da manhã e na parte da tarde chegava em casa, almoçava, fazia dever de casa. Eu era bastante dedicado, eu gostava de sempre estar... Não deixava nada pra brincar logo, então já fazia o dever de casa logo. E a rua ali, a gente tinha os vizinhos ali que era uma turma grande, a gente devia ter de 15 a 20 meninos na idade de 15 a dez anos ali, então a gente já partia pra brincadeira logo, principalmente futebol na rua, era a brincadeira preferida nossa. E eu não era tão santinho, eu era um capeta mesmo. A minha mãe (risos) passava apertado comigo, apesar de eu parecer um pouco retraído, meio tímido, mas quando eu era menino, minha mãe me dizia bastante que eu aprontava muito. E eu lembrava disso, a gente andava de bicicleta, carrinho de rolimã, saía da Avenida Amazonas que era próxima ali, na rua acima, a gente descia da avenida e já entrava dentro de casa. E tinha uma piscina lá em casa no fundo e tinha uma garagem que tinha um acesso lá pra lateral da casa que a gente passava por ela e saía lá embaixo na piscina. Ali todo dia um saía com um ralado na perna, todo dia um saía machucado ali, mas era brincadeira que no dia seguinte estava todo mundo lá de novo, do mesmo jeito. Bicicleta eu já tomei vários tombos, então era muito bom, era divertido. E a turma muito boa também. E a gente cresceu junto, os colegas, até hoje existe o tal do WhatsApp então tem a turma dos velhos amigos da rua, a gente sempre está se comunicando hoje. Mas é uma coisa assim, inesquecível. Muito, mas muito bom mesmo, não me arrependo e se falassem: “Vamos voltar àquela velha infância”, voltaria na mesma hora e estaria brincando. Eu acho que isso ajuda muito hoje a questão do relacionamento, naquela época você ter uma equipe grande de colegas, a gente se relacionava muito bem. Tinha brigas também, às vezes brigava com um, mas no dia seguinte já fazia amizade de novo, aquela coisa de menino. Mas era bom demais, era fantástico.
P/1 – E você disse que essa turma era uma turma grande, era mais meninos ou tinha meninas também?
R – Era mais meninos. As minhas irmãs já eram mais velhas, eu já tinha uma diferença grande com elas, mais de seis anos, então elas já eram mais do lado de namorado e a gente era mais menino mesmo, era mais de brincadeira e a meninada de 12, dez, 15 anos, a gente tinha, era mais menino.
P/1 – E como era dentro de casa, a rotina? Vocês almoçavam, vocês sentavam à mesa com pai, com mãe no almoço, jantar, conta um pouquinho.
R – Sim. Era um ritual bastante, a gente tinha esse ritual todos os dias. Cada um tinha o seu lugar, meu pai tinha o lugar dele, a minha mãe, meus irmãos também cada um no seu lugar. Eu como era o quinto eu fiquei meio de lado lá (risos), eu fiquei mais na ponta e quando a minha irmã nasceu, a mais novinha, ela ficou na cadeirinha do lado, do meu lado, eu tive que dividir meu espaço com ela (risos), mas sempre problema nenhum. Mas a gente tinha esse ritual, tinha os lugares marcados, meu pai tinha o lugar dele, minha mãe, até hoje meu pai senta no mesmo lugar, minha mãe já faleceu, mas ela tinha o lugar dela também. E interessante que meu pai era rígido, mais quieto com a gente, mas todos os dias à noite quando dava oito horas, o relógio da nossa sala de jantar tocava oito horas o meu pai só olhava pro relógio e todo mundo já saía, já sabia que é hora de dormir. Ele não falava nada, só o relógio tocava, ele olhava, todo mundo já sabia que era hora (risos). Oito horas, tá na hora de dormir. Aquela musiquinha, né? (risos).
P/1 – E que lembranças você tem, por exemplo, degustativas, quais eram as comidas que eram servidas, se tinha uma coisa de ritual de dias, de cardápio?
R – Minha mãe tinha um ritual mesmo, toda terça-feira ela ia na feira, no mercado, tinha o mercado lá da Barroca e toda terça-feira ia lá, então já tinha o ritual, na terça-feira a gente sabia que ia ter costelinha de porco com couve, isso era certo, terça-feira. Quarta-feira, frango. Quinta-feira, macarrão. Sexta-feira, bife. Sábado a gente saía pra almoçar fora. Domingo também. Sábado e domingo eram mais livres, meu pai definia onde a gente ia almoçar fora pra dar uma folga pra dona de casa (risos), que era a minha mãe. Mas de segunda à sexta tinha o ritualzinho, era bem metódico, muito metódico mesmo. Igualzinho na casa dos meus avós, os pais dela. Igualzinho. A casa do meu avô também era uma coisa rígida. Não é rígida, metódica, tinha tudo certinho, você chegava o horário certinho, era muito interessante.
P/1 – E você comentou com a gente que você ia muito à casa dos avós paternos, né?
R – Sim.
P/1 – Que era o seu avô...
R – Maternos.
P/1 – Maternos. Desculpa. E era ele que era o engenheiro de minas.
R – Ele que era o engenheiro de minas.
P/1 – Conta um pouquinho como é que era essa frequência. Eles moravam em Araxá?
R – Meus avós moravam em Belo Horizonte, no bairro Floresta, que é um bairro bem tradicional de BH. Domingo era sagrado, domingo religiosamente a gente tinha que estar lá na parte da tarde, que tinha o lanche da família lá, todo domingo à tarde. Então, a gente participava. A gente chegava, meu avô já estava sentado na cadeirinha dele e tinha que tomar a benção, todos os netos tinham que tomar a benção dele. Você não entrava em casa se você não tomasse a benção dele pra então brincar, ver os primos e tudo. E sempre tinha o lanche, também o horário certinho, cinco horas da tarde, esperava todo mundo chegar. E tinha uma tia minha que sempre chegava atrasada, mas ela sempre perdia o lanche (risos). Eles não esperavam, meu avô não esperava, falava: “Disciplina tem que ter, vamos começar”, sempre fazia esse ritual. E aí eu encontrava esses meus primos. Nós éramos 21 netos, 17 mulheres, só quatro netos, eu, meu irmão e os outros dois irmãos da minha tia, irmã da minha mãe. A minha mãe tinha três irmãs, eram quatro filhas na casa do meu avô e essa mulherada, que eram 17 netas, as quatro filhas, então nós quatro era os que mais resistia, que achava bom que era pouco menino. Mas era muito legal, era um encontro muito bom com a turma. Meu avô tinha um sítio próximo de Belo Horizonte, em Contagem (MG), a gente ia até de trem pra lá, era muito bom também. E lá a frequência era menor, a gente ia uma vez por mês, fazia às vezes encontro, final de ano também, a gente fazia um encontro com eles lá da família mesmo. E algumas vezes a gente passava alguns dias lá, mas a gente tinha que marcar o dia porque outros tios queriam ir, outras tias queriam ir, primos e tudo, então o meu avô tinha um esquema de controle lá.
P/1 – De rodízio.
R – De rodízio lá. Mas era muito legal, muito bom também.
P/1 – Você falou que ele contava histórias de Ouro Preto. Como eram essas histórias que ele contava pra vocês, você lembra de alguma?
R – Meu avô, quando eu fui fazer vestibular eu falei com ele: “Vô, eu não sei se vou pra Ouro Preto ou pra BH”. Ele falou: “Olha, se você quisesse, lá em Ouro Preto tem duas chances, ou você vai ser um pinguço danado ou estudioso daqueles, ou vai beber ou vai estudar, não tem outra alternativa”. E felizmente ele foi pro lado, alguns até devem negar: “Não, o bom é beber” (risos), mas ele foi mais pro lado do estudo, né? E ele fazia muito serenata em Ouro Preto, que era comum na época, do namorado tocar pra namorada e tudo, então ele fazia. E até fazia serenata pra outros colegas dele também, né? Ele tocava violão muito bem, então o grande esquema dele era esse, quando não estava estudando ele estava fazendo serenata (risos).
P/1 – Você falou desse sítio. Como é que era esse sítio? Quando vocês passavam, do que vocês brincavam no sítio, tinha alguma atividade específica?
R – Pra variar tinha um campinho de futebol, a gente jogava um futebolzinho, e muito eram árvores frutíferas, de tudo quanto era tipo. A gente ficava brincando nesse terreno grande lá que tinha, pegar jabuticaba e tudo na acaba e fazia de tudo, era muito bom. O sítio ficava em frente da linha férrea. A estação um pouquinho pra frente, uns 200 metros, então a gente ia lá também na estação ver o trem chegar e quem estava chegando. Tinha uma igreja, tinha umas irmãs que moravam na casa ao lado e a gente frequentava. A minha tia, irmã da minha avó, que era muito devota, muito religiosa, ela fazia aqueles encontros da paróquia lá e tudo, então a gente frequentava bastante lá, era bem interessante. Mas eu era muito pequeno naquela época, era seis, oito anos, dez anos, não tinha muita lembrança.
P/1 – Como é que era a escola? Qual a primeira lembrança que você tem da escola, onde você foi estudar, conta um pouquinho pra gente essa fase inicial.
R – Eu estudei num grupo próximo lá de casa, Grupo Escolar Pandiá Calógeras, era do Estado. Fiquei lá quatro anos porque lá só tinha o primário que chamava na época, primeira à quarta, e depois, eu fui para o colégio, que é próximo também lá de casa, que é o Colégio Loyola de Jesuítas. Aí sim, esse colégio, que tinha também um campo de futebol enorme de terra que hoje não tem mais, já fizeram quadras e outras coisas, piscina, tudo. Naquela época, aí que eu criei uma amizade muito grande, uma turma muito boa no nosso ano, que a gente também se encontra ainda, a gente tem encontros da turma. E eu fiquei da quinta série até o final do primeiro grau e o segundo grau todo, científico a gente chamava, os três anos, então foram sete anos no colégio. E aí a gente tinha muita atividade também. Além das atividades esportivas dentro do colégio a gente tinha muitas excursões pra fora, os colégios jesuítas se encontravam, então a gente foi em Nova Friburgo no estado do Rio [de janeiro], ia pra Paquetá, ia pro Rio de Janeiro mesmo. Tinha um encontro dos colégios jesuítas e a gente participava disso. E eu gostava de participar, principalmente pelo esporte, a gente participava muito. Esse relacionamento, desde cedo, eu gostava demais, de conhecer pessoas, amigos, fazer amigos e colegas, enfim, era muito bom, muito interessante ter esse contato. Conhecer novas pessoas, ia pra outros lugares e tudo.
P/1 – E o colégio era um colégio só para meninos ou era...
R – Não, era misto.
P/1 – Na sua classe tinha menina.
R – Tinha, tinha menina. Tinha as paqueras (risos).
P/1 – E vocês tinham uniforme, como é que era?
R – Tinha uniforme. Era calça jeans mesmo e a camiseta do colégio, com o distintivo do colégio.
P/1 – Você também tinha um ensino religioso?
R – Tinha. Nós tínhamos ensino religioso até a oitava série. Depois, quando a gente entrou pro segundo grau, mais pra pegar, estudar mais pro vestibular, aí a gente não tinha não. Mas a gente tinha sempre, tinha missa lá no colégio. A gente jogava futebol no sábado e depois tinha uma missa, então a gente ia na missa. O colégio tinha sempre esse lado religioso bem forte por eles serem jesuítas. Os padres moravam, tinha uma casa do lado do colégio onde eles moravam.
P/1 – E seus professores eram todos padres jesuítas ou não?
R – Não. Alguns, sim. Lá atrás, na quinta, sexta série eram, depois não foram mais padres como professores, mas no início tinha sim, os padres eram: professor de História, professor de Ensino Religioso, o reitor do colégio era o nosso professor. Mas as outras matérias não.
P/1 – E me fala uma coisa, Paulo, dessa época, teve algum professor que te marcou e por quê?
R – Teve. Um que marcou muito (risos). É aquele que você pede uma nota, o professor Valtencir, não esqueço dele, barbudo, ele tinha uma barbona. E eu fui muito mal na prova dele e fiquei apavorado, fiquei preocupado que não ia passar. Aí a minha mãe que me ajudou. Eu tinha 11 anos e a minha mãe era minha anjo da guarda e ficava estudando comigo mesmo.
P/1 – Que matéria que era?
R – Era Ciências (risos). E aí eu falei: “Agora eu vou”, eu fui atrás e consegui e não tive problema mais, mas aí que eu comecei a dar mais valor, sei lá, ou mais atenção pra estudo mesmo. Aí eu peguei firme mesmo e não tive mais problema. Depois minha mãe só acompanhava, eu estudava muito pra não passar aquilo que eu passei.
P/1 – E nessa época, o que você queria ser quando crescesse?
R – Eu não tinha não, nem jogador de futebol eu pensava (risos), naquela época não ganhava muito (risos), hoje quem sabe.
P/1 – E como se deu essa fase? Você falou que essa turma da escola, você criou uma amizade muito forte, tal. O que vocês faziam pra se divertir na fase de adolescência, como era?
R – Era barzinho, saía nos barzinhos e festa, muita festa. Na época mais novo, de 15 anos. Engraçado, não engraçado, mas era comum em Belo Horizonte as festas de 15 anos serem nas casas mesmo. Não tinha nas casas esse negócio de ter um local, alugar um local pra fazer. BH era bem menor, então daria tranquilo. A família, você conhecia todo mundo então, os pais davam as festas nas próprias residências. Ou era aniversário mesmo ou festa de 15 anos ou qualquer outra coisa. Eu não me lembro de ir a muitas festas, a maioria era em casa mesmo, não era em locais alugados e tudo, o que hoje é bem mais comum. Então, era festa, barzinho, a gente ia muito a barzinho. Até um colega nosso comprou um barzinho e eu fui garçom, trabalhei de garçom um bom tempo pra ele, gostava, final de semana, você ganhava os 10% pra comprar um presente pra namorada, pôr gasolina no carro do meu pai (risos). Meu pai deixava sempre o carro, a gente tinha um Fiat 147 em casa pras minhas três irmãs e eu, quatro, então eu sempre falava: “Eu abro mão de segunda à sexta, pra mim não tem problema. Sábado pra mim e domingo é sagrado”. Elas falaram beleza. Elas também tinham os namorados, a maioria tinha carta e tudo, então o carro ficava comigo no final de semana. E os meus colegas, normalmente muitos deles não tinham carro e não tinham carteira de motorista, na época dos 18 anos. Aí a gente saía, eu que saía e o carro lotado, a gente saía pra passear. Engraçado que a gente falava, vai pra farra e tudo, mas nós nunca tivemos uma época de sair pra bebedeira. A gente bebia numa boa, socialmente, mas eu não me lembro de ter uma frequência muito grande. Teves umas épocas, uns dias assim de final de ano e tal, a gente bebe um pouquinho mais, mas de ter problemas de ter acidente ou eu ter alguma coisa. Naquela época não era comum usar cinto de segurança, apesar de não ter celular também, mas era o cinto de segurança, pelo menos na nossa turma não tivemos nenhum problema de algum acidente que tivesse nessa, que acontece.
P/1 – E essa turma viajava, ia pras cidades próximas? Final de ano você falou que bebeu. Ia, saía Natal, Ano Novo? Como é que era isso?
R – Na época depois de 18 anos, a gente já com carteira, a gente ia muito em Cabo Frio, pra passar. Mas a gente ia mais no meio do ano, não ia no final do ano; no final do ano ia mais com a família, mas em julho a gente ia pra Cabo Frio, a gente ia a turma mesmo, a gente alugava um apartamento lá e ia a turma toda pra lá. E ficava lá 15 dias, passava um tempo com os colegas e voltava. Ia de carro, dois carros, uns oito colegas.
P/1 – E tudo menino, não tinha nenhuma menina.
R – De vez em quando apareciam as meninas lá (risos). Não, mas era namorada às vezes, naquela época já era comum. Não era tão comum, mas ia (risos).
P/1 – Você contou um pouquinho que você estava na dúvida quando você terminou o segundo grau entre Engenharia de Minas e...
R – Eu tinha certeza que eu ia fazer Engenharia, agora qual eu estava na dúvida. A de Minas, a referência do meu avô, essa aí foi que decidiu, digamos assim. Mas eu estava também pra Engenharia Elétrica. Tanto é que eu fiz na Católica vestibular pra Engenharia Elétrica e não tinha Engenharia de Minas, né? Naquela época você tinha que fazer um vestibular só. Por exemplo, Ouro Preto, você tinha Ouro Preto e tinha BH, era o mesmo dia, no mesmo período, na mesma época; você tinha que escolher. Na Católica era diferente. Agora Federal eram todas no mesmo dia, na mesma época. E a Católica não, mas a Católica não tinha Minas e eu fiz a Engenharia Elétrica. Mas aí quando eu passei na Elétrica e passei na Minas eu falei: “Ah, eu vou pra Minas mesmo”, além porque também era Federal, né?
P/1 – E como foi esse período da faculdade? Teve algum professor marcante, como foi o fato de você direcionar a sua carreira, como você desenvolveu um pouco o direcionamento da sua carreira? Já se deu na faculdade ou não?
R – Na faculdade, os dois primeiros anos é o famoso ICEX [Instituto de Ciências Exatas], que você vai bem as matérias básicas, não é nada ainda relacionado à sua área específica, né? Eu só comecei na Mineração no quinto período, no terceiro ano. Os dois primeiros anos só pra conhecer a turma, era no ICEx, não era na escola, era misturado, tinha Metalúrgica com Arquitetura, era uma coisa só; você não tinha uma vivência da sua área. No quarto período, lá no ICG, Instituto de Geociências, a gente começou a fazer uma mineralogia, um curso mais ligado, que foi até ótimo, a gente: “Ôpa, agora é a área que a gente vai começar”. Aí sim, no quinto período, quando a gente passou pra Escola de Engenharia, que o ICEx era na Pampulha, em BH, passou pro centro da cidade, onde existe a escola de Engenharia, até já não é mais hoje, passou todo mundo pro campus da Pampulha, a gente começou a fazer toda a parte especificamente da nossa área. Começou com exatamente a área que eu fiquei e estou até hoje, que é a área de Tratamento de Minérios, seria a parte mais de beneficiamento de minérios, que foi o que marcou, não sei se foi o primeiro contato, mas foi a coisa que eu mais gostei. Apesar de que os meus estágios que eu fiz, eu fiz muito em mina, no caso de Nova Lima, lá de Morro Velho foi mina subterrânea, que não tinha nada a ver com tratamento de minérios que eu tinha feito, que é o início do curso. Mas o que me influenciou realmente foi o primeiro período na escola, o quinto período que seria o primeiro contato direto com a área específica mesmo, foi o que eu gostei mais, que fazia os ensaios, preparação de análise de amostra e tudo. Eu fazia toda essa parte que hoje a gente tem contato e faz, no meu caso específico, na minha profissão aqui em Paracatu e também nas outras áreas de interesse.
P/1 – Como era o seu cotidiano dentro da universidade? Você tinha aula o dia inteiro, aula meio período? Você disse que você fez estágio, você começou a fazer estágio quando?
R – Eu fiz estágio no penúltimo e último ano, os dois últimos anos. No início você ainda não tem ainda uma base, então você começa mesmo no sétimo período, oitavo período a fazer estágio. Mas as aulas eram, no ICEx a gente passava praticamente o dia todo lá, nesses dois primeiros anos eram dedicados no ICEx, todo o período. Na escola, dependia das matérias, você tinha algumas matérias às vezes de manhã e só alguma à tarde, ou se só tinha à tarde. Não tinha um horário fixo, dependia da carga da matéria que você faria. Na escola mesmo, nos últimos três anos, era diversificado, às vezes tinha de manhã, de manhã e de tarde, às vezes não tinha nada de manhã e você só vinha à tarde, então era bem diferente.
P/1 – E teve algum professor que te marcou?
R – Lá no campus essa de Mineralogia me marcou, ela era uma mulher, Vitória, ela tinha uma didática muito boa e ela te ensinava com uma facilidade, você aprendia com uma facilidade. E como foi o primeiro contato que a gente teve na escola, basicamente com a área da mineração, ficou bem marcante. Num belo dia lá na prova, ela chegou, era dado um mineral pra você e você descobre o que é isso aqui. Dava um pra cada um e cada um tinha que descobrir que mineral que era aquele. Eu não esqueço que o meu foi o manganês. E assim, você tinha que descobrir o que era aquilo, ele te dava uma pedra e falava: “Vai, o que é isso?”.
P/1 – E como é que você descobriu?
R – A gente vai pegando. Você pega pelo conhecimento que você teve, então você vai buscando aquele peso.
P/1 – Ah, então você descobre que tipo de mineral pelo peso...
R – É, pela cor, às vezes o peso mesmo você sente, você vai tentando. Mas você podia consultar alguma coisa pra ajudar. E ela fazia de propósito isso, ela provocava: “Vai, descobre isso o que é”. E provocava mesmo: “Busca o que é isso aí”. Acho interessante.
P/1 – Onde você fez o seu primeiro estágio e como é que você conseguiu?
R – Primeiro estágio eu consegui, foi uma bolsa. Na verdade, essa bolsa era do Instituto Brasileiro de Mineração que tinha bolsas de estudo que você poderia acompanhar seu trabalho durante o seu, não alterava em nada o seu dia a dia, o seu cotidiano, as suas matérias, e quando você tinha esse tempo seu dedicado, você dedicava duas horas ali pra fazer, pela bolsa você fazia esse trabalho. Tinha visitas pra fazer em minas. Eu entrei pro lado do manganês, porque próximo a BH tinha algumas minas de manganês e que estavam necessitando, eram minas pequenas, mas que estavam necessitando de um aporte. E pra gente foi bom também, foi essa bolsa. Agora, em uma empresa mesmo, uma mineração mesmo foi na Morro Velho, meu pai até conseguiu, por questões de que essa empresa lá de Nova Lima comprava veículos na agência do meu pai. E o sócio do meu pai conhecia muito um diretor, meu pai pediu pra ele: “Pede um estágio pra ele, está formando, tal, vai formar esse ano”. Foi quando eu fui no último ano, no nono período. E Nova Lima é pertinho de BH, então, não precisei mudar pra lá, saía cedo de casa, seis horas da manhã. E lá na mina era de sete às duas da tarde o horário, era só esse horário mesmo porque o horário de mineração de mina subterrânea é restrito a seis horas. Então, a gente tinha de sete às 14, mas tinha uma hora de almoço, você já saía, almoçava e ia embora. Eu saía seis horas da manhã de casa e na época fria porque julho, agosto, faz um frio, Nova Lima é muito frio. A gente ia cedinho pra lá, você entrava na mina e começava a descer a mina com os elevadores lá que desciam de uma vez 600 metros. E era linha de produção, tinha pessoas e o minério saía embaixo, nos skips, nos vagõezinhos lá. Então era muito rápido, você descia 600 metros, bum, já sentia o calor porque o negócio começava a descer e ia esquentando muito. E a mina chegou até 2 mil e 300 metros. Eu cheguei até lá no fundo uma vez e as pessoas, os operários lá, era somente com calção e a lampadinha lá, lunetinha e mais nada. Suando, um calor danado. E muita poeira lá dentro.
P/1 – E como era a questão de oxigenação?
R – Tinha o sistema de ventilação, era obrigatório. Não era tão bom quanto hoje, tão desenvolvido quanto hoje, mas tinha um sistema de ventilação. Não era tão difícil assim.
P/1 – E o que você fazia como estagiário? O que você foi lá pra fazer?
R – Eu fui muito mais pra aprender, mas eu acompanhava muito a parte de desmonte, detonação, lá dentro. Por isso eu acho que eu nunca mais fui entrar em mina subterrânea (risos), não tive mais essa vontade, vamos dizer assim. Porque teve um fato que eles fizeram lá comigo, como eu era estagiário, eles aprontaram uma com o estagiário e eu fui o estagiário escolhido (risos). Eles entraram, a gente estava fazendo, porque lá são níveis e tem nível e subnível. No subnível ele faz a detonação. E eu fui com essa primeira turma e eles iam fazer no nível também, mais longe um pouquinho, eles iam fazer uma detonação lá e uma no subnível onde eu fui. E a gente combinou: “Olha, vocês detonam primeiro, descem, avisem pra gente, a gente detona e vai embora. Combinado?” “Combinado”. Nós fomos. Subimos lá o subnível, fomos lá no final, enchemos. Porque lá era tudo com perfuração, com martelete, não tinha como é hoje toda a tecnologia com jumbo, faz tudo automático e o cara praticamente só liga a máquina, ela faz tudo pra você. E aí, o que eles fizeram? A gente estava no subnível e daí a pouquinho eles chegaram e falaram: “Nós já detonamos lá” “Ué, mas vocês não fizeram o que nós combinamos, dá o fogo aí e vamos embora?”. Aí o cara falou: “Eles estão brincando com você porque você é estagiário”. Eu falei: “Vamos embora, vamos embora! Liga lá, dei o fogo lá e nós descemos”. Mas não era brincadeira, não, eles realmente deram o fogo e não era pra pegar o estagiário não, sei lá o que eles estavam pensando. E nós tivemos que dar o fogo rapidinho e descer. Quando a gente virou no nível o negócio começou a pipocar. Aí eu não fiquei muito satisfeito com eles não, eu falei: “Acho que vocês não fizeram a coisa legal” “Ah, mas não, isso é o que a gente faz com estagiário” “Não, mas isso aí não foi, foi um negócio que...”. Hoje, se a gente fizesse um negócio desse, eu acho que o negócio ia dar algum problema para os funcionários lá, não ia ser legal, não (risos).
P/1 – E tinha um risco de...
R – Tinha um risco. E isso aí marca. Eu falei: “Eu não vou mexer com isso aqui dentro de mina, é melhor ficar numa mina à céu aberto, é bem melhor, do que em mina subterrânea” (risos).
P/1 – Os estágios que você fez foram esses dois das minas próximas a Belo Horizonte e depois lá em Nova Lima.
R – É.
P/1 – E como foi se formar, como é que estava o mercado na época que você se formou e qual foi o seu primeiro emprego?
R – Bom, me formei em 1983, uma época de muita recessão, muita crise. A crise principalmente da mineração, não tinha nenhum projeto pra sair, em vias de sair, apesar de que Carajás (PA) foi descoberto, mas foi descoberto em 84, 87, que foi o grande projeto da época no Brasil. Mas quando eu me formei a gente não tinha praticamente nenhuma opção. Tinha uns colegas meus que tinham feito estágio e que as empresas os recrutaram, que foram poucos, no máximo acho que três, e eu fiquei realmente parado, eu não tinha opção na época. Depois de seis meses que eu me formei, em junho, aí sim eu tive uma oportunidade que surgiu no Mato Grosso, Alta Floresta, através do meu cunhado que o irmão dele tinha conhecimento no Ministério de Minas e Energia e tudo na época, ele conseguiu, através desse pessoal dessa empresa, que é a Paranapanema, que foi meu primeiro emprego. Paranapanema é uma empresa de construção e de terraplanagem, pavimentação, mais empresa de construção civil onde eles foram pro ramo da Mineração também, principalmente no Norte, onde foi Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Eles tinham minas de cassiterita em Rondônia e essa mina que eu fui no Mato Grosso, que foi meu primeiro emprego na Mineração Porto Estrela que chamava, era de ouro, ouro de aluvião. E eu não tinha outra opção, eu tive que ir e fui, eu queria ir também, tinha vontade de sair, de começar a minha vida profissional, eu tive essa oportunidade que pra mim foi muito boa pra questão de relacionamento. Tecnicamente é uma operação que eu poderia dizer simples, não tem uma parte técnica tão avançada, nem tecnologia, mas que pra mim foi muito interessante na parte de começar a vida profissional com relacionamento com as pessoas também. O primeiro contato com a profissão, foi muito interessante. As pessoas que estavam, os profissionais de lá me acolheram muito bem e a gente trabalhava numa região remota, que era Amazônia, norte do Mato Grosso, e eu morei num antigo acampamento de garimpeiros, que era um garimpo lá onde a empresa pediu alvará de pesquisa e depois lavra e tirou os garimpeiros de lá. E aí a gente morou lá. Nos primeiros seis meses, até ela construir casas, nós moramos nos acampamentos de madeira dos garimpeiros e sem nenhum problema, me adaptei bem, eu com 24 anos querendo iniciar a minha vida profissional estava achando tudo bem, não era casado ainda, então não tinha nenhum empecilho, vamos dizer assim. E eu também queria sair de casa, que já tinha vivido meu tempo todo ali, 23 anos lá, então já estava na hora de formar e ir embora. Então foi interessante, foi bom, dois anos. Muita gente fala: “Puxa vida! Você foi para um lugar remoto, é muito difícil e tudo”. Mas eu não me arrependo de nenhum momento, pelo contrário, achei que pra mim foi um início de profissão muito positiva, principalmente a questão do relacionamento das pessoas. Tanto é que a minha vinda aqui pra Paracatu teve um ponto importante de um colega que era de lá, que tinha ido para a Rio Tinto [Mineração], em Brasília, e quando eu estava em Araxá, já depois de sair do Mato Grosso, que eu fiz um contato com ele, e ele me indicou pra vir pra cá. Quando eu recebi o telefonema da psicóloga da Rio Tinto na época, em 1989, ela falou: “Olha, tem uma recomendação de você aqui através do Fernando, que trabalhou lá em Alta Floresta”. Eu falei: “Ah, o Fernando Atorraca”, que ele que tinha indicado e aí começou essa minha vinda pra cá.
P/1 – Então, Paulo, vamos voltar um pouquinho. Você foi pra essa mina lá no Mato Grosso, na Paranapanema e você falou que foi morar no alojamento dos garimpeiros. Era uma mina distante de cidade e conta um pouquinho como era o cotidiano lá no trabalho.
R – A base lá era Alta Floresta, Mato Grosso, que na época tinha sete mil habitantes e hoje deve ter já na casa dos quase 80 ou mais. A base era lá mas a gente morava e a tinha que estar na mina que ficava a seis horas de carro, ou 40 minutos de avião. A gente ia normalmente de aviãozinho, bimotor, que dá uns 400 quilômetros mais ou menos, de Alta Floresta. E a gente morava num acampamento lá no meio da selva mesmo. E tinha uma pista de pouso, o acampamento e as unidades operacionais. A gente tinha o quê? Morávamos em torno de 400 pessoas ali.
P/1 – E tinha um restaurante que era próprio da empresa.
R – Tinha. Não esqueço do primeiro dia quando eu cheguei lá, não tinha acho que uma semana que eu estava lá, os caras lá não gostaram não sei se do arroz, não sei o quê, da comida e eles literalmente viraram a mesa do refeitório com tudo em cima (risos), simplesmente viraram. E os funcionários da empresa eram os garimpeiros, então, a rotatividade era muito alta, todo mês você tinha que tirar sua equipe e buscar novas pessoas e tudo. Então isso te faz esse relacionamento, essa interação direta com as pessoas, de tudo quanto é lado do Brasil. Saía um ônibus da empresa pra buscar pessoas, funcionários, ao longo do Norte e Nordeste porque era uma rotatividade altíssima.
P/1 – E como é que era? Você falou que era ouro de aluvião.
R – É. Lá na Amazônia tem os vários igarapés, são os riozinhos pequenininhos onde está o ouro. A gente faz o plano de tirar aquilo ali com alta pressão, com monitores de alta pressão, você faz um desmonte, a gente chama de desmonte mecânico, com esses monitores com água e esse material que é desmontado vai numa bomba e vai pra plantazinha que tem uma gigagem que é um tipo de equipamento que você usa e usa o mercúrio também. No final do processo, quando você pega o seu concentrado, o mercúrio vai formar a amálgama. E essa amálgama é o produto final. E aí a gente tinha quatro plantinhas dessa lá, que tirava no final do dia, buscava essa amálgama e levava pra fazer a destilação e separar o mercúrio do ouro. No meu caso, eu era responsável por essa área de produção, de pegar esse material no final do dia e no sábado a gente fazia essa destilação, pegava todo o material que foi recolhido durante a semana e destilava, separava o mercúrio do ouro e ficava a parte de ouro mesmo. E não era puro, você tinha que levar pra São Paulo.
P/1 – E como é que vocês faziam essa separação do mercúrio e...
R – É no destiladorzinho, você aquecia e o mercúrio saía em forma de gás e virava líquido no destilador e saía. Se recuperava esse mercúrio também. Mas lógico que essa recuperação não era 100%, infelizmente, na época a gente tinha o mercúrio presente ali, alguns colegas lá mesmo tiveram problemas com mercúrio, dá dormência, até cegueira. E hoje é proibido, na mineração. Aqui muitas pessoas perguntas: “Ah, vocês usam mercúrio lá em Paracatu”. Nunca usou.
P/1 – E você ficou quanto tempo lá?
R – Dois anos.
P/1 – E você saiu por quê?
R – Eu saí porque quando eu voltei de férias pra cá, Belo Horizonte, um colega meu me ligou: “Olha, eu tenho uma oportunidade pra você aqui próximo, Diamantina, uma mina de diamante. É uma empresa pequena”. Uma empresa de construção civil, só que a minha decisão foi voltar porque lá a gente fica totalmente fora do mercado, ou você fica lá pro resto da vida ou você toma uma decisão, volta e vai buscar. Foi isso que eu fiz. A minha pergunta primeira foi: “Você quer ficar no Norte o resto da vida?” “Não”. Eu não tinha essa vontade, foi a necessidade que me fez ir pra lá. Então eu retornei e fui a Diamantina. Logicamente eu sabia que em Diamantina também não era o local que eu queria pra ficar sempre, eu estava voltando para o mercado pra ver se aqui no sul tinha mercado que me atraísse, que fosse melhor. E começou a ter uma melhora quando eu voltei, tanto é que eu tive a oportunidade logo de ir para a Araxá, uma empresa grande, estatal, apesar de ser empresa contratada, mas a própria empresa Fosfertil estava contratando para ser gerenciado por eles, usaram a contratada e a gente foi trabalhar lá. Lá eu fiquei de 86 até 89, quando eu vim pra cá.
P/1 – E o que você fazia na Fosfertil?
R – Lá eu comecei como engenheiro. Lá eles contrataram dez engenheiros para participar de um projeto de expansão que eles estavam fazendo. Na verdade, eles nos contrataram pra que a gente substituísse os atuais chefes das áreas para que esses chefes fossem para esse projeto de expansão, que eles acharam que era uma questão mais importante, que eles tinham mais experiência – realmente tinham, pra participar desse projeto e a gente substituir até que esse projeto ficasse pronto e entrasse em operação. Então eu entrei, aí que eu tive uma grande experiência que foi já pistar como um líder, liderando supervisores, liderando a equipe. Quando eu fui pra lá, no início, a gente começou ainda pra pegar essa experiência a gente estava com essa turma pra depois eles saírem, esses líderes. Então eu trabalhei na parte de beneficiamento e a parte de pátio de homogeneização, retomada desse minério, britagem, moagem, flotação, espessamento, mineroduto. Então, toda a cadeia produtiva, não da mina, mas na parte de beneficiamento, a Forfertil é uma referência. Hoje, ela é uma empresa da Vale, ela é Vale Fertilizantes, que a Vale está vendendo pra Mosaic, empresa americana, mas a Fosfertil sempre foi uma referência, a mina de Itabira (MG), uma referência de uma mineração onde tem todos os processos começando no desmonte na mina até chegar no concentrado final que é bombeado através de mineroduto pra Uberaba (MG), pro centro lá. Eu fiquei no início trabalhando nesse pátio de homogeneização e britagem e depois eu passei pra planta que tinha moagem e flotação e depois eu passei também para a área de mineroduto também.
P/1 – E era uma mina de...
R – Fosfato.
P/1 – E a mina de fosfato, o que ela diferencia, por exemplo, de uma mina de ouro? Ela também é subterrânea, como é?
R – No caso de Itabira ela é a céu aberto, é uma mina muito grande, é uma movimentação muito grande de minério e de estéril durante o ano. Ela hoje deve estar movimentando na faixa de minério e estéril na faixa de 50 milhões de toneladas. A gente aqui movimenta hoje na faixa de 70 milhões total, minério e estéril, isso varia bastante. E eu posso dizer, os reagentes químicos são diferentes mas o processo em si basicamente é o mesmo, como homogeneização, na parte de beneficiamento, de moagem, flotação, isso aí eu te diria que os processos são os mesmos. Mas logicamente o mineral é diferente, então os reagentes químicos pra concentração são diferentes. Mas é uma mina de fosfato, não é tão simples a parte operacional e de concentração, é bem específico. O ouro também.
P/1 – Por quê?
R – Ela tem características, tem muita magnetita, tem minerais, outros minérios, não minérios, mas associados ao fosfato que você tem que separar. O ouro aqui já tem a diferença, eu diria, no nosso caso seria muito questão do teor, o nosso teor é muito baixo e isso é o que nos caracteriza ser bem específico no nosso caso, a minha de Paracatu é conhecida por essa, é a mina de mais baixo teor do mundo, de ouro.
P/1 – Como é que foi chegar na Fosfertil, um rapaz também novo, 26, 27 anos e assumir a liderança. Como é que foi isso?
R – Eu falo que a experiência que eu tive no Mato Grosso me ajudou bastante, mas não foi assim, e mesmo não só lá na Fosfertil, aqui também. Eu vim pra cá já como um líder na parte da Planta 1, eu apanhei muito (risos). A gente apanha muito. Agora, a gente tem que, eu sempre coloco pras pessoas a primeira coisa, ter respeito de ambas as partes e confiança. E um ponto que eu aprendi muito com a minha família e meu pai, disciplina. Se você tem respeito, confiança na sua equipe e eles com você, você já começa bem, vamos dizer assim. Mas a gente sabe, eu sei disso, que cada um tem a sua particularidade, cada pessoa é uma pessoa, então você tem que tratar bem, saber como. Eu procuro identificar nas pessoas a maneira como você chegar, como conversar. Às vezes, o pessoal fala comigo: “Ah, você tem uma maneira assim, você chega e já começa a falar, você é do futebol, gosta de tal”. É uma maneira, às vezes descontraída, você começar a buscar uma interação pra depois você entrar. “Agora vamos conversar mais sério aqui, nós vamos começar o que interessa”. Mas é o jeito, às vezes é uma maneira de você chegar, então acho que você tem que criar a sua maneira de você se aproximar da pessoa, esse é um ponto.
P/2 – Paulo, desculpa, mas você deu, digamos, a fórmula, respeito, são coisas interessantes e básicas para manter um bom relacionamento. Mas aprofundando um pouquinho a pergunta da Márcia, você com 26, 27 anos liderando uma equipe, eu acredito que em algum momento deve ter acontecido alguma faísca.
R – Com certeza.
P/2 – Você lembra de algum momento, de alguma faísca?
R – Lembro. Você me falou agora e eu já lembrei várias (risos). Às vezes, a gente não sabe a reação das pessoas. Uma vez eu peguei um rapaz dormindo no trabalho. E eu não falei nada com ele, eu saí, fiquei quieto, fui embora e falei com o chefe dele. Ele não era o meu subordinado, ele era da manutenção. Esse rapaz ficou extremamente chateado comigo. Chateado eu estou falando pra não dizer outra coisa (risos) e ele ficou mesmo e ele veio falar comigo bravo e tal. Eu falei: “Rapaz, eu errei realmente, eu deveria ter primeiro ter te acordado e não ter te entregue pro seu chefe lá no dia seguinte”. Eu era novo, inocente, não sabia. Mas depois eu fiquei até amigo dele, ele ficou meu amigo, porque eu falei: “Eu errei mesmo, estou te falando”. Então é essa outra coisa interessante, que é a questão de você assumir o erro, é difícil você assumir o seu erro, as pessoas às vezes têm... Eu valorizo muito as pessoas que assumem o erro. Esse foi um ponto. Um outro ponto foi um rapaz que também eu era um supervisor e eu tinha certeza que ele estava dando nó, que era meu subordinado, ele ia pra captação de água que era distante lá, eram uns oito, dez quilômetros da mina, onde tinha captação de água nova do rio, Ribeirão do Ferro, eu via que todo dia ele ia pra lá e ficava lá. Eu falei: “Por que o cara está fazendo lá a tarde inteira, o dia inteiro?”, não tinha nada pra fazer. E também eu fiz de uma maneira errada, eu fui no meu chefe e falei: “Olha, o cara ali e tal”. E também não fui conversar com o cara, eu tinha que ter ido nele e conversado: “O que foi que aconteceu contigo?”. Mas às vezes aquela vontade de você mostrar pro seu chefe, tá vendo, mostrar pra ele que você tem o poder, isso foi um erro também que foi cometido nessa época. Aqui em Paracatu, no início, como eu já cheguei como chefe, eu tinha 29 anos, eu não esqueço também um dia que eu estava numa sala cheia, tinha dois engenheiros, a minha sala tinha dois engenheiros trainees que estavam junto com a gente, trabalhavam comigo, e eu e aí chegou esse rapaz e querendo saber por que não tinha dado a hora dele, tal, e estava errado lá. E aí eu comecei a conversar com ele, ele não entendia, eu não entendia. Aí chegou o meu chefe, sentou e ficou escutando a minha conversa com ele e os dois rapazes também. Está tudo errado, não é o local, o local está errado. Eu devia ter chamado ele: “Vamos conversar em um outro local só eu e você”. Então esse meu chefe chamou a minha atenção exatamente por isso. Eu até falei pra ele: “Pô, mas por que você não me falou?”. Ele falou: “Não tinha como falar, nós estávamos naquele ambiente ali, eu não tinha como tentar”. Eu falei: “Tudo bem”. Então assim, falar que não teve, novo, com pouca experiência. Apesar de eu ter falado que lá no Mato Grosso eu consegui, mas não é a mesma coisa quando você pega uma liderança maior, uma empresa de porte, é diferente.
P/1 – Você falou que ficou dois anos na Fosfertil.
R – Na Fosfertil eu fiquei de 86 a 89. Três anos.
P/1 – Como você acabou vindo pra Paracatu e por que você quis sair da Fosfertil?
R – Na verdade, como eu te disse no início, foram dez engenheiros que foram contratados por uma empreiteira chamada Bou Habib, que era a maior empresa de projetos na época, que hoje tem várias empresas dissidentes dessa Bou Habib, foram vários diretores que abriram várias empresas de projeto de mineração. A Bou Habib era o sonho naquela época de trabalhar pra ela. Só que a Fosfertil usou a Bou Habib pra que a gente fosse trabalhar porque na época ela era estatal e não podia contratar. Então nós fomos [contratados] por essa empreiteira. No primeiro ano, no final do ano, eles sempre falavam pra gente: “A hora que passar de ano vai sair o decreto que vai poder contratar”. Só que passou o primeiro ano e não aconteceu. Continuamos, a Bou Habib quis sair fora: “Não quero mais esse contrato com vocês”. Aí entrou uma outra empresa chamada Figueiredo Ferraz, que foi só trocar de contrato e pronto. No segundo ano, nada também, não houve o decreto e nós continuamos. Eu trabalhava já no segundo ano, na liderança de pessoas, eu não era Fosfertil e trabalhava com supervisores e operadores que eram Fosfertil. Pra mim não tinha problema nenhum, eu queria pegar experiência, aprender. No terceiro, ano a mesma coisa. Só que quando aconteceu o terceiro ano eles fecharam o projeto, acabou o dinheiro, não foi liberado pelo banco, acredito que seja o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], não foi liberada a verba do projeto, como era estatal, então nós vamos paralisar o projeto. Com isso, o que eles fizeram? Os dez engenheiros foram dispensados. O pessoal chegou pra gente e falou. E aí fomos dispensados. Isso foi em fevereiro de 1989. Saí e fui procurar alguma coisa, eu saí pro mercado. Tive oportunidade aqui em Vazante (MG), numa mineração chamada Masa, logo em abril. E quando eu estava voltando de Vazante pra Araxá eu recebi um telefonema que era do pessoal da Rio Tinto dizendo desse colega que tinha me indicado para uma vaga, estavam dizendo que tinha uma vaga aqui em Paracatu e que estavam indicando, que participaria do processo e tudo. Então eu vim pra cá num primeiro momento em abril, foi abril mesmo. Eu sei que eu comecei a trabalhar aqui em maio. Deve ter sido um mês, mais ou menos, o processo. Vim na primeira vez de Araxá até aqui, até Brasília onde era o escritório da Rio Tinto fazer os testes psicotécnicos e tal. Depois eu voltei, não fiz entrevista, nem nada. Voltei. Daí uma semana eles chamaram de novo, para eu fazer uma entrevista, aí sim com o gerente da área e voltei pra cá, fiz essa entrevista e tudo, achei o negócio interessante, foi tudo pago com passagem aérea ida e volta, hotel, tudo. E aí quando foi na terceira vez, nessa segunda foi interessante porque esse meu futuro chefe no caso estava fazendo a imersão no hotel, onde eu fui entrevistado por ele, pra ir pra África do Sul pra participar de um treinamento de segurança da empresa. Eu achei o negócio: “Pô, essa empresa é de ponta”. Aí quando eu fui embora, foi uma entrevista longa com ele, nós conversamos muito, bastante técnica. Aí fui embora e falei: “É, não sei se vai dar certo, não”. Mas daí uma semana me ligaram e falaram: “Olha, agora você tem que vir pra cá com a sua esposa para Paracatu pra ver se você vai gostar da cidade e a sua esposa também, esse é um pré-requisito”. Aí viemos pra cá, fomos a Brasília, viemos pra cá, passamos o dia todo aqui, conheci a planta, a minha esposa foi conhecer a cidade, foi bastante interessante. Aí quando nós fomos embora ela até virou e falou: “O que você achou da cidade?” “Maravilhosa e você também tem que achar porque a gente tem que buscar uma colocação”. Mas a cidade na época devia ter seus 30, 40 mil habitantes. O centro da cidade de Paracatu era de bloquete, o asfalto só na avenida principal ali. E era isso. E aí voltamos. Eu falei: “Pra quem morou em Alta Floresta, que nem Alta Floresta era, e também Diamantina”. Araxá é uma cidade muito boa, mas pra quem já esteve no Mato Grosso naquela época está muito bom aqui”. E eu também adapto bem, eu gosto, aí viemos pra Paracatu. Foi essa a saída de lá, não foi porque eu quis sair de lá, foi uma questão...
P/1 – Então Paulo, quanto tempo fazia que você estava casado?
R – Eu casei em 1987. Eu fui pra Fosfertil em 1986, no meio do ano, aí seis meses depois eu casei. Eu não tinha filhos ainda, quando eu vim pra Paracatu, tinha três anos de casado, estava recém-casado, digamos assim.
P/1 – E além da questão de você querer se colocar no mercado, teve algum outro fator, termos salários... você até tocou nessa coisa da forma como eles fizeram o processo de seleção.
R – Bem lembrado. Como eu era de uma empresa contratada da Fosfertil, eu vim pra cá ganhando três vezes mais e isso foi, lógico, um diferencial pra minha vinda, né? Não tinha dúvida nenhuma. Pra mim, aumentava mais ainda a responsabilidade. Apesar de eu estar substituindo um chefe lá, agora eu vim agora como um chefe realmente. E o pessoal dizendo que aqui a planta de beneficiamento era realmente a área, vamos dizer assim, coração da empresa, que onde era a área que tinha que produzir, tudo, então uma pressão muito grande. Mas vamos encarar e a equipe que eu trabalhei na época era uma equipe muito unida, muito próxima mesmo. E tentava levar, agregar na turma, era uma turma muito interessante. Tinha reuniões frequentes.
P/1 – Como era a Planta 1 quando você veio? Que é a planta que já atua há 30 anos. Como ela era, qual era o volume, como era o processo, apesar de você já nos ter dito que o processo é mais ou menos o mesmo, o que muda são reagentes, mas eu queria que você falasse um pouco da planta porque eu acho interessante você ter dito pra gente que lá no Mato Grosso eram os garimpeiros e era uma mina de ouro de aluvião e aqui também no início...
R – Aqui no início tinha o garimpo, mas muuuito tempo atrás. Bom, eu cheguei aqui tinha um ano e meio de operação. Esse projeto de Paracatu era um projeto pra dez anos de vida, pra trabalhar o minério de superfície, que a gente pode dizer, que é o minério oxidado, com teor baixo, extremamente baixo, é o mais baixo e hoje está até mais baixo, mas na época já era o mais baixo, não tinha nenhuma mina no mundo com esse teor. Quando eu cheguei, exatamente no dia que eu cheguei, eu fiquei no hotel, Hotel Veredas, estava se comemorando e eu fui o convidado mais novo (risos) dessa festa que estava se pagando todo o investimento que tinha sido feito aqui nessa mina pela Rio Tinto. Quer dizer, com um ano e meio você já começar a ter esse pagamento desse investimento já feito foi um grande negócio. Então eu comecei já num ambiente bem favorável porque o ambiente estava muito positivo, muito favorável porque a empresa estava numa boa. Eu vim pra cá substituindo um chefe da planta anterior, que era um chileno, que até depois ficou, Emilio Repetto, ficou até meu amigo, que ele passou a trabalhar com reagentes químicos, voltou para o Chile, trabalhou aqui no Brasil um tempo, mas depois voltou pro Chile. Fez muitos amigos aqui em Paracatu, um cara realmente muito bom. Só que ele saiu e eu vim pro lugar dele. Também falei, é uma responsabilidade grande porque todo mundo que eu encontrava: “Ah, você está no lugar dele”. Mas mais uma vez eu busquei trabalhar com aquilo que eu te falo, respeito e confiança na equipe, trabalhar junto. A planta estava alimentando, conforme o projeto, seis milhões de toneladas por ano, que era o projeto, e o meu chefe tinha essa visão de querer não ficar só dez anos mas perpetuar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a vida da mina, então o objetivo dele era, não dele, mas também da equipe, de trabalhar custo, redução de custo e aumento de tonelagem, aumento de volume dentro da planta, que isso acarretaria em aumento de reserva, a gente poderia trabalhar com teores mais baixos. Essa eu acho que foi a grande tacada nessa época da empresa. E isso foi feito, a gente conseguiu chegar em 1992, cinco anos depois do início da operação, a quase 12 milhões de toneladas, a quase o dobro.
P/1 – E como vocês fazem isso dentro do processo?
R – Eu não posso dizer que tivemos um pouco de sorte, sorte do minério ter sido, ou a planta foi superdimensionada, ou o minério estava bem mais macio, mas eu acredito que a planta não estava tão superdimensionada, ela está numa capacidade ok, mas o minério, a característica dele estava bem favorável e a planta conseguiu aumentar a capacidade com aquele minério que estava se alimentando. A gente conseguiu reduzir coisas que muitas pessoas: “Ah, não é possível”, de reduzir carga de enchimento de bolas nos moinhos, a gente reduziu o consumo de energia e reduziu a carga, porque o minério era muito macio, não precisava dessa carga toda como tecnicamente seria, então a gente até trabalhou fora da técnica, mas sabendo o que estava fazendo porque não tinha, não haveria necessidade. E aí a gente conseguiu aumentar essa alimentação. É lógico que hoje essa condição está totalmente diferente. Mas a condição na época permitia fazer isso e permitiu a empresa aumentar a reserva e aumentar a vida aqui em Paracatu. A gente fez uma primeira otimização na planta, porque a gente chegou numa capacidade, realmente, já quase o dobro, então a gente teve que aumentar algumas bombas na planta, células de flotação, colocamos mais células, a gente foi colocando para aumentar a capacidade até a gente ver onde chegaria. E um outro ponto importante, a gente tinha aqui uma planta piloto, essa planta piloto fazia os ensaios dos trabalhos, o que a gente podia de futuro e até os trabalhos atuais mesmo, com o mesmo minério hoje você trabalharia ali, ver o que de redução de consumo de reagentes, tipos diferentes de reagentes. E minérios futuros como foi o minério que não era mais oxidado, que é o minério B1 que a gente chama, que tem um pouquinho de enxofre. E o B2 depois, que já tem uma quantidade bem maior, que é o minério que a gente tem hoje, praticamente 100% da nossa mina, que é o minério que tem enxofre. A gente conseguiu viabilizar esses dois tipos, esse minério com baixo teor de enxofre e com esse alto teor de enxofre através também da planta piloto, dessa planta, e a gente aumentou a nossa vida passando pra 18 milhões de toneladas em um projeto em 1997, colocando esse minério sulfetado na planta. A gente não teve sucesso no primeiro ano, foi muito, o ano de 1998 pra mim foi o ano mais difícil que eu passei aqui, nesses 20 anos e agora nesse meu retorno o ano de 1998 foi o ano mais difícil porque foi o ano que a gente estava com uma confiança total no minério sulfetado e a gente perdeu muito. O ano de 1998 foi muito ruim, foi o pior ano, não só pela questão nossa, de produção, mas também, na época, o ouro estava um preço extremamente baixo e a gente perdeu dinheiro. A Rio Tinto estava quase que não dando dinheiro, não investindo nesse projeto de 1997. Mas, por ser uma empresa forte, uma empresa ela investiu, ela bancou e colocou. Aí no ano de 1999 e 2000 nós conseguimos retomar e chegamos a até 20 milhões de toneladas. Nós adquirimos um moinho. A gente pode dizer que a gente tem muita sorte também porque esse moinho. Hoje se você falasse: “Eu quero um moinho novo na sua mina”, é no mínimo aí dois anos, até construção, fabricação, dimensionamento pra construir, você demora, posso dizer, no mínimo dois anos. E nós tivemos a grata felicidade que uma empresa no Brasil estava vendendo o moinho deles, que daria exatamente o tamanho certinho pra gente colocar aqui; foi o famoso quinto moinho que a gente na Planta 1, que em um ano a gente conseguiu adquirir, colocar ele pra rodar e produzir. 2000 foi o melhor ano da Planta 1 na história, ela produziu, alimentou, 20 milhões de toneladas, foi a maior produção que ela teve em todos os tempos.
P/1 – Dentro do processo, o que difere minério sulfetado, é isso?
R – É, sulfetado.
P/1 – Do outro minério que vocês trabalhavam?
R – O oxidado.
P/1 – Oxidado. Qual é a diferença?
R – Primeiro é a própria característica do minério. O minério oxidado é aquele intemperizado, de superfície. Quanto mais profundo ele vai ficando, vamos dizer assim, está mais próximo da rocha mãe ou fresca, vamos dizer assim, ele não está tão intemperizado. Mas no nosso caso ele está mais duro, essa que foi a grande dificuldade e tem a questão de reagentes pra tratamento, a quantidade, o consumo, a dosagem, isso tem a diferença. No nosso caso, do minério sulfetado, a característica de dureza dele, desse minério, foi a dureza, que nos fez até construir essa nova planta porque a Planta 1 não dava mais pra tratar, ou a capacidade não tinha mais como tratar esse minério mais duro. Então, foi isso que fez diferença do oxidado, que era mais macio.
P/1 – E pelo que eu entendi da história que você contou pra gente, esse minério sulfetado, quando vocês adquirem esse moinho que a empresa estava vendendo é porque era um moinho que conseguiria dar conta desse minério sulfetado.
R – Sim. O projeto era para 18 milhões de toneladas e nós conseguimos 15 quando nós operamos. Pode falar: “Mas 15 pra 18 é uma diferença pequena”. Não é não, é muita (risos). É uma diferença muito grande e a gente bolou. Na verdade, nós tivemos uma ajuda da Rio Tinto, da parte técnica da Rio Tinto, eles vieram da Austrália, um engenheiro e nos ajudou. E a nossa equipe de processo aqui, a gente trabalhou e aí a ideia foi, vamos colocar esse quinto moinho que a gente vai jogar parte desse minério nos outros 4 moinhos instalados, nós vamos direcionar para esse quinto moinho, que aí vai abrir espaço pra gente colocar minério novo, alimentar e a gente vai chegar no que gente quer, que são os 18 milhões, então basicamente era isso. Esse quinto moinho entrou pra aliviar um pouco a barra dos quatro pra poder alimentar mais.
P/1 – E vocês compraram esse moinho de quem?
R – Da Mineração Caraíba, da Bahia.
P/1 – Ela estava fechando, o que foi?
R – Ela estava dispondo os moinhos dela. Ela não fechou, não sei se ela fez uma nova tecnologia, alguma coisa, mas ela estava disponibilizando esse moinho e a gente adquiriu. Ele é usado, esse moinho acho que é de 1978, um negócio assim, ele já tinha uns 9 ou dez anos de operação.
P/1 – Então você chega aqui com a mina, como coordenador, como líder de uma equipe e quando você atinge esses 20 milhões de toneladas ao ano, como tinha se dado esse seu processo de carreira? Você continuava como coordenador, o que tinha acontecido com a sua carreira nesse período?
R – Eu cheguei aqui em 1989 como chefe da planta, só da planta, britagem, moagem e flotação. Na sequência, tinha a hidrometalurgia e a fundição, na nossa área de beneficiamento. Em 1995 o meu chefe me chamou: “Olha, você quer conhecer a hidrometalurgia? O objetivo é você ter um conhecimento lá para que você possa no futuro ser um gerente de toda a área, ou troca, você vai pra hidro e o que está lá vem pra cá”. Eu falei: “Eu quero aprender, não tem dúvida”. Na escola, na Engenharia de Minas, a gente não aprende a parte de hidrometalurgia. Era um desafio, mas eu falei, não era para assumir ainda a unidade, mas pra conhecer a unidade. Então, eu dediquei parte do meu tempo lá pra conhecer essa unidade de hidrometalurgia, fui pra lá e gostei, falei: “Mais uma área pra aprender, vamos lá”. Isso foi em 1995. Em 1997, 1996 na verdade, a Rio Tinto abriu uma mina em Passos, no sul de Minas, de níquel, onde o gerente geral da época, o meu chefe, gerente de beneficiamento aqui, o gerente administrativo e várias outras pessoas foram chamadas a ir pra lá, a Rio Tinto falou: “Olha, eu quero vocês lá, que vai começar um projeto”, então essa turma foi. E aí foi uma ótima pra nós porque foi uma série de promoções aqui dentro da empresa (risos). Logicamente que eles buscaram ver se a gente tinha condições aqui, senão buscava fora, mas era uma grande oportunidade pra dar uma alavancada grande na equipe. Foi o que aconteceu, o gerente da mina nossa virou gerente geral. No meu caso, eu era o chefe da planta, eu fui pra gerente de beneficiamento. Quando eu fui em 95 pra conhecer a hidro, eu acho que eles já estavam, acredito eu, já pensando para que eu não fosse cruzinho pra lá, aprender essa unidade também. O chefe da barragem foi gerente da mina. O gerente administrativo, chefe de departamento de suprimentos, assumiu a gerência, foi uma série e criou-se uma equipe nova. Assim, nova como gerente, mas todos eles já experientes em Paracatu, já trabalhando aqui. Foi o caso do Luís Alberto, Vitor Hugo, o Landi, essa turma toda que era, só o Luís Alberto que era o gerente de mina e passou a gerente geral, nosso chefe, né? Já os outros chefes de departamento passaram a ser os gerentes das áreas. Isso foi em 1996. E aí eu fui, morei da cidade, tinha a vila, aí nós fomos morar na vila de gerente, que tem a vila dos gerentes, né, hoje ainda tem, continua. Aí nós fomos todos morar na vila. A Rio Tinto tinha essa, e a Kinross também manteve, essa característica de ter gerentes numa vila morando juntos ali, acredito eu mais pra ter uma certa integração e tudo.
P/1 – E como era viver na cidade e como foi essa experiência da cidade, de adaptação à cidade e depois, como gerente, tendo ido pra vila? Quais os prós e os contras disso?
R – Particularmente, pra mim, eu vivia mais aqui do que na cidade (risos). Mesmo como chefe de departamento e depois como gerente também. Eu ficava mais aqui. A minha esposa que é dentista, trabalhava na cidade, trabalha ainda, pra ela o contato na cidade, morar na cidade era, vamos dizer assim, melhor. Mas na vila também acho que não mudou nada, não. Apesar da gente estar mais fechado ali, mas, o contato dela não se alterou muito, não.
P/1 – E você contou pra gente que dentro do processo, da moagem...
P/2 – Britagem...
R – Britagem, moagem, flotação, hidrometalurgia.
P/1 – Eu queria que você explicasse um pouco o que são esses processos dentro.
R – Tá, vou tentar explicar...
P/1 – De uma forma didática e resumida (risos).
R – Se você pegar um minério, vou alimentar o minério na britagem. Primeiro, eu preciso quebrar essa pedrinha que vem, essa rocha; o primeiro processo a gente chama de cominuição, eu tenho que quebrar essa pedra pra chegar à particulazinha de ouro. O primeiro processo é a britagem, são equipamentos mais robustos. Eu faço essa primeira quebra. A moagem já é uma etapa subsequente à britagem, onde você vai ter uma quebra mais fina, pra você ter, aí sim, a liberação da sua partícula de ouro. Uma vez, essa moagem sendo feita, eu vou passar para o processo químico, que agora ela já está liberada...
P/1 – Isso é feito dentro do moinho?
R – É feito no moinho, com bolas, o moinho tem bolas e é também na parte de impacto e mais de contato, né? Saindo essa liberação do ouro eu tenho que captar esse ouro, capturar isso. Na flotação, você vai usar o processo físico de aeração com o químico, que é o reagente. Você cria uma condição após a moagem nessas células de flotação, que são bancadas onde você agita, tem agitadores, rotores, pra você colocar o coletor de ouro específico pro ouro.
P/1 – Que seria...
R – O fosfato tem especificamente o dele, vamos dizer assim, na minha época era o óleo de arroz, que era um coletor da apatita, que é o mineral. No ouro, no caso, a gente tem o xantato, que é o coletor do ouro, que é específico pra coletar ali e deixa ir embora o resto, eu vou pegar aquele ouro ali. Ok, aquele concentrado junto com aquela polpa, aquele material ainda, ainda está ali, eu tenho que levar pra hidrometalurgia. Na hidrometalurgia, eu vou solubilizar o ouro através de quê? Do cianeto, o cianeto, a função dele, é solubilizar o ouro. Eu coloco uns tanques agitando também, com a polpa ali, aquele concentrado que veio da flotação eu jogo naquele tanque e o cianeto vai solubilizar aquilo. E aí tem a aeração, tem uma série de condições que eu vou facilitar esse processo. Muito bem. Solubilizei o ouro e aí, o que eu faço? Dentro desses tanques, na hidrometalurgia, eu tenho carvão ativado. O carvão ativado é poroso, então o ouro, quando ele está solúvel, ele vai e fica naquele carvão ativado, adere ali, o processo que a gente chama de adsorção. Então vem o ouro, a prata que é solubilizada, vai ali também e fica aderida ali, naquele carvão. O que não é vai embora. Muito bem, agora o que eu faço? Meu Deus, agora eu tenho que tirar o ouro desse carvão (risos). Aí eu produzo esse ouro do tanque, tem uma bomba, eu produzo ele, aí eu dou uma lavada nele. Porque eu uso, para que eu não forme o gás cianídrico eu tenho que ter um ambiente alcalino, tem que ser cal que eu utilizo. E o cal também entra no carvão e atrapalha e eu tenho que tirar esse cal para que eu possa tirar o ouro dele também. Então eu faço uma lavagem ácida, que é o processo seguinte, com ácido clorídrico, ar quente, lavo ele, tiro o cal, só o cal, cal e outras impurezas, e aí eu jogo esse carvão dentro de uma coluna e aí sim, agora eu vou tirar esse ouro daqui. Como é que eu faço? Vou aquecer uma solução de soda cáustica, aqueço essa solução de soda cáustica a uns 140 graus e vou então passar essa solução dentro dessa coluna. E essa solução de soda a 140 graus, mais ou menos nessa faixa, ela vai tirar o ouro, a prata desse carvão, vai lavar isso e aí joga essa solução dentro de células eletrolíticas, onde tem o que a gente chama de cátodo e ânodo, que são placas, onde o ouro se adere àquela placa e aí passa e volta. E aí passa de novo, essa solução vai, ainda está rica, aquecida, passa nessa coluna novamente, vai lá na célula de novo, deposita, é o que a gente chama de eletrodeposição, o ouro vai se depositando ali, volta. Hoje, no nosso caso, entre nove e dez horas esse tempo de eluição até o ouro sair todo do carvão nessa coluna, sai tudo e fica depositado ali. A gente mede o que tem de teor de ouro nessa solução que está saindo pra ver se realmente ficou pobre, então, posso parar, o ouro já está todo ali. Basicamente seria isso. Aí parei aquela coluna, tiro aquele carvão ali que já está sem ouro nenhum, jogo num forno de regeneração, pra regenerar o carvão, pra gente reutilizá-lo nos tanques novamente para o ouro que vem com o cianeto passar ali e ficar ali e você começa todo o processo novamente. Essa eletrodeposição você para, hoje a gente está parando duas a três vezes por semana, parar mesmo, abre a célula, tira lá o material e limpa essa célula e aí esse material você joga num forno de indução. Aí você vai fazer a barra final do ouro. Essa barra hoje, nossa, ela não é quatro nove, ela está em torno de 90, 92% de ouro e prata o restante. E aí a gente pega essa barra, transporta, leva essa barra pra São Paulo numa refinadora para ela, sim, fazer a barra bonitinha, quatro nove. Mais ou menos, basicamente é isso...
P/1 – Deu pra entender. Então, quando você assume o processo, se torna o gerente da área, você acabou assumindo esse processo como um todo. E aí eu fiquei pensando e me levou para uma coisa que você falou lá atrás, que quando você estava no Mato Grosso o processo usava mercúrio, e a gente não está falando de uma diferença de anos tão grande assim, em torno de dez anos, acho que nem isso. O que difere essa tecnologia que é desenvolvida aqui com aquela tecnologia? Eu queria que você explicasse um pouco se o processo de tratamento do ouro, o que tecnologicamente tinha aqui na Planta 1 do que você encontrou lá. Independente de tamanho, mas tecnologicamente falando.
R – Lá é bem mais rudimentar, a técnica é bem simples. Não tinha britagem, não tinha moagem, não tinha flotação. O processo de concentração lá era jigagem, então não...
P/1 – Não tinha necessidade.
R – Não tinha. E outra, o aluvião, o teor é muito alto e tinha pepitas, então o ouro era bem mais difícil, vamos dizer assim. A tecnologia aqui para uma mina com um teor tão baixo, na época, a gente ouvia falar: “Isso aqui não vai dar em nada porque com um teor desse”. Tanto é, que a Rio Tinto não conseguia um parceiro, até conseguir o Eike Batista como parceiro, que ele tinha a empresa dele aqui com 49%.
P/1 – Ah, quer dizer que o Eike foi sócio...
R – Parceiro. Foi sócio até 2003, quando a Kinross adquiriu 49% da empresa dele, os 49 que ele tinha aqui a Kinross adquiriu em 2003. E depois a Kinross adquiriu os outros 51 quando a Rio Tinto, em 2004, vendeu a outra parte. Mas assim, o processo em si aqui era um processo, a tecnologia tinha que se destacar porque é a questão do teor muito baixo. E foi colocado o que de melhor tinha na época.
P/2 – Eu fiquei curioso que a gente deu uma passeada pela mina, ainda não pudemos visitar a planta, mas caminhamos com um geólogo. Você é o gerente dos processos e tem um olhar geral das coisas, quem são os outros especialistas que fazem com que isso tudo seja movimentado, o cotidiano da empresa? Porque a gente teve contato com o geólogo, você engenheiro de minas. Quem são os outros profissionais que atuam?
R – Na mina, especificamente, você tem uma equipe de Geologia de mina, de campo e tem a equipe do planejamento da lavra de curto prazo, do dia a dia, e o planejamento de lavra de longo prazo. Essa equipe é composta de engenheiros de minas e geólogos também, certo? E tem a equipe de Operação da mina, que é a equipe que pega toda a parte operacional, como vai se posicionar a máquina, como é feita a operação, o dia a dia, os caminhões. Toda a parte de operação de mina e planejamento e tem um outro ponto que é a questão de desmonte, que a gente não tinha no passado, por ser um minério extremamente macio, a partir de 1997, 1998 começou a detonar aqui, então tem essa equipe também que é bem específica pra detonação. Na mina, a gente tem, como eu estava falando, Márcia, o nosso diretor de operações, que é o meu chefe, ele é responsável por toda essa parte operacional da mina, operação, desmonte, planejamento do dia a dia de curto prazo e a parte de beneficiamento, que é a minha área de Planta 1 e Planta 2, e manutenção também. E toda essa parte de barragem, utilidade, captação de água, de onde vem a água, que a gente retoma a água nova, parte da água que vem da barragem pra cá. Tudo isso que a gente chama de Área de Utilidades, também está dentro dessa diretoria nossa. Na mina, na parte de planejamento de longo prazo tem a Diretoria de Serviços Técnicos, que foi criada, que não é no planejamento do dia a dia, é do longo prazo, o desenvolvimento das novas fases, onde vai desenvolver a mina, onde vou pôr o estéril, então toda essa parte de planejamento de longo prazo tem uma área também específica que a maioria são engenheiros de minas e geólogos, porque tem todo um trabalho na mina de gestão ambiental, como a gente está muito próximo, não por estar próximo à cidade, se fosse perto ou não a gente estava fazendo a mesma coisa. Mas como a gente está muito próximo da cidade, a gente tem que ter um respeito e um cuidado muito maior, do que é uma mina que está em outro local que não está próxima de uma cidade, né? Então esse trabalho é bem diversificado então você tem o apoio da parte de meio ambiente, essa parte operacional tem apoio de serviço técnico, meio ambiente, segurança, trabalho, o RH, [Recursos Humanos] toda essa equipe, administração, que dá suporte pra operação, não só da mina como a operação nossa das plantas.
P/1 – Complementando um pouco da pergunta do Gustavo, a questão de segurança também. Como era a segurança quando você chegou aqui e como ela está hoje, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
R – Segurança, eu acho que a gente vai ter umas seis horas pra falar por aí (risos), ou mais. Eu brinco com a minha turma que quando eu começo a falar de segurança a gente vai falando, se quiser a gente vai falando. Isso porque aqui realmente... Quando eu voltei pela segunda vez não foi nada diferente, segurança. Eu não falo por estar às vezes querendo agradar, é porque realmente a gente considera muito e segurança pra nós é um valor. E eu aprendi isso aqui. Quando eu vim lá de Araxá, da Fosfertil, com todo respeito absoluto à empresa de lá, pode ser por questões de época, na época, 20 anos atrás não existia treinamento, investimento em segurança, não existia. Acho que os empresários, os donos das empresas, ou não davam valor, achavam que produção era mais importante e ia pra produção e esquecia a segurança. Então acho que não é por isso que a Fosfertil, hoje, pelo contrário, é uma referência também lá e pegou muito de experiência de Paracatu aqui. Quando eu cheguei aqui, é como eu te falei, o meu gerente que estava lá no hotel, ele ia pra África do Sul ficar um mês com a esposa participar de um treinamento de segurança do sistema de segurança que foi implementado aqui em Paracatu porque o presidente da empresa, da Rio Tinto, era gerente na África do Sul, onde esse sistema NOSA, que era o sistema dessa mina, ele queria que se implementasse aqui. “Eu quero que se implemente esse sistema aqui e pronto porque dá certo” e deu certo lá por oito anos. Foi uma imposição, vamos dizer assim, mas uma imposição que deu resultado. Pressão, não vou dizer que não tinha; tinha, a gente foi, digamos assim, pressionado no bom sentido pra implementar o sistema porque o presidente queria e pronto. Quando eu cheguei em maio, em março começou a implementação do sistema. O sistema NOSA é um sistema sul-africano, as empresas sul-africanas criaram essa associação onde elas bancavam essa associação e a partir daí ganhavam treinamento pros funcionários, auditorias, reconhecimento e tudo o mais. No nosso caso, nós tivemos a primeira experiência aqui em 1989, quando eu cheguei, mas nós tivemos uma grande participação de um instrutor sul-africano que passou aqui quase um ano inteiro de 1989 nos ensinando realmente como que era o sistema. E a empresa pagou isso, não era de graça. E ele ficou aqui esse ano todo de 89 e nós participamos da primeira inspeção, auditoria, NOSA, que vinham os auditores da NOSA aqui em 1990. Tem uma passagem também interessante que foi no primeiro dia de auditoria, quem esteve aqui foi o presidente da NOSA, que era o número 1 da NOSA. E a gente ficou: “Puxa vida, é o cara que está aqui”. No primeiro dia, nós fomos lá na flotação, vimos uma célula de flotação, ele viu, que estava sem uma proteção, ele achava que deveria ser colocado. Eram oito células, eram, não existem mais, oito células. E aí ele falou: “Acho que tem que ser colocada a proteção”. Beleza. Quando acabou a visita ele foi embora, cinco horas da tarde, o nosso gerente de manutenção chamou o mecânico e falou: “Até amanhã cedo eu quero essas oito células com essas proteções aqui desse jeito, pápápá”. No dia seguinte, estavam as oito células com as oito proteções. Aí logicamente chamamos o auditor pra lá, ele viu, beleza. No dia do nosso resultado da auditoria, que nós ganhamos o famoso 5 estrelas, que era graduado por estrelas, igual de hotel, 5 estrelas é o auge, acima de 90% do resultado, nós tivemos 91, alguma coisa. Aí esse presidente falou: “Não só pelo resultado de vocês, mas eu nunca vi uma resposta tão rápida de uma empresa, uma atuação tão rápida numa questão dessa de uma auditoria. Vocês ganharam 91 também por causa disso”. E aí foi aquela coisa que ficou marcada e a gente, a partir daí, era todo ano a gente fazendo. E aí passa a ter então uma questão interessante que é as competições. Na primeira, a gente tenta ser 5 estrelas, se você não conseguisse você teria que trabalhar pra conseguir essa estrela você mesmo. E depois uma vez que você conseguisse essa graduação você passaria a ter uma competição entre outras minerações do mesmo porte. Os dois primeiros anos nós não conseguimos, ficamos em segundo lugar, no terceiro ano a gente conseguiu o primeiro lugar na competição. Aí sim você passa a competir no que eles chamam de Noscar, que é 95% da sua pontuação. E também nós conseguimos no primeiro ano o Noscar e nunca mais perdemos. Aí veio depois aquela questão de continuar com o sistema ou não. Aí a empresa decidiu criar o próprio sistema por ela ter essa experiência toda também e também por questões até de não gastar tanto porque, acho que até nem tanto pelo valor, pelo custo, mas mais porque a gente tinha essa experiência maior e falou: “Ah, a gente pode fazer o nosso sistema aqui”. Durante esse período de NOSA, nós tivemos muitas visitas aqui, pessoal da Vale, Votorantim e, felizmente, eles entraram no sistema e depois criaram também os seus próprios sistemas de segurança, que é o que as empresas hoje estão fazendo, elas têm os seus sistemas próprios de segurança. Agora, o mais interessante aqui, que eu acho, quando eu voltei agora eu não senti uma queda do padrão, o negócio é cada vez mais, quer dizer, você vai mais para o detalhe, então eu falo muito pro meu pessoal também, eu brinco com eles e falo assim: “Eu sou um insatisfeito com segurança, nunca estou satisfeito. Porque se você ficar satisfeito você se acomoda, você relaxa, a equipe relaxa, então você não pode deixar a sua equipe relaxar e nem você, você tem que estar buscando sempre mais”. E aqui chega às vezes em detalhes: “Não, não, gente, pelo amor de Deus, não exagera não”. Mas a gente tenta fazer um negócio bem controlado, padronizado, pra não ter, vamos dizer assim, exagero mesmo. Aí às vezes até atrapalha.
P/1 – E quando você fala em segurança e fala em valor, qual é o foco da segurança?
R – Márcia, vou te falar uma coisa com toda sinceridade: hoje, eu, particularmente, trabalho muito mais, eu vou na área pra ver a segurança do meu pessoal e de toda a empresa do que a parte mais técnica, falo com toda a sinceridade. Porque se eu garanto a segurança da minha equipe a minha produção vai sair. Eu sou responsável pela produção, como o Rodrigo é responsável pela condição da mina. Eu tenho que saber do meu pessoal: “Como é que você está? Está seguro, não está, se não estiver o que você quer que te ajuda”. Eu falo isso pra eles. E falo mais: “A responsabilidade de segurança aqui não é do gerente geral, não é da área de segurança, é de você, é sua. Você é a barreira final, você que vai decidir a sua segurança”. Três horas da manhã o motorista de caminhão abaixa a neblina, chove torrencial, alguma coisa, ele vai ligar pro chefe dele, na casa dele? Eu falo: “A decisão tem que ser sua, você tem que saber qual a decisão que você vai tomar. Agora, se você não está seguro para o caminhão e fica quietinho, não vai fazer mais nada”. Aqui na planta é a mesma coisa. Então, eu hoje vou pra área muito mais, mas muito mais mesmo, olhar a questão de segurança da minha equipe porque se a equipe está bem segura eu tenho certeza, eu falo com eles: “Você sabe fazer o trabalho, tecnicamente você sabe,” então eu tenho que dar a segurança pra eles e falar: “Se não tiver seguro não vai fazer, vamos procurar quem vai nos ajudar a fazer e fazer bem feito. O meu papel hoje é esse aqui, eu faço muito mais (risos).
P/1 – Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surge o projeto da Planta 2, por que ela surge e como se deu esse projeto, como é que ele aconteceu?
R – A gente já falou um pouco disso aqui. O minério ficando mais difícil de tratar, mais duro, a planta começa a perder capacidade, a gente sabia disso, então começou internamente mesmo, com a equipe nossa, a fazer um projeto de expansão pra tratar esse minério futuro que seria o minério de dureza alta. Na época era a Rio Tinto, começamos isso em 2002, 2003 e a Rio Tinto já estava na época pensando em vender e ela não se interessou muito pelo nosso projeto. Em 2004, quando a Kinross adquiriu, a Kinross já tinha feito em 2003, 2004, uma avaliação da reserva com vários equipamentos aqui dentro, foram 11 meses de trabalho com sete sondas 24 horas direto aqui pra avaliar porque ela tinha preferência na compra daqui. E o resultado foi muito bom, ela dobrou praticamente a reserva, então viabilizou o projeto. Ela veio com uma vontade muito grande no projeto e eu não esqueço do primeiro chefe da Kinross que veio aqui, o Scott Caldwell já nos questionou, a gente tinha um projeto pra 30 milhões de toneladas, de 20 pra 30 e ele já estava pensando, perguntando se não podia ser 40, 60 ou até 80 milhões de toneladas. Aí mudou todo o panorama, a gente começou a fazer todo um projeto, aí sim com uma empresa de engenharia de projeto para nos ajudar também a fazer esse projeto para a Planta 2, não mais com 30 milhões somente que era só um moinho substituindo a britagem da Planta 1. Aí veio o projeto da Planta 2, que aí veio o moinho bem maior pra alimentar. Era o projeto “60 milhões de toneladas”, seria 40 milhões na Planta 2 e 20 milhões na Planta 1. E aí surgiu, em 2005, quando a Kinross assumiu mesmo em 2005 a empresa, comprou os outros 51% e a gente passou a trabalhar fortemente isso aí e aí começou o projeto e foi até o final, até 2007, quando a gente começou a operação, o startup.
P/1 – E esse projeto basicamente... qual era o envolvimento de vocês no tratamento do minério? Porque tinha que ter um olhar com o aumento da planta, no sentido que realmente a planta se torna maior, mas o volume de trabalho de vocês com certeza iria aumentar e também do laboratório. O que ficou pra cada um pra olhar pra esse projeto?
R – A gente criou uma equipe, uma gerência geral da expansão do projeto, que ficou totalmente desvencilhada do dia a dia da Planta 1. A Planta 1 continuou com a gerência geral e foi criada uma nova gerência pra trabalhar todo o projeto de expansão dos 60 milhões de toneladas. No final de tudo, eu fui pra esse projeto, participei do projeto que chamava de condicionamento e preparação, condicionamento dentro da Planta 2. E a partir dali que a gente criou o que a gente necessitaria de estrutura pra suportar essa planta. Por exemplo, laboratório químico, nós duplicamos ele. Laboratório de processo também, foi aumentado porque a massa, a gama de análise de material que iria era de uma outra planta bem maior. E a Planta 1 continuaria normalmente a operação dela. O quadro nosso aumentou bastante, a gente duplicou ou mais, duas, três vezes mais o nosso quadro hoje.
P/1 – E como é que ficou a relação da Planta 1 com a Planta 2? Foi só um aumento de produção e também do tipo de minério, né, porque você tinha falado que um era oxidado e o ouro, nem sei se eu lembro mais o nome.
R – Sulfetado.
P/1 – Como é que ficou essa divisão e que relação se manteve entre as duas plantas?
R – Eu fiquei aqui até 2009, até a Planta 2 iniciar a operação. No caso ainda tinha, quando eu saí, porque ainda estava no startup, estava começando a operação, ainda tinha o gerente geral da expansão aqui que teria que passar a planta operando nas condições operacionais de projeto para o gerente geral da Planta 1 que seria o gerente geral de toda unidade. Foi o que foi feito. Quando a Planta 2 operou, deu startup e toda a equipe de projeto saiu, passou-se a ser um gerente geral só pra olhar todas as duas plantas. Mas com gerenciamentos distintos pra cada planta: gerente de operação aqui, gerente de operação na Planta 1, na Planta 2. Quando eu saí em 2009, não tinha ainda dividido porque eu saí ainda estava no startup, mas aí depois, quando eu voltei agora eu já vi que é um gerente geral só com as diretorias e aí sim a parte de gerenciamento de cada planta tem, é como se fosse uma unidade independente, entendeu? Apesar de eu estar nas duas, mas eu tenho a equipe específica de gerentes da Planta 1 e um equipe de operação na Planta 2, manutenção e operação, são separados.
P/1 – E como era o rejeito da Planta 1 e o rejeito da Planta 2? Tem uma diferença? Óbvio que estou deduzindo aqui que é de volume, mas também tem uma diferenciação do que está fazendo parte do rejeito?
R – Não, basicamente não tem não. O minério é o mesmo, né? Então, vem da mina e vai para as duas plantas, então não tem diferença. Agora, a Planta 1 sempre teve a barragem dela, a famosa barragem de Santo Antônio, específica pra ela, e a Planta 2 quando começou foi também construída a barragem Eustáquio que era especificamente pra ela também. Quando a gente estava com a barragem de Santo Antônio basicamente finalizada, hoje a gente joga a Planta 1, o rejeito da Planta 1 com o rejeito da Planta 2 vai pra barragem Eustáquio; a barragem Santo Antônio hoje a gente está reprocessando esse material de volta e a gente também começou a reprocessar do Eustáquio, um pouco o material do Eustáquio também reprocessando o rejeito pra cá, pra planta, pra recuperar um pouco mais.
P/1 – Então, a barragem na verdade serve pro acúmulo...
R – É o depósito do rejeito de toda a mina. Só pra você ter uma ideia, a recuperação em massa, que vem da mina e sai pra planta, a gente recupera em massa, pra produzir o ouro que a gente produz no ano, é 2% só; 98% do minério que vem pra planta vai pra barragem. A recuperação em massa é 2%.
P/1 – Isso você está falando em termos de ouro, né?
R – De massa de concentrado.
P/1 – Agora, na barragem, o que a gente tem lá? Esse rejeito é composto do quê? Porque no processo você adquire...
R – Você tem ouro lá também, né? A gente recupera uma média de 80 a 85% nas duas plantas, de 15 a 20% você perde. É por isso que hoje a gente está recuperando isso, né? Hoje, está sendo econômico fazer isso. Agora, vai o mesmo material, vai a ganga que a gente fala, é o rejeito mesmo que vai pra lá, já bem mais fino, porque já foi britado, foi moído.
P/1 – E, por exemplo, em termos de reagentes químicos. Vocês separam o que vai pra...
R – Não separa não. O que a gente dosa... Os reagentes das duas plantas são os mesmos, os reagentes na flotação são os mesmos em dosagens diferentes.
P/1 – E o cianeto vai pra onde?
R – Não, o cianeto aí já é outra história (risos).
P/1 – O cianeto, como é que vocês separam?
R – O cianeto que a gente dosa na hidrometalurgia somente, a hidrometalurgia tem um rejeito específico que a gente joga pra tanques específicos que a gente chama, que são revestidos com uma geomembrana que é pra não deixar esse material passar para o meio ambiente. Hoje a gente já está no décimo segundo tanque, três já foram fechados, outros já foram recuperados, hoje a gente está trabalhando o tanque número 12, que é especificamente para isso. Esse cianeto, o que acontece? O cianeto é fotodegradável e ele tem um processo no final da hidrometalurgia, que a gente chama de detox, que a gente destrói o cianeto com um reagente químico também, e aí ele sai numa concentração muito baixa. E por lei, questão ambiental a gente tem uma série de controles que a gente tem que ter. Na saída desse tanque, ele não pode passar de 50 ppm [partes por milhão]. A gente tem o controle diário disso aí, nós não podemos. Porque como material da hidrometalurgia sai e é depositado nesse tanque, esse material sólido deposita e o sobrenadante vai embora; esse sobrenadante você tem esse controle do cianeto. E essa água vai pra barragem.
P/1 – Esse cianeto é usado no processo...
R – Pra solubilização, como eu te falei, para solubilizar o ouro.
P/1 – Que é a questão dele se tornar hidrofóbico ou...
R – Não, isso é na flotação (risos). Isso já é do coletor, reagente.
P/2 – Eu queria voltar um pouco no rejeito e queria que você contasse um pouco de onde vem esse olhar pro rejeito, de tentar recuperar, enfim, e se isso é uma característica aqui, da mina do Morro do Ouro, ou se você já ouviu falar disso? De onde que vem essa experiência de reaproveitar rejeito.
R – Pra te ser sincero, em mina de ouro eu não tive essa experiência e nunca ouvi falar também de tentar reprocessar esse material. Mas a gente, vamos dizer assim, brincava no passado que a gente sempre falava: “Ó, lá é a nossa mina do futuro, lá é a nossa mina do futuro”. Porque a gente não tem essa tecnologia pra recuperar os 100% e acho que nenhuma mina consegue isso. E como a gente tem lá de 15% a 20% a gente achou: “É possível?” “É possível”. Só que ficou esse tempo todo, até agora, até final do ano de 2015, ficou todo mundo: “Ah, é futuro, é futuro”. Só que agora teve uma vontade: “Vamos tirar lá” “Vamos, vamos tirar, agora está na hora, vamos tirar pra aumentar a nossa receita”. Então foi feito também um projeto e não foi barato, foi um projeto que se estudou isso aí. Não tivemos sucesso no bombeamento no primeiro momento, em 2015, e nós retomamos, e, nesse mês de junho agora, a gente conseguiu retomar e conseguimos bombear e estamos conseguindo bombeamento. A gente estava trazendo de caminhões; no final de 2015, começamos no final de 2015, 2016 o ano todo, de caminhão é muito mais caro do que o bombeamento mas, tivemos sucesso agora pela vontade mesmo, insistência, perseverança e o pessoal fez um trabalho muito bom lá agora e conseguimos através de um parceiro nos ajudar, um pessoal da África aí nos ajudou e a gente conseguiu trazer esse material bombeado. Estamos recuperando o material. Engraçado assim, estamos trazendo uma parte na Planta 1 e uma parte na Planta 2, o transportado na Planta 2 e o material bombeado na Planta 1. Na Planta 1 a recuperação é um teor muito baixo o bombeado, está vindo muito baixo, eu nunca vi, .2, nós hoje trabalhamos com .4, .5, na planta normal, está vindo com .2 o rejeito, é muito baixo, você recuperar isso é uma coisa... a gente está conseguindo 50% de recuperação. Ah, tá bom, tá ruim? A gente está começando a trabalhar pra ver se melhora, mas a gente tem que insistir.
P/1 – Ou seja, vocês trazem da barragem tanto do Santo Antônio como do Eustáquio através de bombeamento...
R – Só o do Santo Antônio por enquanto foi montada uma unidade de bombeamento.
P/1 – E aí você leva pra Planta 1.
R – Traz pra Planta 1. Nós disponibilizamos uma parte dela, da flotação, nós dividimos. Como a planta cresceu muito na época antiga da expansão com 20 milhões, hoje a gente alimenta bem menos, a gente alimenta eu posso dizer a metade do que a gente alimentava, pela dureza do minério a Planta 1 não suporta o que alimentava antes, então tinha muitas células disponíveis, vamos dizer assim, e a gente pegou esse bombeado e está levando pra essas células, então a gente consegue recuperar. É um trabalho, a gente vai... é muita ideia, sugestão, conversa e tal.
P/1 – E existe algum projeto, por exemplo, que você colocou que tem os tanques especiais pra questão do...
R – Do cianeto. Do rejeito da hidrometalurgia.
P/1 – Tem algum projeto pensado pra isso e o que seria esse projeto?
R – Olha, tem um técnico nosso que não está full-time, mas está dedicado pra esse projeto, que seria excelente não só pra gente, mas principalmente pra parte ambiental, logicamente pra nós, recuperar esse material que tem, que a gente já fez contato com as empresas de fertilizante que tem interesse nisso, de até se fazer ácido sulfúrico, por causa do enxofre que a gente tem, né? Então a gente tem um trabalho que está começando já a fazer de recuperação disso aí, que aí levaria pra essas empresas e seria uma matéria prima pra fazer o ácido sulfúrico. Esse é um trabalho que a gente está caminhando, está persistindo nele, está começando.
P/1 – Eu queria que você falasse um pouco da sua saída da Kinross, por que você saiu, conta um pouquinho pra gente, que proposta você recebeu.
R – A equipe que trabalhava aqui antigamente comigo, desde a época que eu comecei, meu chefe particularmente se tornou um dos grandes empreendedores da mina, chegou a ser o presidente de uma empresa chamada Yamana que é canadense também, trabalha com ouro especificamente. Não só ele como outros daqui também foram trabalhar com ele e em 2009 ele me fez esse convite. E era um convite que eu tinha uma ambição muito grande de ser um gerente geral de uma mineração e que, infelizmente, aqui eu não via essa condição na época e como ele fez o convite eu achei: “Acho que agora eu vou conseguir realizar o que eu queria”. E aí eu fui, ele chamou.
P/1 – E onde era essa mina?
R – Em Goiás, perto de uma cidade chamada Uruaçu, fica a 350 quilômetros de Goiânia. Também uma área remota no norte de Goiás. Na verdade, a cidade lá chama-se Alto Horizonte, eu lembrei muito de Alta Floresta, Alto Horizonte, uma cidadezinha pequenininha também, cinco mil habitantes que tem hoje. E foi um desafio grande para mim ir pra lá começando como gerente geral, 400, quase 500 funcionários lá. E uma mina bastante, poderia dizer, similar aqui. Também tinha a mina com desmonte, com britagem, moagem, moagem do moinho SAG também, moinho de bolas. Muito interessante. Gostei muito, eu fiquei dois anos lá. E foi uma experiência realmente muito diferenciada, porque não é mais a parte só técnica, né? Aí já é muito a parte, muito política também, como gerente geral, de contato com a comunidade mais próxima, tinha que ter um contato. Hoje aqui a gente tem o contato, mas o contato é muito mais do gerente geral mesmo, da área de Comunicação do que a gente que é da área técnica. Então lá foi muito contato, mais ainda até com a comunidade. Com três comunidades porque lá o transporte do produto, ele saía o produto em caminhões, ele era concentração, eles não tinham produção de barra lá igual aqui; pra sair o concentrado já vendido. E a mina é de cobre lá, cobre e ouro, então o produto principal era o cobre. Mas foi uma experiência, pra mim também foi muito boa.
P/1 – E você ficou somente dois anos lá.
R – Fique dois anos lá.
P/1 – E você voltou pra cá, pra Paracatu, ou foi pra outro lugar?
R – Não, fui pra outro lugar. Aí eu fui convidado também por um colega meu daqui (risos) pra trabalhar em uma empresa contratada da Vale. Destino, né? Voltei pra Araxá, pra mina da Fosfertil lá em Itabira (risos) pra trabalhar novamente lá, mas não na operação de beneficiamento, mas na parte da mina. E essa empresa, era uma empresa que tinha toda a operação das minas da Vale Fertilizante, eram cinco operações. Não era só na Vale Itabira que eu ia, na Fosfertil antiga, era Araxá também, Catalão (GO), Patos de Minas (MG) e Cajati em São Paulo. Cajati eu não ia muito, eu não estava mais lá, mas essas quatro eu tive contato mais direto. E depois, nos últimos dois anos, eu fiquei lá três anos e meio, eu fiquei mais em Araxá, nessas duas minas, que era uma movimentação muito maior, eram as duas maiores minas que a Fagundes na época, essa empresa que eu trabalhei, ela tinha em operação.
P/1 – E você cuidava de que parte?
R – Mais da parte de gerenciamento, mais gerencial mesmo. O meu cargo era gerente geral de operações. A gente tinha os gerentes nas unidades e eu trabalhava com esses gerentes nessas unidades. E aí a Vale teve que primarizar Araxá, ela não podia ficar contratada com essa empresa, teve um processo contra ela, que ela tinha que primarizar. Então ela resolveu comprar todas as unidades dessa empresa contratada pra primarizar tudo, de uma vez só e passou a ser tudo Vale. Então eles compraram todos os caminhões, todas as máquinas, o pessoal todo foi pra lá. E como eu não era diretamente ligado a essa empresa, eu era pessoa jurídica, a Vale não nos absorveu, as pessoas jurídicas ali, e eu procurei outra alternativa.
P/1 – E foi quando você veio pra cá de novo?
R – Não, ainda não (risos).
P/1 – Pra onde você foi?
R – Eu fui pra Rondônia (risos). Lugar bem perto (risos).
P/1 – E Rondônia o que era?
R – Rondônia. Outra coisa que eu falo de relacionamento, a gente conhecer pessoas é muito bom. Rondônia foi esse meu colega que me chamou pra lá, através dele, essa mina de... Não é mina, área de pesquisa de manganês. Lá já tinha duas plantas pequenas em operação, que eles estavam usando como uma plantinha piloto, uma planta de trabalhar o minério, conhecer esse minério de manganês, e aí eu fui pra lá pra olhar essas duas plantas lá. Era um sistema totalmente diferente do que eu tinha no meu dia a dia; eu tinha o famoso fly in, fly out, como lá era distante eu ficava 20 dias lá e 10 dias em casa. Mas era nessa questão de operação, segurança, manutenção dessas duas plantas. Não eram muito grandes, eram pequenas, devia ter uns 100 funcionários mais ou menos.
P/1 – E sua família?
R – Ficava em Belo Horizonte, estava em BH. Eu tive algumas oportunidades nesse período de 2015, que foi um ano terrível, hein? Não só o país e pra mineração então, parou, né? Então, eu não tinha outra opção também. E foi rápido, saí em janeiro e no início de março estava com essa opção e foi muito bom. Esse meu colega, por exemplo, ele não quis. Ele falou: “Eu não vou não porque é muito longe”. Eu falei, pra mim... interessante nesse caso a empresa é australiana, que eu não conhecia, não era conhecida no mercado no Brasil aqui de mineração e eles estão investindo muito. Eu sempre tenho contato com alguém de lá e eles estão dizendo que já vão fazer uma planta grande, 50 mil toneladas/ano de produção, a que eu tinha lá era 10 mil. E devia ser bom porque já estão nessa operação, vão começar essa operação esse ano. Mas aí, lógico, o mercado está aí, eu estava olhando o mercado. Tive algumas oportunidades no Norte, Rio Norte, mas era mais mina e uma outra também no Norte, mas era mina também. Foi quando apareceu aqui. Eu fiquei sabendo que o gerente daqui dessa área estava saindo e aí eu mandei, eu falei, eu conheço o Bob, que é o nosso VP [Vice-Presidente], na época da expansão, conheci lá quando eu estive no Alasca, ele me ajudou muito lá, quando eu estive lá. Eu falei: “Vou mandar pra ele”. Ele é o chefe do nosso gerente geral, então. Aí mandei um e-mail pra ele, eu falei: “Olha, Bob, eu tenho vontade de voltar pra Paracatu. Se tiver uma oportunidade, fiquei sabendo que tem uma oportunidade, se tiver uma condição de concorrer a essa vaga aí”. Aí começou, ele passou pro Gilberto, o gerente geral. Aí vim, fiz uma entrevista por telefone lá de Rondônia, depois vim cá fazer uma entrevista com o próprio Bob e o Gilberto, aí deu certo. E realmente a vida tem um negócio, eu nunca imaginava, sinceramente. Quando eu saí daqui em 2009, eu nunca imaginava que um dia eu estaria aqui de volta trabalhando aqui na planta com o pessoal antigo. Mas está sendo muito bom, eu gostei demais de ter retornado. Muitas diferenças, muitas mudanças. No nível operacional tem muita gente que eu conheço, o nível operacional que é o pessoal de Paracatu mesmo, da cidade, tem muita gente. Então eu tive uma recepção muito boa, o pessoal fantástico. E o pessoal também, de liderança também, que praticamente a liderança eu não conhecia. De gerente mesmo, os departamentos também, o pessoal que trabalha comigo eu não tinha, alguns sim de departamentos quando eu trabalhei aqui eles eram supervisores, ou mesmo assistentes, que cresceram e isso foi bom. Isso é uma grande, eu considero muito bom aqui desde o passado essa valorização da equipe, de: “Vamos buscar o pessoal nosso, se a gente não tiver aqui dentro a gente busca fora, vamos ficar aqui dentro, se não conseguir vamos buscar fora”. Isso também é uma coisa que eu sempre na época que eu trabalhei aqui e continuo fazendo aqui desde quando eu voltei agora.
P/1 – Você falou que teve algumas mudanças. Que mudanças foram essas? De pessoas ou da forma de gerir, o que você achou de diferente de quando você saiu pra quando você chegou?
R – Bom, pessoas, muitas mudanças, muitas pessoas diferentes, né? Mas assim, a gente vê, a área, vamos falar bem específico. A área de Comunidades, houve uma evolução. Quer dizer, eu nunca vi uma festa daquela igual àquela festa de Primeiro de Maio que a gente faz aqui, é a segunda que eu participei nesse ano. Coisa impressionante. Você trazer aqui Vitor e Léo, depois nesse ano o Jota Quest, uma coisa fantástica, né? É um evento no dia, esse dia Primeiro de Maio é uma coisa espetacular, a cidade se mobiliza toda pra esse evento aqui. E é uma coisa também pros funcionários, todos os funcionários, e é impressionante. Sinceramente eu nunca, no passado, tinha visto isso. Tinha festas de fim de ano, aquele negócio, mas um evento e a turma adora, né? A gente sabe disso. A área de Comunidades, o relacionamento com a comunidade mudou. Mas assim, às vezes, eu estou no dia a dia aqui e não aparece pra mim, acompanho no jornalzinho, mas às vezes a nossa participação técnicos aqui, eu, planta, mina, a gente participa pouco. Não é porque eles não chamam, não, é porque a gente não vai mesmo. Deveríamos participar mais, mas existe essa oportunidade, integrar na publicidade, uma série de movimentações que eles fazem que eu acho interessante. Mas o que eu acho uma coisa, eu não sei também a razão, mas eu acredito que tenha um pouco de distanciamento da cidade hoje com a gente, eu sinto isso um pouco, do passado pra esse momento agora. Não sei dizer por que, sinceramente, mas que existe, existe. Às vezes as pessoas me chamam: “Pô, mas o pessoal anda um pouco distanciado, tal”. Mas não é por ter a relação, assim, o pessoal da Comunidade daqui da área de Comunicação tem muita coisa, está se fazendo muita coisa na cidade, entendeu? Eu acho que na questão de base, entendeu?
P/1 – Em cima da história que você nos contou eu fico imaginando, por ser uma mina muito próxima da cidade e essa expansão, os impactos foram maiores na sua maneira de ver? E talvez essa proximidade da comunidade tenha crescido em função disso. Porque você fala que a Comunicação está diferente. Você acha que está diretamente ligada ao tamanho da mina e do impacto que ocorreu ou não, você acha que é um direcionamento, ou uma diretriz da empresa?
R – Eu acho o seguinte, a unanimidade nunca vai ser, nunca vai ter, você não vai ser 100%, não vão estar aqui: “Ah, pessoal, todo mundo, a cidade inteira adora a Kinross”. Não é bem assim, a gente sabe disso. Mas pela proximidade, a proximidade da cidade, é um ponto que pra mim é crucial nessa questão. Eu acredito que a diretriz da empresa é pelo contrário, a gente tem um respeito tão grande pela cidade que você, não sei se você teve essa informação, mas à noite a gente tem o controle de ruído na nossa mina. Se esse ruído passa do limite que a gente tem que ter, independente de ter reclamação ou não a gente para ali, para ali. Eu não sei se em outras minas, se tivesse uma proximidade dessa iria fazer isso: “Opa, você está abrindo mão de uma condição operacional por uma condição ambiental”. Aqui não, aqui para. Para mesmo. E às vezes até eu sei que quem é da área de produção: Aaaahhhh! Mas tem que parar. E a gente, não é que a gente, a gente cria essa condição: “Realmente tem que ser”. Porque se a gente continuar assim, a gente pode é paralisar mesmo. Parar duas, três horas da noite, qual o problema? Então não é porque alguém reclamou. Existem as reclamações? Alguém quando vem reclamação ela é procedente ou não. Não existe reclamação improcedente, a gente acredita que todas elas são procedentes, a gente acata. Mesmo sabendo às vezes, o cara: “Pô, esse aqui, só ele está reclamando”. Como a gente tem, só reclama uma pessoa. A gente: “Ok, procedente”. A gente vai, avalia, a gente tem a medição é direta, não é só se o cara reclama se é uma noite só, todo dia tem a medição. Então tem que ter esse respeito. E isso vem, é uma diretriz, a empresa coloca isso pra gente.
P/1 – Como é pensado o plano de compensação ambiental? Eu sei que não fica na sua área, mas é aquilo que você falou no começo, que tem uma coisa de conexão com as outras áreas. Como a sua área ajuda no pensar desse projeto de compensação ambiental e como isso se dá?
R – A minha área, a área de produção no caso do beneficiamento é, vamos dizer assim, fundamental nesse processo. É uma cadeia, né? Primeiro, a questão da água, que as duas plantas aqui consomem dez mil metros cúbicos por hora de água, então tem que saber como utilizar essa água. A parte dos reagentes também, o próprio cianeto, os tanques específicos; eles não queriam ter esses tanques, a gente queria trabalhar isso daí o mais rápido possível. Essa inovação de ter um tanque, o 12 no caso, esse tanque 12 vai ficar por muito tempo. A gente teria que fazer 13, 14, 15, a gente faz um alteamento nele que é muito mais, ambientalmente falando, melhor. Em vez de você criar outros tanques, você vai criando outras células e aí piora o problema. Então faz o alteamento, centraliza em um só ali. Esse já é um trabalho, já é um desenvolvimento bom nessa questão ambiental. E cercar de todas as maneiras a nossa área. Eu sei disso, o pessoal sabe, a mineração é uma, a gente altera o ambiente, não tenho dúvida disso, mas por uma boa causa, né? Se você chegar em Paracatu hoje e perguntar pra toda a população: “Vocês querem que a Kinross permaneça ou que a Kinross vai embora daqui?”, qual seria o resultado? Eu acredito que seria positivo. A questão de emprego, de renda, o movimento, a movimentação no comércio. A gente procura comprar o máximo possível daqui, as pessoas contratadas, a contratação de pessoas é muito, tanto de contratados como de próprios, preferência para Paracatu pra depois você ir pra fora. É aquela história, se eu não achei eu vou buscar fora, mas a preferência é de Paracatu. Então essa relação tem que ser perpetuada, tem que ser assim, né?
P/1 – E queria que você falasse um pouquinho agora, que eu lembrei de uma coisa do processo que você tinha contado pra gente, na outra ocasião, que é a questão, você tinha usado no começo o próprio processo de batear aqui na mina. Eu queria que você falasse um pouco como você usou e por que usou o processo de batear também.
R – É, isso sempre vai pela evolução, tecnologia. A gente tinha no processo, na planta do concentrado, a gente passava por um equipamento que é um concentrador gravídico que eles chamam, ou gravimétrico, tanto faz, e esse concentrado a gente levava pra fundição e a única maneira da gente concentrar mais ou fazer uma concentração melhor disso aí era a bateia. E aí a gente usava a bateia dentro da fundição e tinha mesmo. Os dois bateadores ficavam lá bateando esse material. Era esse material, uma parte do concentrado, a gente desviava pra esse concentrador e esse concentrador, a outra parte ia pra hidrometalurgia normalmente. Nós evoluímos depois com uma mesa vibratória, que era uma mesa mesmo, ripada, você ripava essa mesa e o ouro, por ser mais pesado, ele se concentrava mais e se direcionava. E a gente pegava esse ouro e também levava pra fundição. Já agora, ultimamente a gente achou um novo equipamento que a gente já usa mais a parte química, que você vai lixiviar esse material, esse concentrado gravídico gravimétrico, pra lixiviar e aí você não tem contato nenhum, não usa mais mesa, não tem mais a bateia, não precisa mais. Ele vai concentrar e vai o seu processo de eletrodeposição normalmente, entendeu? Que já é uma tecnologia bem maior, bem mais avançada, você não tem contato nenhum.
P/1 – Você falou que casou. Eu queria que você falasse como é que você conheceu a sua esposa e quantos filhos você tem.
R – Isso é um caso raro (risos). O meu pai é primo de primeiro grau do pai da minha esposa, são primos primeiros. Então, ela é minha prima terceiro grau, que aí já não tem tanto problema, né? (risos) Mas eu sempre, como eu te falei, meu pai tinha um apego muito grande com Araxá pela mãe dele, pela minha avó paterna, sempre ia pra Araxá e a gente passava em Bom Despacho e ia sentido pra Araxá. E aí, eu já conhecia... A minha esposa é quatro anos mais nova do que eu. E aí já desde pequeno eu já conhecia, mas não tinha nada, não teve nada demais, nem de namorico, nem nada. Aí foi passando o tempo e tudo e aí, sei lá, eu comecei a ficar mais próximo dela, no colégio, ela era de um outro colégio de BH, mas eu ia muito lá nesse colégio, pra paquerar também e tal, né? Era ela e outras também (risos). Mas aí chegando um belo dia lá, aí deu certo o negócio lá. Eu chamei: “Vamos ficar o negócio ficar mais sério, tudo”. E como ela era de Araxá e eu fui pra Araxá, aí ficou mais fácil. A gente casou lá em Araxá mesmo e morando esse tempo pra vir pra cá, né?
P/1 – E você tem quantos filhos?
R – Eu tenho três filhas.
P/1 – São três mulheres.
R – Três mulheres.
P/1 – E como é ser o único homem da casa? (risos)
R – Sabe que não é ruim, é bom. Elas ficam só paparicando (risos), mas é bom.
P/1 – Como é o nome delas?
R – Ana Paula, ela está hoje com 25 anos, é dentista já. Minha esposa também é dentista, ela seguiu a carreira da mãe. Está noiva, vai casar no ano que vem, vai casar em Araxá na mesma igreja que nós casamos, ela que quis, ninguém mandou (risos). A segunda é a Letícia, ela fez Direito, formou no ano passado na Federal em Direito; está estudando, pra fazer os concursos, vai ver se passa em algum concurso. E a terceira é a Maria Fernanda que está com 17 anos, ela vai fazer vestibular esse ano, está no Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] lá pra fazer; vai fazer Engenharia de Produção, está querendo. Mas essas três, a mãe acho que criou muito bem, sinceramente. Elas são muito bacanas, muito especiais. Graças a Deus nunca, nunca, nunca deram nenhum problema, nada. E a gente sempre conversa, negócio filho é conversa hoje, você tem que ficar muito, o mundo hoje está bem mudado. Na minha época lá de jogar bola na rua, hoje não tem mais isso, o negócio hoje está complicado.
P/1 – E as três nasceram aqui em Paracatu?
R – Eu casei em 87, a primeira nasceu em 1992. Só que aquele negócio de mãe, a mãe da minha esposa é de Araxá, está morando lá, então ela teve que ir lá pra ter as duas, a primeira e a segunda. Só que aí a terceira eu falei: “Não, essa terceira tem que ser paracatuense, essa aí eu não abro mão” (risos). Aí a terceira é daqui a terceira nasceu aqui.
P/1 – Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que significa uma mina completar 30 anos, na sua visão?
R – Quando eu vejo aqui 30 anos eu lembro muito da mina que a gente na época de escola conhecia e tinha aquela vontade de trabalhar como lá em Itabira, que é a Vale. Que na época todo mundo, o sonho naquela época era todo mundo trabalhar numa mina de Itabira e perpetuar nessa mina por esse tempo todo. Agora eu te falo, eu nunca imaginei, nunca imaginava também, de ficar tanto tempo aqui. Quando a gente veio pra cá, a gente novo, eu tinha 29, a mina era até 1997, né? A gente fica aí até 1997, menos, cinco anos, o que for. Sinceramente a gente nunca imaginou, pensou. Mas uma coisa que eu falo assim: “Poxa, 30 anos?”, eu acho que foi, esses 30 anos significa a equipe que estava aqui, as pessoas que estavam aqui dentro, que acreditaram no projeto, que é um projeto que tinha, muitas pessoas, como eu falei, não acreditavam, a empresa não tinha parceiro pra trabalhar. O meu primeiro chefe que falou: “Eu vim pra cá, mas muitas pessoas falavam, você tá doido, não vai dar em nada com aquele teor tão abaixo, aquilo não vai dar em nada”. Então eu acredito o seguinte, ainda bem que naquela época aqui tinha essas pessoas que acreditavam que podiam fazer alguma coisa de bom aqui. E isso foi acreditando, foi colocando a parte de segurança principalmente, que valorizava muito as pessoas e é um forte, a Rio Tinto tinha a RPM aqui como uma empresa referência do grupo Rio Tinto em segurança do trabalho, muitas pessoas vinham aqui pra conhecer, do grupo mesmo. Então eu acho que é isso. E hoje, essa continuidade de hoje, quando a Kinross assumiu também, quer dizer, a própria Kinross dizer isso: “Eu não quero mudar nada aqui, eu não quero fazer uma mudança drástica aqui, tirar todo mundo e colocar minha equipe”. Mas é lógico, à medida que o tempo vai passando vão saindo, as pessoas vão buscando outras oportunidades e às vezes voltam (risos). Mas o legado que foi deixado aqui acho que foi muito forte, por isso eu acho que 30 anos, se falar, mais 30 anos aqui vai conseguir com esse legado que se deixou e que se perpetua através das equipes que vão passando umas para as outras e acreditando no que o passado virou um presente que vai virar e vai perpetuar isso no futuro. Eu achei muito. Eu acho que essa mina é uma história que começou e que eu acho que tem um tempo pra acabar. Você fala assim: “2031 é final dela”. Hoje é, no papel, você apresenta pra diretoria, lá pra Toronto, o que for, mas quem acreditava quando começou aqui ela ia ficar 30 anos igual tá hoje? Independente de ser empresa ou não, as pessoas que vieram pra cá acreditaram e as que estavam aqui, por uma certa influência, passaram essa ideia pra turma e a turma vai levando. Você vê os americanos que estão aqui, eles mesmos, meu chefe que está aqui, ele acredita e ele é um cara extremamente otimista, confiante e gosta daqui e já falou que gosta. É um cara que mora lá do outro lado do mundo, mas gosta do ambiente, gosta das pessoas, cria, pode ser da maneira que as pessoas às vezes gostem ou não, mas é a maneira deles trabalharem. Mas é isso, é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam, ah, reclamam, reclamam, eu falo: “Moçada, se não está feliz, o que você está fazendo aqui?” (risos) Pega o seu boné e vai buscar um outro lugar, né? Igual em 2009, eu estava feliz, mas me chamaram pra ir pro outro, eu vou pra lá. Voltei, eu estou feliz aqui? Estou. O dia que eu não achar isso, vou embora. Então assim, é isso que eu penso. Acho que as pessoas que ficaram aqui nesses 30 anos, que passaram, se a gente for olhar, quantas pessoas. Um exemplo, laboratório químico, a gente estava comemorando 30 anos, nunca teve um acidente no laboratório químico desde o início daqui. Nunca um acidente com afastamento, nunca. Então a gente estava comemorando lá esse tempo e a gente falou: “Puxa vida, a gente vai comemorar aqui, mas quantas pessoas já passaram desde 87 até agora?”. A gente fez uma conta ali, deu mais ou menos 150, 160 pessoas no laboratório. Puxa vida, 160 pessoas é uma turma grande, né? Mas é uma turma que foi acreditando, acreditando e um passando pro outro. Tem pessoas que têm 30 anos aqui, que fala isso, fala: “É o acreditar de cada um”. E hoje eu considero um funcionário, esse cara falando de 30 anos, Osvaldo, que é o Maguila, 30 anos, chegou a pessoa nova aqui, eu trato da mesma maneira que qualquer um, até mais ainda com carinho pra que ele perpetue isso aqui. Então assim, sinceramente, a gente não vê isso, é difícil a gente ver essa relação.
P/1 – E pra finalizar, até em cima do que você colocou, qual a importância da Kinross promover um projeto com base na memória oral, como esse que a gente está fazendo, escutar as pessoas que ajudaram a construir essa empresa?
R – Olha, eu não sei quem deu essa ideia, não, mas ela é fantástica (risos). Muito, muito interessante, muito legal. Pra isso, né? Você fala: “Pô, 30 anos de empresa”, quantas pessoas passaram, você buscar aquilo do passado, por que que hoje perpetua, aquela ideia que começou no passado. Então assim, eu só tenho a elogiar e realmente é uma ideia muito positiva.
P/1 – E como é que foi pra você contar a sua história pra gente?
R – Olha, são quase nove horas da noite (risos), nós estamos aqui desde quanto tempo? Não sei nem...
P/1 – Umas três horas.
R – Pra mim, vamos ficar mais tempo aí, só vocês quiserem a gente fica mais tempo (risos). Mas foi muito bom, foi interessante. Falei até muita coisa que a gente relembra, vai relembrando e aí vai lembrando. É igual eu falei, se deixar a gente vai falar aqui muito tempo. Então foi muito bom e muito agradável mesmo. Me senti muito tranquilo, ótimo mesmo.
P/2 – Só queria fazer uma pergunta.
R – Faça.
P/2 – Fiquei curioso de saber, daqui a alguns anos você provavelmente vai se lembrar que num feriado de Corpus Christi você estava aqui com a gente (risos). Mas o que você costuma fazer no seu tempo livre?
R – Olha, eu adoro futebol, esporte. Eu joguei bola aqui até, no clube, me quebrei meu tornozelo aqui no clube, uma coisa boa. É futebol. Em casa eu sou muito caseiro, eu não sou muito de sair, não. Mas se eu estou em casa eu gosto de ver esporte também, futebol. Mas esporte não é só o futebol, eu gosto de vôlei, mas eu gosto de estar na telinha vendo, não sou muito de sair, não.
P/2 – E esse clube é na cidade?
R – O clube era aqui dentro da empresa. A gente tinha um clube aqui e agora o clube a gente está na cidade, no Jóquei, que é o clube que a gente usa hoje. O clube aqui ficou muito, além de hoje não estar, ele está na área do rejeito lá, já não existe mais o clube, já foi inundado, vamos dizer assim. Aqui dentro tinha questão de pessoal vinha pra cá, às vezes tomava uma e pra ir embora tinha a questão, né? Mas isso aí não foi relevante, não, a questão principal é a distância. Então a atração maior no Jóquei é maior na cidade, o pessoal achou pra mudar pro Jóquei. Mas aqui também tivemos vários eventos aí, tinha campeonatos internos de futebol e tinha os externos também, que vinha o pessoal do Banco do Brasil, Banco Bradesco, tal, Cooperativa, pessoal vinha, os times jogavam aqui, tinha um campeonato externo aqui mesmo, era muito legal. É igual eu falei, tudo tem sua época, né? A época do clube aqui já acabou, agora o negócio é lá no Jóquei.
P/1 – Eu queria agradecer em nome do Museu da Pessoa e da Kinross a sua participação e obrigada por ter ficado (risos).
R – Eu que agradeço, muito obrigado!
FINAL DA ENTREVISTA
Recolher