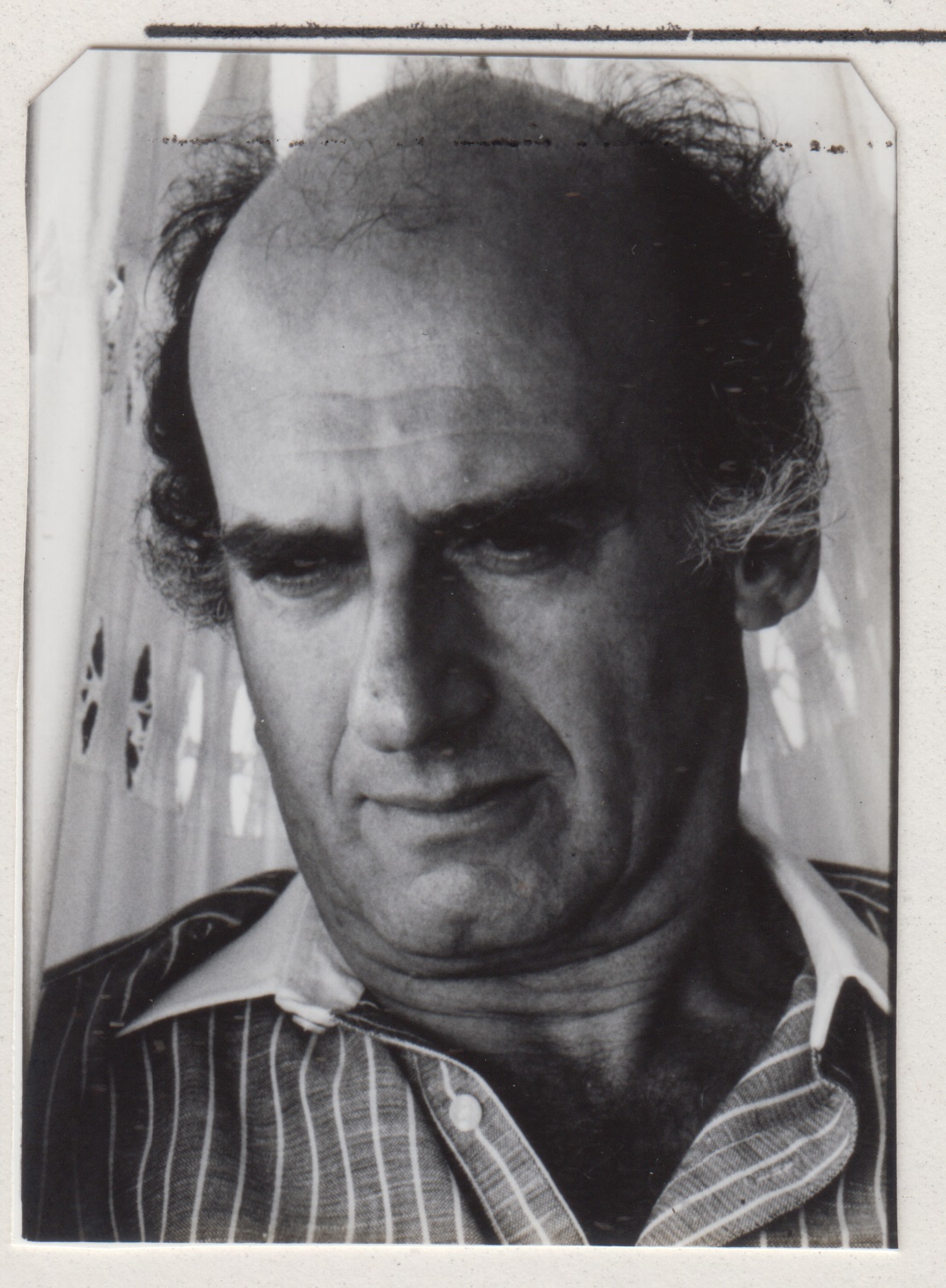P/1 – Bom, Vera, primeiro queria agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. E para começar a entrevista, quero que você fale o seu nome completo, onde e quando você nasceu.
R – Meu nome é Veronice Souza Gomes, nasci no Piauí, na cidade de Itainópolis, em 08 de fevereiro de 1962.
P/1 – Qual o nome dos seus pais?
R – O nome dos meus pais é Antonio Gomes Filho e Alice Souza Gomes, todos do Piauí. (risos)
P/1 – E dos seus avós, você sabe?
R – Dos avós, não sei. Do avô paterno, eu não sei. A minha avó materna era Maria e meu avô, Raimundo Honório. Mas os paternos eu não sei.
P/1 – E qual é a história da sua família? Como os seus pais se conheceram?
R – O meu pai era tropeiro, como chamavam lá, lidava com animal, levando de uma cidade para a outra para vender. Ele comprava e vendia. Então, chegando na minha cidade... Tanto é que eu não conheço meus avós paternos, porque o meu pai não é do Piauí, da mesma cidade da minha mãe. Foi viajando que ele conheceu a minha mãe. Ele é do Maranhão. Quando chegou ao Piauí para casar com a minha mãe, acho que ela não tinha mais os pais, que já tinham morrido. Só que meu pai é um homem muito batalhador, em matéria de pessoa, de ser humano, pode existir igual, mas melhor do que meu pai... Hoje não está mais conosco, mas foi muito amado. E nós, os filhos, fomos muito amados por ele. Então não tenho mais pai, não tenho mais mãe. (choro) Não aguento falar do meu pai.
P/1 – Você quer fazer uma pausa?
R – Depois de conhecer a minha mãe, começou a ter filhos. Ele começou a vir para São Paulo. É por isso que nós hoje estamos aqui. Cada ano ele ia de férias para visitar a minha mãe e passear de férias. A minha mãe ficava grávida de um filho e ele voltava. Quando ele voltava, um ano depois, tinha mais um filho que tinha nascido. E ele ficava mais um mês lá, deixava...
Continuar leituraP/1 – Bom, Vera, primeiro queria agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. E para começar a entrevista, quero que você fale o seu nome completo, onde e quando você nasceu.
R – Meu nome é Veronice Souza Gomes, nasci no Piauí, na cidade de Itainópolis, em 08 de fevereiro de 1962.
P/1 – Qual o nome dos seus pais?
R – O nome dos meus pais é Antonio Gomes Filho e Alice Souza Gomes, todos do Piauí. (risos)
P/1 – E dos seus avós, você sabe?
R – Dos avós, não sei. Do avô paterno, eu não sei. A minha avó materna era Maria e meu avô, Raimundo Honório. Mas os paternos eu não sei.
P/1 – E qual é a história da sua família? Como os seus pais se conheceram?
R – O meu pai era tropeiro, como chamavam lá, lidava com animal, levando de uma cidade para a outra para vender. Ele comprava e vendia. Então, chegando na minha cidade... Tanto é que eu não conheço meus avós paternos, porque o meu pai não é do Piauí, da mesma cidade da minha mãe. Foi viajando que ele conheceu a minha mãe. Ele é do Maranhão. Quando chegou ao Piauí para casar com a minha mãe, acho que ela não tinha mais os pais, que já tinham morrido. Só que meu pai é um homem muito batalhador, em matéria de pessoa, de ser humano, pode existir igual, mas melhor do que meu pai... Hoje não está mais conosco, mas foi muito amado. E nós, os filhos, fomos muito amados por ele. Então não tenho mais pai, não tenho mais mãe. (choro) Não aguento falar do meu pai.
P/1 – Você quer fazer uma pausa?
R – Depois de conhecer a minha mãe, começou a ter filhos. Ele começou a vir para São Paulo. É por isso que nós hoje estamos aqui. Cada ano ele ia de férias para visitar a minha mãe e passear de férias. A minha mãe ficava grávida de um filho e ele voltava. Quando ele voltava, um ano depois, tinha mais um filho que tinha nascido. E ele ficava mais um mês lá, deixava minha mãe grávida e voltava. Somos dezoito irmãos. Meu pai e minha mãe tiveram dezoito filhos, sem contar que quando ele casou com a minha mãe ele já era viúvo e tinha uma filha do primeiro casamento. Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, ele foi envelhecendo, ficando mais maduro e, aí, parou em casa. Ficou só cuidando de nós por lá mesmo, e muito amoroso. Um pai que as filhas e os filhos, principalmente as filhas mulheres, que costumam ter mais amizade e conversar com as mães, mas conosco não era assim. Era com o pai. Tudo. Até de namorado, era com meu pai que falávamos. Então escondíamos as coisas da minha mãe, mas meu pai sabia de tudo. Quando a gente, na adolescência, começou a fumar, muitos fumam, outros não. A minha mãe não aceitava que fumassem, então, quando meu pai estava por perto, via que minha mãe ia nos pegar com o cigarro, ele ia até nós e tomava o cigarro da nossa mão. Meu pai nunca fumou, nunca bebeu, nunca jogou. Meu pai não tinha vício nenhum. Mas ele fumava o cigarro para nos defender. Colocava o cigarro na boca. A minha mãe falava a ele assim: “Você tá ficando doido, homem? Você tá fumando?” “É brincadeira, estou só brincando.” Não, era para defender as coisas, (risos) porque nós, mulheres, fomos sempre muito danadas. Nunca fomos ricos, mas também nunca passamos necessidade. No Piauí, enquanto estava com o meu pai, não. Já passei altos e baixos depois de casada, mas com o meu pai, não. Ele sempre foi muito homem para trabalhar e manter a família dele. Então, depois que todo mundo se casou, ele já não aguentava mais trabalhar tanto e, também, logo se aposentou. A minha mãe aposentou e continuaram a vidinha deles. Quando crianças, vivíamos da cidade para o interior. Estudando na cidade e meu pai no interior com a minha mãe. Depois que crescemos e paramos de estudar e que cada uma se casou, uns vieram para São Paulo e outros ficaram lá mesmo. Ele continuou junto com a minha mãe, de boa, com os que ficaram, porque somos em muitos irmãos. Não vieram todos. E, como pobres, a educação foi sempre em primeiro lugar. Até hoje, depois que viemos para cá, em Capuava, ouvi falar de drogas, já ouvi de parentes envolvidos com isso... Não algum irmão que o meu pai criou, mas sim netos, mas jamais faríamos um negócio desses para magoar o nosso pai. Então ele nos educou muito bem. E uma coisa que meu pai sempre ensinou: “Isso é seu?” “Não, é do outro.” “Se você acha um dinheiro na casa de alguém, no chão, não pegue. Está na casa dele, tem dono.” Fomos criados assim, e assim criei as minhas duas filhas. Tenho duas filhas, Ágata e Agda Lis, uma com 25 anos e a outra com dezoito. A educação que recebi, eu passei a elas. Até hoje, graças a Deus, minha filha teve um erro, mas é um erro que todo mundo erra. E quem não erra? Ela teve um filho ainda menor de idade, que é o meu netinho e que estou esperando vir da creche. Mas em matéria de outra coisa errada, graças a Deus, até hoje eu tenho orgulho das duas.
P/1 – Vera, conte como que era a infância com esse monte de irmãos? O que vocês faziam?
R – Muitos irmãos e primos, porque a família era enorme. Tanto na cidade, durante a escola, o período de aula, tinha muitos primos, primas e, quando chegava o final de semana, íamos para o interior. Era gostoso. Falo para as minhas filhas hoje: “Eu era feliz, fui feliz e vocês não são nessa parte, porque vocês não têm terreno, não têm o espaço que tínhamos.” Foi muito boa a minha infância, a coisa mais linda desse mundo. Então, como falei, éramos humildes, mas era muito lindo. No final de semana, os nossos amigos da cidade, nenhum ficava na cidade. Eram três casas: a casa da minha mãe e a casa das duas tias. O pessoal da cidade, os adolescentes, os amigos, homens e mulheres, iam para o interior, que era pertinho da cidade. Então, no final de semana, sábado e domingo, era só brincadeira. Era muito gostoso. Era banho de açude, andar de animal, ensinar os outros a montar. Eu era a sapeca. Fui ‘triste’. Meus pais e meus tios tinham cavalo de corrida, de aposta mesmo, e era eu quem treinava os cavalos, junto com os meninos. Então, quando chegava o final de semana, eu ia fazer corrida, ficava o tempo inteiro correndo com aqueles cavalos, o tempo inteiro, e colocando os outros para brincar comigo também. Certo dia, não quis ir brincar e pus meu irmão para correr. E o cavalo, acostumado comigo, quando chegava à cocheira, ele vinha até uma calçada alta, pulava, que aqui em cima da calçada era a cocheira dele. E o meu irmão não sabia que ele pulava em cima da calçada. Quando o cavalo veio e pulou, meu irmão caiu dentro da cocheira (risos) e quase se arrebentou todo. “Por que você não me avisou?” “Ah, não sabia? Você vê sempre eu treinando e não se liga.” Mas a minha adolescência foi uma delícia. Hoje, falo para as minhas filhas: “Que pena que vocês não foram criadas como eu fui.” Mas só por falta de espaço, o amor que recebi dos meus pais eu passei para as minhas filhas.
P/1 – E qual era a sua brincadeira preferida enquanto criança?
R – Subir em árvore e pular corda. Nós tínhamos uma brincadeira de amarrar uma corda bem alta e ia subindo. Pegávamos uma madeira e pulava. Com aquela madeira nós fazíamos um salto mortal, como o João do Pulo. Nós brincávamos muito disso. E ia aumentando a corda até uma altura que nós não conseguíamos pular. Era a brincadeira que nós gostávamos mais. Ou, então, brincar de roda, de esconde-esconde... Brincávamos de tudo. E bola também, que era muito problema. (risos) Jogava bola demais. Eu e a minha irmã que é mais velha do que eu um ano, ela é de janeiro, eu sou de fevereiro, éramos as goleiras do time, além de jogadoras. Os primos e os irmãos eram os jogadores. Você sabe que era uma família enorme e somos até hoje. Se juntar a minha família, não tem casa que caiba. Para alugar um salão, tem que ser muito grande para caber a família. Então era gente demais e tudo que inventávamos para brincar dava certo. Dos nove até os treze anos eu e a minha era irmã éramos goleiras. E tinha um primo que era muito invocado e não admitia que o time dele perdesse. Quando, um dia, o time dele perdeu (risos), que não era o meu time, eu era do outro lado, e eu era a goleira do outro time. Eu estava na trave de braços abertos esperando acabar o primeiro tempo para voltar para a função. O meu primo chutou uma bola e estava nascendo o meu seio. E foi bem no meu peito. Eu caí na hora. Chorei. A minha mãe nos tirou do time e aí acabou, não teve mais futebol, (risos) porque não tinha goleiro. Mas brincávamos de tudo. Eu brincava igual a um menino. Tudo o que eles faziam, eu fazia do mesmo jeito. (risos)
P/1 – E, Vera, como era a sua casa? Você se lembra dela?
R – A Minha casa? Como posso esquecer? A minha casa era muito grande, mais ou menos de uns oito, nove cômodos. Era a sala, a varanda, a sala, copa e cozinha. As casas antigas do interior são assim. E depois vinha os vários quartos. Um quintal para todos os lados. Os terreiros eram aquele mundo sem fim. Estou falando do interior, que é onde eu gostava mais. Aquele terreiro enorme e, depois, no fundo da casa, aquele cercado. Até nos filmes você vê um cercado atrás. Tudo cercado. Era uma casa muito gostosa. Não era no piso assim, mas era cimento queimado, muito bem limpa. Na época não existia cera e derretíamos vela para encerar o chão. Não tinha rodo para todo mundo e a casa era muito grande. Puxava a água de chinelo havaiana. Cada um pegava a sua havaiana e puxava a água. E depois que terminava de secar, encerava, ficava aquela coisa mais linda, aquele piso azul esverdeado, a coisa mais linda. Mas toda semana, eu tenho por hábito a sexta-feira, que é a minha faxina, porque desde que nasci, vi a casa da minha mãe ser faxinada na sexta-feira. Sábado e domingo era para receber as visitas. Então, na sexta-feira, tem que ser a faxina geral. Isso era muito gostoso. E com as casas dos meus tios sempre perto, íamos de uma casa para a outra, o tempo inteiro. E tudo o que tinha numa casa. Meus pais, tios e avós, criavam muito gado e ovelhas.
(Interrupção)
R – Então, a minha família era de muita criação. Criava muito gado, porco, ovelha, tudo que é criação que você possa imaginar, eles criavam. Então, na minha família, não existia vender, não tinha negócio de ‘vou matar para vender’. Não. O que tinha de boi, se matasse um boi, era dividido na família. Então o meu pai matava um boi. As quatro casas, que eram a casa do meu pai e mais outras três, aquele boi era dividido pelas quatro famílias. Eles matavam lá e era a mesma coisa. Nunca o meu pai pegou um quilo de nada para vender. O meu pai criava e plantava muito, era de muita plantação. Ele era barriga cheia mesmo, sabe? A minha mãe até ficava com raiva às vezes, porque ele tinha muito, colhia muito milho, feijão, algodão e não vendia nada. Só o algodão era vendido. Mas o de comer, não, era dado. Tinha muito, então vou dar para quem precisa, para quem não colheu ou não teve isso daí. Então foi sempre assim. Fomos criados sempre nesse regime em que se você tem e o outro não tem, vamos dividir. E era assim que o meu pai fazia. A minha família todinha fazia. Depois de um tempo, houve um acidente com um tio, irmão da minha mãe. Foi aí que a nossa família começou a se bandear para outras cidades, outros lados. Ficamos desgostosos, porque mataram o meu tio enganado. Foram matar o prefeito da cidade e ele parecia muito com o candidato à prefeito. Então mataram o meu tio. Era outro que, nossa...
P/1 – Por que foram matar o prefeito?
R – Não sei. Foi a oposição, o pessoal do outro partido, para impedir a candidatura do rapaz. Foram lá e o mataram. Ele estava numa festa no interior, à noite, não tinha luz na época, era candeeiro. Tudo escuro. Foram atacar o candidato e mataram o meu tio. Era outro homem de barriga cheia. Tudo o que ele fazia era em benefício de ajudar os outros. Mas a minha família foi boa. Fomos muito bem criados, graças a Deus, e não tenho do que reclamar. Temos contato até hoje com os sobrinhos, a maior parte dos primos moram aqui em São Paulo, e fomos criados como irmãos. E somos irmãos até hoje. Onde está um, todos estão. Ninguém pode comprar briga com a família, pois comprou com um, comprou com todos. (risos) E a minha infância foi uma maravilha.
P/1 – E como era a cidade que vocês estudavam?
R – Era uma cidade pequena. Quando nasci já era cidade, mas pequena, e que não tem como crescer muito. Vocês já a viram na televisão, porque tem uma pessoa que chega a ser um parente meu, o Frank Aguiar. Ele é de lá e está sempre fazendo reportagem, mostrando a cidade. É uma cidade com muitos morros, com rio e, então, não tem como crescer muito. Mas é uma cidade gostosa. Teve uma época que fomos embora de lá. Foi onde eu conheci o meu marido, uma cidade chamada Isaías Coelho. Meu pai vendeu uma propriedade que ele tinha, não era nem essa onde nascemos, mas outra. Não, ele vendeu a que eu nasci e comprou outra melhor, pertinho, do lado. Aí, quando na hora de fechar o negócio, o rapaz o qual o meu pai tinha comprado a propriedade desmanchou o negócio. Meu pai disse que ele não era moleque para desmanchar um negócio dele. O que ele fez com a nossa propriedade? Ele ia continuar de pé, tinha vendido para o meu primo. Meu primo até pediu: “Seu Antonio, não precisa vender. Já que o outro desmanchou o negócio, o senhor pode desistir também.” Ele falou: “Não.” Aí fomos embora para uma cidade chamada Isaías Coelho. Foi lá que conheci o meu marido. Eu tinha quinze anos na época. (risos) Casei-me com dezesseis anos. O meu pai comprou essa propriedade lá e ficamos na cidade. Não fomos para o interior, porque não conhecíamos nada lá. Gostávamos do nosso interior e não do interior de outra cidade. Ficamos na cidade e meu pai, no interior. Mas o meu pai não gostou de lá e vendeu. Voltou para a minha cidade. Ficamos eu e outra irmã das casadas. Vivi pouquinho tempo nessa cidade. Um ano depois que casei, e que o meu pai tinha ido embora, fui para São Paulo. Chegando aqui, o meu marido veio na frente, porque tinha acabado de casar e ele veio receber o PIS, o qual tem direito de receber quando casa, ou quando vai comprar imóvel. Ele veio, só que não voltou. Mandou me buscar. Aí eu vim. Ele mentiu que tinha alugado uma casa para nós aqui: “Então vou. Tenho que ir onde está o meu marido.” Cheguei aqui em São Paulo, em São Caetano do Sul, e não tinha casa alguma. Ele morava com o irmão dele, a cunhada e uma sobrinha. Em dois cômodos. Em dois cômodos que não dava essa cozinha minha. O quarto pequenininho, a cozinha, então, só cabia uma pia, e nada mais do que isso. Ficamos alguns meses morando com eles, dormindo embaixo de uma mesa, eu e meu marido, embaixo da mesa, porque não tinha outro espaço. A minha irmã mais velha que já morava aqui, em Diadema, se casou e cedeu o quarto dela para morarmos. Logo em seguida, o meu marido já estava trabalhando na Brasinca, em São Caetano, e alugamos uma casa de dois cômodos grandes e fui morar com o meu marido, um irmão e um cunhado. Porque aqui é tudo assim. Vem do Norte, tem que acolher todo mundo. (risos) Assim como nos acolheram, temos de acolher os outros. E moramos uns dois anos desse jeito. Depois mudei para São Bernardo, a minha cidade predileta. Adoro São Bernardo. Se eu pudesse, morava lá. (risos) Morei por treze anos lá, em bairros muito bons, e, depois, comprei um terreno em Diadema, e tive que voltar para lá. Voltei, construí uma casa de dois cômodos, depois aumentei e fiz mais dois. Depois achei um terreno melhor, vendi a minha casinha e comprei esse terreno de esquina, que hoje é uma padaria. É uma casa e uma padaria, construídas por mim. Depois engravidei da minha filha que hoje tem dezoito anos. Eu não queria mais ficar naquele lugar. Queria uma casa já acabada. Estava no fim da construção e falei: “Não quero.” Apareceu um rapaz para comprar o ponto. Encontrei um sobrado, sete cômodos, muito bonito, todo acabadinho, e falei: “Estou grávida, não vou ficar trabalhando.” Porque o meu marido era trabalhador, só que era irresponsável, e quem tinha que fazer as coisas era eu. Vendemos, compramos o sobrado e fomos morar. A minha gravidez inteirinha, criei a menina nesse sobrado e, quando foi aos sete meses, o meu marido enlouqueceu para vender o sobrado, a minha casa, e ir para o Piauí. Já morávamos aqui há anos. Falei: “Não está certo. Vamos quebrar a cara como todo mundo que voltou para o Piauí.” Ele falou: “Não, vamos embora.” A minha filha com sete meses de vida, a mais nova. Vendi a casa, o carro e fui embora para o Piauí. Chegando lá, ele começou beber muito. Era um irresponsável, um alcoólatra. Começou só a beber e não ligava para nada. Colocaram na cabeça dele para pegar o dinheiro que tinha e montar um açougue em Teresina. Falei: “Então vamos para Teresina.” Estávamos em Picos, uma cidade maior. E vou fazer o quê? Tinha que acompanhar. Fui. Chegando lá, montamos o açougue, pela cabeça dos outros. Não entendíamos nada de boi, de vender e cortar carne e, então, colocamos nas mãos dos outros. Depois ele achou pouco montar um açougue e montou dois. Eu fiquei tomando conta de um e ele, de outro. Nisso é que vai entrar Capuava. Não deu certo, quebramos. Quebramos um ano depois. No dia doze de junho saímos daqui para o Piauí, levando aproximadamente, na época, cinquenta mil reais, quando tinha acabado de mudar a moeda para o Real. Isso era um dinheiro bom. Voltamos de lá para cá com a cara e a coragem. Um ano depois. No mesmo dia, um ano depois, chegamos de volta em São Paulo. Estava doente e com medo de ter mais filhos, pensei: “Não vou fazer igual a minha mãe, que teve dezoito. Não vou passar de dois.” Com medo de ter mais filhos, fiz a laqueadura. O médico errou, cortou o canal dos meus rins. Quase morri. Voltei um ano depois, só, com a vida. Voltei de avião, porque nem de ônibus teria condições de vir. Chegando aqui fui direto ao Hospital São Paulo. Encaminharam-me para lá, mas não tinha vaga para internar. Fiquei nos corredores do Hospital São Paulo, jogada, até que encontrasse uma vaga na UTI, que era para quem estava com problemas nos rins. Fiquei 27 dias nos corredores do Hospital São Paulo. Meu marido não queria vir comigo do Piauí. Disse que preferiria eu morta do que ele estar de volta aqui, porque lá estava bom demais, só na farra. Mas o meu pai falou: “Pode deixar que eu a levo.” Já estávamos com três açougues montados em Teresina, e tínhamos uma frota de carro. Empregamos o dinheiro todinho em carros para carregar e em máquinas de cortar o boi. Primeiro vendemos alguns carros e algumas coisas para voltar. Ele não queria vir e meu pai falou: “Deixe que eu levo ela.” Quando meu pai estava preenchendo as passagens, ele pediu: “Deixa, seu Antonio, que eu preencho.” “Não, meu filho, eu sei ler. Sei ler e sei escrever. Pode deixar que eu mesmo preencho, não sou eu que vou levá-la? Estou com os documentos na mão. Eu preencho.” Ele falou: “Não, seu Antonio, eu vou levá-lá.” A minha filha tinha um aninho e pouco já. Ela veio comigo. A minha filha mais velha ficou lá, estava estudando e não podia vir. E outra, eu não tinha mais moradia. Para onde eu iria com essas crianças? Fomos parar em São Bernardo. Chegando a São Bernardo largamos a minha filha pequena lá e fomos para o Hospital São Paulo. Primeiro fomos ao Hospital Público de Diadema, que é o antigo Samcil. Ao chegar lá, a médica pediu uns exames, urina, sangue, essas coisas, para já levar. No mesmo dia eu fui, fiquei nos corredores do Hospital São Paulo 27 dias. Em seguida, depois dos 27 dias, internaram-me no lugar para fazer a cirurgia. Eu estava com infecção, numa altura que não podia me cortar, senão eu morria. Fiquei três meses internada no Hospital São Paulo. Chegaram a me dar férias do Hospital São Paulo para ir para casa e ficar uns dias, até ver se combatia a infecção, e daí voltar para fazer a cirurgia. Fiquei quinze dias em casa. Passados os quinze dias, o hospital me mandou buscar de volta para ser internada, senão perderia a vaga. Logo em seguida, consegui fazer a cirurgia. E, graças a Deus, correu tudo bem. Saí de lá e não voltei mais. Fiquei com medo. (risos) Depois comecei a sentir umas dores que eu já sentia antes. Voltei ao hospital para ver o que tinha e estava com derrame na pleura. Desde o primeiro dia que cortaram o canal do meu rim eu fiquei com derrame na pleura e vieram a descobrir um ano e meio depois. Eu estava morrendo. Dormi um ano e meio assim, sentada, porque não conseguia. O corpo não ia nem para frente e nem para trás. Eu não conseguia fazer isso. E para dormir, era sentada. Depois alugamos uma casa. Saindo do hospital, ele alugou uma casa em Santo André, em Camilópolis, e ficamos lá. Só que com as duas meninas, pois no final do ano a minha filha já veio, porque havia terminado a escola. Mas eu não podia cuidar das duas meninas. Não podia pegar o peso de um quilo por causa da cirurgia. Tive que abandonar a minha casa em Camilópolis, que já estava de aluguel, e voltar para a casa dos meus irmãos em Diadema. Eu tinha um irmão muito legal, que morava em dois cômodos grandes. Ele falou: “Vem morar comigo.” Pegou os meus irmãos, os outros solteiros, e pôs para fora de casa e colocaram eu, minhas filhas e meu marido para morar com ele. Logo depois, alugamos uma casa grande, já de três cômodos, para morarmos juntos. Logo em seguida, ele arrumou uma mulher. Aí já não dava mais certo. Ela tinha um filho e já não dava certo ficar as duas famílias juntas. Alugamos outra casa maior e deixamos os três cômodos para ele. E assim continuamos. Nessa reviravolta, o meu marido não trabalhava, só quando achava um bico. Tive que montar um negócio para trabalhar. A única coisa que eu sabia fazer era jogar baralho apostado. Então montei um cassino dentro da minha casa para criar as minhas filhas. Convidei, fiz uma lista de amigas que sabiam jogar e as convidei para jogarem comigo e para eu poder ter uma renda. Elas jogavam e, a cada cinco rodadas, eu tirava o valor da aposta. Então, no começo do jogo, eu entrava para incentivar o pessoal a jogar. Quando a mesa ficava montada com os jogadores completinhos, eu saía do jogo para ganhar o dinheiro. Então, mesmo jogando, se eu ganhasse, era melhor, porque ganhava mais. Só que,se você fosse uma apostadora e ia entrar, eu não podia ficar na sua vaga. E se eu perdesse ou não, tinha que cair fora, porque a vaga era sua. Tinha que bancar o jogo. E, assim, vivi um ano e pouco mantendo o aluguel da minha casa. Com isso eu sustentava as minhas filhas e a mim com esse salário, com o dinheiro do cassino que montei. Só que muita gente montou cassino. Muitas colegas montaram nas suas casas. Assim, revezávamos. Um dia na sua casa, outro dia na minha e, até hoje, é assim. “Tal dia na sua casa, tal dia na minha e tal dia na casa de Fulano”, pra todo mundo ganhar um pouco. Aí já não deu mais, porque quando era todos os dias, dava para o aluguel. Nisso, o meu irmão mais velho tinha falecido e a minha cunhada tinha acabado de receber uma indenização. O meu ex-marido tinha feito um bico e ganhado um dinheiro, e eu guardei o dinheiro dele. Ele me dava o dinheiro e depois pegava de volta. Mas esse ele não conseguiu tomar. Aí surgiu um barraco em Capuava para vender. Eu vinha jogar. Tenho três irmãos que moram aqui. Tem um irmão que gosta muito de jogar. Quando estava vindo visitar o meu irmão, que tinha um cassino em Capuava, ele falou: “Vera, você não quer vir morar aqui?” Eu falei: “Morar aqui? Como?” “Compra esse barraco onde é o cassino e você vem morar aqui.” Aí perguntei ao dono do barraco quanto era e ele falou, na época, mil e oitocentos reais. Eu falei: “Não posso comprar, não tenho esse dinheiro”. Meu irmão falou assim: “Dá seus pulos, você sabe como fazer. Dá seus pulos que você compra para sair do aluguel.” Ofereci mil e quinhentos para o rapaz, mesmo não tendo. Tinha só mil reais, era o dinheiro que eu tinha. “Dou-lhe mil e quinhentos, você quer?” Ele falou: “Ah, não. Não quero. É um mil e oitocentos e acabou.” Eu falei: “Está bom, estou indo para a minha casa. O seu barraco está para vender e quem tem o dinheiro sou eu. Você é quem sabe.” Fui embora. Chegando em casa, no outro dia, o cara ligou: “Faço a você por mil e seiscentos.” Eu falei: “Dou mil e quinhentos. É isso e acabou a história. Se você quiser.” Como falei a você, o meu irmão tinha acabado de falecer. Era o mais velho dos homens. Minha cunhada tinha recebido uma bolada. Fui lá e pedi a ela o resto do dinheiro emprestado. Pedi seiscentos reais, caso o cara não deixasse. Por causa de cem reais não iria perder o barraco. Aí fui para Capuava. Comprei por mil e seiscentos reais o barraco. O meu marido não queria vir por nada deste mundo, dizia que “não era rato para morar dentro do esgoto, nem para morar em favela. Quem morava em favela era rato.” Eu falei: “Então você não é rato, você é o que você é. Então fique no Morumbi, porque estou indo com as minhas filhas para a favela, porque preciso mantê-las. Se você não tem responsabilidade com elas, eu tenho.” Eu vim, só que ele veio. Lógico que ele veio. Chegando aqui, ele não conhecia ninguém em Capuava e não tinha serviço. Quando o meu irmão arrumava uma coisinha, ele fazia. Quando não arrumava, era só cachaça. Bebendo, bebendo e bebendo. E o meu irmão me sustentando. O meu irmão praticamente me sustentou, dando uma coisa ou outra. Foi quando eu falei para o meu irmão: “Zé, vamos fazer uma coisa. Você tem o seu cassino...” A casa dele era grande, uma casa mesmo. O meu era um barraco de madeira. Falei: “Zezé, já que você tem seus parceiros do jogo, e você monta duas, três mesas na sua casa, colabora comigo, vamos fazer o negócio direito. Arruma os parceiros para eu montar um cassino no meu barraco, afinal de contas, preciso me sustentar. Você está me dando as coisas e isso não adianta, tenho que ter o meu dinheirinho.” E assim o meu irmão fez. Arrumou os parceiros e montou uma mesa na minha casa e uma mesa na casa dele. Assim, a mesa era minha. Só que eu tratava muito bem o pessoal e eles começavam a jogar às oito da manhã. Eu servia o café, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, o lanche da madrugada e o café do outro dia. E assim ia. Você saía da mesa, mas já tinha dois, três para entrar. Comecei a montar outra mesa e fui aumentando o jogo, e o pessoal vindo. No frio eu servia até feijoada para a quantidade de pessoas que tivesse. Sopa, tudo o que você possa imaginar de comida, de lanche, de tudo, eu servia para os meus fregueses. O meu marido começou a passar mal, a achar ruim que a casa ficasse lotada. Tanto é que tinha final de semana que, para eu conseguir descansar, tinha de sair da Capuava e ir para Diadema. Eu abandonava a casa, porque não aguentava mais. E rolava três, quatro dias direto sem parar e, assim, eu me mantinha. Depois o meu marido achou que não dava mais. Não estava dando certo aquilo lá, e que ele não era homem para sustentar a família. Ele foi embora de casa. Achei chato, pois ficar com aquele tanto de homem em casa se ele não estava lá... O que o povo ia falar? Iam falar mal, que eu não prestava. Enquanto ele estava em casa, eu não ligava. Então parei um pouco com o jogo. Passei apuros, eu e minhas filhas. Foi aí que a Neide, não sei se você conhece, a Iraneide da Saúde. Ela foi a pessoa mais bacana que conheci dentro de Capuava. Ela era lá de baixo, da favela. Ela ia à casa de todo mundo, de casa em casa, ver se tinha alguém doente. Ela estava sempre lá, observando, sempre perguntando como é que estavam. Ela ficou sabendo que o meu marido tinha ido embora. Ela falou: “E como é que você está, Verinha?” Ela me chama de Verinha até hoje. Falei: “Ah, Neide, do jeito que Deus quer.” “Não. Deus não quer isso, não. Vamos à luta que Deus não quer isso. Deus quer que você esteja bem.” Ela falou assim: “Vera, você não tem auxílio nenhum?” Eu falei: “Não.” “Então por que você não procura? Todo mundo recebe Bolsa Família, Bolsa Andreense e não sei o quê.” Eu falei: “É mesmo?” “Sim. Vá procurar. Vai ao Posto de Saúde e procure a Assistente Social, a Fulana de Tal.” Disse lá o nome da mulher, que até esqueci. Ela está lá até hoje. E fui. Chegando lá, eu disse: “A Iraneide me mandou vir aqui, porque estou com a as minhas filhas, mas não tenho trabalho.” Ela pegou e me encaminhou para a assistente social em Santo André. Chegando lá, na época era a cesta básica, vale gás, vale transporte que dava para quando precisasse ir ao médico ou alguma coisa assim. Aí passei a receber essa cesta básica. Depois passou a ser a Família Andreense. Aí já não era mais cesta. Porque antes era comida mesmo, depois passou a ser dinheiro. Fui recebendo. Depois passou para o Bolsa Família e foi ajudando. O meu ex-marido voltou para casa. Só que quando ele voltou, eu não queria mais, porque brigávamos muito e as meninas não gostavam, porque ele ficava bebendo e fazendo vergonha a elas. A minha filha mais velha, quando veio para Capuava, tinha quatorze anos já e ficava com vergonha do pai ficar fazendo essas coisas. Mas ele ficou e disse que não ia mais beber. Ficou um tempo e não bebia mais nada. Depois voltou a beber de novo. Falei: “Rua!” Em seguida, falei: “Ou você para de beber, ou na minha casa você não fica mais, de jeito nenhum. Porque você não é rato. Você não falou que não é rato para viver dentro de favela? Então, por favor, vá para onde você acha que deve ficar.” E ficava sempre me humilhando. E pedindo para sair de Capuava, porque não era lugar para nós. “Deixe-me aqui, não vou sair de Capuava. Não vou mesmo. Aqui estou e aqui vou ficar, até o fim. E vou conseguir mostrar a você que vou conseguir uma casa, uma residência para mim e para as minhas filhas.” “Rá, rá”, ele ria da minha cara. “Ah, tá.” Uns seis meses depois que eu estava em Capuava, comecei a passar mal, sentir tontura, sentir coisas, porque não estava acostumada a sentir cheiro de coisas que eu não tinha costume. Era muita fumaça e isso sufocava. Eu não sabia o que era. Depois descobri que era maconha, que era droga que eles estavam usando do lado do meu barraco e eu não sabia. Daí, por eu ficar muito nervosa, às vezes com muito tiro... Atiravam muito no começo. Via muita morte. Levantava pela manhã e via cadáver na sua porta. Fiquei com problema de pressão alta. Até hoje é controlada. Quando começou a primeira construção, que a firma chegou para fazer as primeiras casinhas, na Quadra A, comecei a ir atrás da prefeitura, porque eu queria a minha casinha. Era a Roseli que tomava conta disso daí. Ela falava que a casinha não era para nós. Que a minha ia ser no tempo certo. E eu: “Mas Roseli, eu não estou bem de saúde, não estou legal, preciso sair daqui, senão vou terminar morrendo aqui embaixo. É muito barulho, os vizinhos derrubavam meus móveis de um lado para o outro.” Era a mesma madeira. Batia. Muitas vezes, meu telefone sem fio era encaixado na coisa, eles batiam do outro lado. Caía e quebrava. Então comecei a trabalhar com a Roseli. Pedia a ela, conversava, e ela falando que não. Depois pus o meu marido pra conversar com ela. Chegou uma época, tempos depois, quando os primeiros predinhos já estavam feitos, ela me deu um apartamento naquele prédio de baixo, na Avenida do Estado. Só que ela não sabia que eu e meu marido éramos a mesma pessoa, que era para o mesmo casal. Ela falava que não me daria e, depois, com o tempo, ele lutou e conseguiu o apartamento. Quando foi para receber a chave e ela descobriu que era eu, ela não me deu mais o apartamento. Falou: “Ah, então é você? Então não tem mais apartamento. Já está tudo ocupado.” Eu falei: “Ah, é?” Porque lógico que eu ia receber, foi ele que foi atrás. Mas eu tinha que receber o apartamento. Eu falei: “Então quer dizer que eu não tenho mais direito?” “Não. O direito você tem. Quando chegar a sua vez, em que todo mundo receber as casinhas, você recebe a sua.” Eu falei: “Pois vou lhe mostrar, Roseli, se vou conseguir ou não.” Fui olhar a pressão na médica, que era muito legal, no postinho. Fui e contei a história para ela. Ela falou: “Ah, quer dizer que é assim?” Estava no tempo da política. “Então você quer ferrar com a candidatura?” Quem era na época, meu Deus? Era o Felipe. Não. Tinha acabado de sair o que morreu, o Celso Daniel. Ah, vocês não sabem, né? Sei que o prefeito na época era Celso Daniel, que era da turma do PT. Ela falou: “Se ela não conseguir, você acaba com a candidatura do cara. Põe o anúncio e a boca no trombone e ferra com ele.” Eu disse: “Pera aí, Roseli, que eu vou te mostrar.” Eu falei: “Então me ajude, doutora. Dê-me um laudo contando o que eu tenho.” Ela pegou e me deu o laudo, e foi explicando que quando eu cheguei, tempos atrás, passei no médico e não tinha problema nenhum. Foi a moradia de Capuava, pelo barulho, pelas coisas que aconteciam em Capuava, que fiquei daquele jeito. Tirei uma cópia do documento, fiquei com a original e, lógico, entreguei na prefeitura. Falei: “Está aqui, Roseli, vou te dar essa cópia e vou lhe dar um prazo de tantos dias para você entregar a minha casinha.” E o galpão estava aqui, nessa área onde estavam essas casas, e só tinha esses pedaços construídos. A única rua que estava construída. Nem a de lá estava construída, era só essa daqui e o lado de lá, mas só a parte de cá que estava construído e que estavam entregando. Na hora que falei: “Se você não entregar a casinha, ponho um anúncio no jornal e vou fazer um ‘rebu’, mas acabo com a candidatura do prefeito. Acabo com o PT dessa vez.” Ela falou: “Você não é gente.” “Não sou gente. Sou igual a você. Você também não é gente, se fosse, teria dado a minha casinha há tempos.” Ela mandou vir um dia à tarde para pegar a chave e escolher a casinha. Ela falou: “Você não tem jeito, não, Veronice. Só Deus.” “Então, só Deus. Estou pedindo alguma coisa demais? Estou pedindo o que não é meu? Não é a minha a casinha?” Se eu não tivesse lutado... Estou há quase oito anos aqui. O pessoal, os meus vizinhos, moram todos de aluguel. Essa já é a segunda casa que faço em Capuava, no conjunto. Construí a minha, não foi essa que recebi. A minha é a penúltima casa do lado direito daqui para lá. Foi ganho por mim, meu ex-marido e minhas filhas. Aí, com o passar do tempo, não estávamos vivendo bem. Nunca tinha vivido bem mesmo. Nos separamos, tivemos que vender a casa. Com a venda de lá, eu construí essa daqui. Eu já estava com esse rapaz há seis anos. Estávamos morando aqui, numa casa menor, dele mesmo. Aí as minhas filhas tinham que vender a casa lá, para entregá-la e elas virem pra cá. O que eu fiz? Construí a casa para as minhas filhas e falei: “Já que estamos morando juntos há tanto tempo, tenho que construir e pôr as minhas filhas. Construo a casa lá.” Essa casa tem três meses que ficou pronta. (risos) Foi feita às pressas. As meninas falam que foi feita igual a casa do Gugu, daqueles programas de televisão que fazem em quinze dias. (risos) Foi feita em um mês e pouco. Levantada e acabada. Não está bem terminada, mas o que eu pude fazer, eu fiz, para por as minhas filhas aí dentro. Então é assim, de Capuava eu já estou no segundo marido. (risos) Não paro e não vou parar. Esse trabalha na Braskem. E estamos aí. Quando cheguei em Capuava, aqui era feio demais. Era uma lama só, meu Deus. Aquele povo tão sujo, tão humilde. Tudo sujo. Nossa Senhora! E eu vindo de São Bernardo há tanto tempo, dos bairros melhorzinhos. Não foi fácil. Depois acostumei, mas era para o pessoal de Capuava viver melhor. E as pessoas, por viverem em favelas, se entregam e acham que têm que viver daquele jeito. Não! Não é porque você mora num barraco que você tem que ser sujo e tem que estar sujo. É barraco? É sim, mas tudo está limpinho. Meu barraco mesmo, o pessoal falava: “Nossa, seu barraco é bonitinho.” Era barraco de madeira? Era, mas todo forrado, com cortina, tudo bonitinho, pra evitar o pó, essas coisas. E outra, o chão sempre limpinho. Não gosto de sujeira. (risos).Pobre sim, mas suja, não. Suja, não dá. Mas Capuava foi muito... Fiquei traumatizada com as mortes. Eles matavam, porque achavam bonito. Em pleno dia, não tinha hora. Tem até um irmão de uma amiga minha, que foi a primeira que conheci antes de vir para Capuava, que é a Babalu. Ela é famosa aqui, todo mundo conhece! Se você perguntar quem é Babalu aqui embaixo, ou lá em cima, em qualquer parte disso daqui, todo mundo sabe quem é. Então eu a conheci, era uma parceira de jogo. O meu marido falava assim: “Vocês não são amigas, a Babalu não gosta de você. Vocês são parceiras de jogo. Ela só gosta de você por causa do jogo.” Babalu teve altos e baixos na vida dela, conheci ela casada, depois conheci ela separada. Conheci ela com o segundo marido, com o terceiro, (risos) mas a gente nunca se separou, nunca. Até hoje. Ela era uma pessoa muito bacana. Fizeram uma covardia com o irmão dela e tiraram a vida dele à pauladas. Esse menino foi enterrado com a roupa do meu ex-marido, que peguei e fui levar para ele. Porque, de madrugada, mataram o menino, com todo mundo vendo. Ela tem até uma cisma com o meu irmão, pois ela acha que o meu irmão viu e não fez nada pelo irmão dela. Tudo bem, o menino era errado? Era errado, sim, ele fazia coisas de errado, só que era um ser humano, ninguém tinha o direito de fazer isso. Então, por causa de besteira, tiraram a vida dele. E a minha amiga, até hoje, por causa dessa perda, ela nunca mais voltou a ser a mesma depois dessa morte. Outras pessoas, como uma senhora que morreu por ver coisas erradas. Inocentemente ela viu o cara fazendo coisa errada, ela fingiu que estava dormindo na barraca de fruta. Foram e tiraram a vida dela. Aqui, descendo a Ayrton Senna, para a Avenida dos Estados. Tem a barraca de fruta até hoje. A senhora estava lá e viu o cara, acho que matando uma pessoa, e ele, depois, viu que tinha sido visto pela senhora. Veio, em seguida, e tirou a vida daquela senhora. Isso vai acabando com a nossa saúde. Mas não tenho do que reclamar de Santo André. Ela me recebeu de braços abertos e é uma ótima cidade. A cidade que eu mais gostei de morar foi São Bernardo. Morei em São Caetano e não gostei muito. Prefiro São Bernardo. Só que Santo André é a melhor cidade, pois quando precisei, estava de braços abertos e me recebeu. Sou o que sou hoje e tenho o que tenho, que não é muito, mas é graças a Santo André. E sou petista. (risos) Quero deixar bem claro que mesmo brigando com a Roseli, jamais eu daria um voto a não ser para o PT. Sei que agora está outro prefeito, mas sou petista e isso não é de hoje, não é de Santo André. Sou petista como os corintianos são corintianos, desde que fundou o PT. Se eu der o voto para outro partido que não o PT, estou traindo a mim mesma. Sou do Lula, desde que ele era metalúrgico, que eu era metalúrgica nas fábricas. Já trabalhei como metalúrgica por muitos anos. Já fiz muita greve junto com o Lula, com o Vicentinho e com todo mundo. E foi daí que passei a gostar do partido e de ser petista. Desde que foi fundado. Meu primeiro voto foi para o PT. E até hoje, tenho cinquenta anos de idade e nunca votei em outro partido. Nem para vereador. Ontem mesmo veio um vereador aqui pedir para eu votar nele. Eu fiquei assim... Mas não consigo. Acho que se o prefeito é de um partido e os vereadores forem do partido, tem mais força... E para presidente também. Todos eles, só votei no PT. (risos) Teve uma primeira candidatura que o Lula perdeu. Ele perdeu e eu perdi junto com ele. Depois ele ficou e, agora, está a Dilma. Apesar que a Dilma faz um bom serviço, mas se ela fosse de um outro partido, eu não teria votado pra ela. Votei pelo partido.
P/1 – Fiquei com uma curiosidade. Quando você chegou, falou que chegou a dormir até embaixo da mesa da cozinha. Como que foi esse sentimento de morar num lugar com tanto espaço, com uma casa tão grande e vir para uma cidade assim? Conta um pouco dessa sua experiência para nós.
R – Quando cheguei, eu vi que a moradia aqui em São Paulo era num cortiço, em São Caetano. E o que tinha no cortiço? Aproximadamente seis, sete, oito casas no mesmo quintal e dois banheiros para todas as casas. Eu falei assim: “Foi para isso que você me trouxe? Para morar aqui? Isso que você fala que é morar, Francisco? Isso não é moradia.” Ele falou assim: “Ah, minha filha, dê graças a Deus, porque aqui se mora em lugar pior.” Eu falei: “Vou voltar para a minha casa.” Eu passei muito mal desde o começo. E sabe com que idade vim para cá? Com dezessete anos de idade. Casei-me com dezesseis e vim para cá com dezessete anos. E estou até hoje. Era muito ruim, porque lá, aqueles dois cômodos que estavam ocupando as duas famílias, lá no Norte, não era nem um cômodo da casa do meu pai em que nós morávamos. Depois que nos casamos, fomos morar com a sogra por uns tempos e, depois, numa casa de aluguel. Mas era uma casa grande. Deixa-me ver... A casa em que morávamos nós dois sozinhos tinha oito cômodos. Porque lá no Norte não tem casa pequena. Agora, depois desse negócio do governo construir é que estão fazendo casa pequena, de três, quatro cômodos. Lá a casa é de cinco, seis para frente, e ainda mais nas cidades do interior mesmo. Foi triste para eu me acostumar com isso daqui. Quando saí da casa da minha cunhada e fui morar na casa que a minha irmã saiu, era um cômodo só, dividido para duas famílias também. Era um colchão para dormir eu, meu marido que não trabalhava à noite. Deixa-me ver quem trabalhava à noite na época. Quem morava nesse cômodo, nesse colchão, porque nem o espaço para o fogão existia. A minha tia cozinhava do outro lado. Era dividido com guarda-roupa. A minha tia do outro lado com a filha dela, eu desse lado, no lugar onde se montava o colchão, o meu irmão, meu marido e meu cunhado. Só que tinha dois que trabalhavam à noite e, então, só quem dormia à noite comigo ou era o meu irmão, ou era o meu marido. Um dos dois, e os outros dois estavam trabalhando. Quando chegava pela manhã, eles chegavam às cinco, seis horas e eu tinha que pular da cama para dar vaga para os dois dormirem. Era assim. Foi triste a minha vida aqui. Um sufoco. Por isso que falo, hoje estou rica. Só que já estive mais rica lá atrás. Já tive mais coisas, só que jogamos fora. Agora, em vista do que eu cheguei aqui, sou milionária, graças a Deus.
P/1 – Vera, e a parte de lazer? Tinha alguma festa no Piauí que você sentia falta? Alguma coisa da cidade?
R – Minha filha! A cidade do Piauí vive de festa. Desde que nasci, e até hoje, é festa. Eu sentia falta demais. E aqui eu não saía para lugar nenhum. No começo eu ficava dentro de casa. Eu não trabalhava, porque era menor. Casada, mas menor. Depois ia trabalhar morrendo de medo que me matassem. Meu cunhado assistia o Gil Gomes, Afanásio Jazadji, só era crime e barbaridade. Eu saía de casa tremendo para ir trabalhar. Antes de trabalhar eles assistiam de manhã e eu ficava com a filha dele mais velha, que deve ter uns trinta e poucos anos hoje. Quando cheguei aqui, ela tinha sete anos de idade. Eu tinha que levá-la ao prédio de manhã, na escolinha, que era dentro do Jardim São Caetano. Eu ia abrir a porta e sair fora com medo de morrer, porque eu ficava acordada de madrugada e ele assistindo aquele negócio, ouvindo aquelas barbaridades. Aí saíam ele e a mulher para trabalhar. Ele trabalhava na Icatel e ela, na (Sulfarti?). Eu disse: “O quê?” Eu fazia bilhete para a mãe dela, que era a professora que mandava, que ia ter festinha, tudo, para comprar os doces para a menina. Aí, quando ela saía, ela comprava os doces para, de manhã, eu levar na escola. Fazia piquenique dentro de casa. Um dia, ela foi a uma festa na firma, chegou, bateu na porta com tudo e nós nos assustamos. Para eu abrir essa porta foi uma luta. Eu achava que era para nos matar. Era bandido, ladrão e tudo. Então a minha vida no Piauí, e o meu marido tinha 25 anos e eu, dezessete, na época que eu estava aqui. Então ele foi ficando cada vez mais velho, e eu, um pouquinho mais de idade, tentando acompanhar. Além de eu ser menor, ele era sem-vergonha. Ele vinha do serviço, principalmente no final de semana, sexta-feira, e ia para a gandaia e eu ficava sozinha em casa. Depois que saí de São Caetano, ficava sozinha em casa. Morria de medo. Tinha medo até de defunto. E não dormia. Ia para a casa dos vizinhos, porque tinha medo até de defunto, (risos) de tão criança que eu era. Eu achava que o defunto, o defunto lá do Piauí ia vir me visitar. (risos) Então, só que o Piauí é muito bom, viu?
P/1 – Conte-nos sobre essas festas da cidade lá no Piauí.
R – A festa da cidade, que é aniversário da cidade, é muito boa. A festa da padroeira da cidade. Olha: maio, junho e julho vá para o Piauí (risos) que é festa. São muitos dias de festa e é muito gostoso. É cantor que vem de fora. Vem muita gente de fora e é muito divertido. Quando me entendi como gente, eu já estava nas festas. E aprendi a dançar com o meu pai. (risos)
P/1 – Era isso o que eu ia perguntar. E o forró?
R – Era forró. Era muito boa a festa no interior, mesmo tocador de sanfona. Esses dias, o rapaz que comprou a minha casa nessa rua perguntou se eu conhecia o sanfoneiro Godim. Eu falei: “Menino, se ele é meu parente, como é que eu não conhecia?” “Você é parente dele? Eu também sou.” Só que eu sou parente do Godim de uma parte e ele, parente do outro lado. Falei: “Pois dancei muito forró à luz de lamparina e candeeiro.” Era muito bom. E meu pai foi sempre liberal. Apesar de ser do Nordeste, do interior, meu pai não era aquele pai carrasco que batia em filho, Deus me livre. Não. Meu pai, não. Ele era de conversar: “Você errou? Vamos conversar.” Era assim. Então, se ia ter uma festa, nós pedíamos para a minha mãe. “Mãe, deixe-nos ir para a festa.” E ela: “Ah, está bem, está longe ainda, quando chegar perto do dia da festa eu deixo.” Quando chegava no dia da festa, quando ia se aproximando da festa, pedíamos: “Mãe, nós vamos para a festa?” “Vão sim. Até que vocês façam alguma coisa que me ‘enraive’, está todo mundo indo para a festa.” E sem querer, tinha um vacilo. Um vacilinho de nada. A minha mãe era terrível. E a minha irmã era triste. E, assim, do nada, se respondia uma coisinha de nada, ou então dava uma rebanada assim, para a minha mãe, já era o suficiente. Chegava na hora da festa, quando íamos nos arrumar: “Onde vocês pensam que vão?” “Para a festa.” “Vocês não vão para a festa.” Ou então: “Você não vai para a festa.” Escolhia aquela que fez aquilo. “Mas mãe, você não falou que...” “Ah, você esqueceu o que você fez? Você fez isso, não se lembra?” Aí nós íamos para o meu pai: “Ô pai, pede para a mãe nos deixar ir para a festa.. Ele falava assim: “Por que ela falou que você não vai? O que você fez?” E ele falava assim: “Não, minha filha”, bem assim, “Não, minha filha, você não vai para essa festa de hoje, mas é só para essa de hoje. Amanhã, se tiver outra, você vai.” (risos) “Pai, mas a festa é hoje.” “Não, mas não tem só essa festa. O que mais tem é festa e é só essa de hoje que você não vai. Pergunte a ela: se amanhã tiver uma festa, se você vai.” E assim, às vezes, ficávamos chorando de raiva: “Ah, pai, também você não manda? É só a minha mãe.” “Você vai para a festa dançar? Seja por isso, não.” Catava a gente e saía dançando, dançando. “Você não quer dançar? Vem dançar comigo.” (risos) A minha mãe era muito de brigar com o meu pai, mas era uma briga assim... Só gostava de falar as coisas. E ele, nem aí para ela. Ele nunca brigou com ela, de jeito nenhum. Foram cinquenta e poucos anos que eles viveram e nunca vi uma briga do meu pai. Era o meu pai brigando com a minha mãe e meu pai nos catando... E uma dançava. E minha mãe me chamando. “Pai, me solta que a minha mãe está me chamando para de fazer assim.” Aí largava uma aqui e catava outra ali e saía dançando no meio da casa. E minha mãe brigando, falando sozinha, brigando. Mas ele nunca brigou. Então festa tinha demais, era bom demais. Foi muito, muito bom.
P/1 – E tinha festa junina, Vera?
R – Era campeã das festas juninas! Tinha todo tipo de festa que tem no Nordeste. Na minha cidade tinha de tudo. E, para dançar, as festas juninas era nós e Cacilda. Eu tenho um irmão que era fera, o professor (risos) para ensinar lá nas festas. Porque lá tem quadrilha. Aqui a festa junina é só pipoca, doce, isso e aquilo. Por lá é dança de roda. Braço com braço, braço com braço, trocando os casais, muito gostoso, muito bom.
P/1 – E Vera, como vocês se arrumavam para ir para as festas?
R – Ah, depende das festas. Vestíamos muito curto, né? (risos) Tanto é que quem comprava os tecidos para a nossa roupa era o meu pai. Então era um modelo para aquela festa. Se era longo, era longo; se era época da saia, época do vestido, época de tudo. E meu pai nunca gostou que vestíssemos calça jeans, calça comprida. Nunca gostou. Nem calça e nem short. Era somente saia e vestido. Então nós vestíamos muito curto. Você vê que até hoje eu gosto de curto. (risos) Muito curto. Aí, quando se vestia, cada uma colocava sua mini saia, seu vestidinho aqui e o meu pai dizia assim: “Ah, minha filha, volte aqui!” E íamos todas arrumadas. Ele sempre comprou maquiagem para nós. O batom e o perfume nunca faltaram. Toda essa parte era o meu pai que comprava. Fazíamos a lista e ele comprava. Só que ele não era de dar o dinheiro, mas era ele que comprava. E dizia: “Volta aqui, vocês.” Voltávamos. “Da próxima vez que for para comprar o tecido, vocês marcam o tamanho certo do tecido, porque eu comprei tecido pouco. Olha só o tamanho da roupa. O tecido foi pouco! Vocês disseram aquela quantidade e eu comprei. Não deu o tecido? Então se é um metro e meio, da próxima vez você fala que são dois metros.” (risos) Não era nem meio metro que usava de roupa. (risos) E era assim: sainha e os ‘topzinhos’. Tanto é que nós reclamamos hoje que nosso seio é caído, mas é de tanto usar tomara que caia. (risos) Era só o sutiãzinho. Colocava um pedacinho de pano aqui e outro aqui. Era isso aí a sainha. Mas o Nordeste é assim. O meu pai não gostava que se vestisse calça comprida e shorts. Aí nos casamos. Primeiro, a mais velha veio para cá e se casou aqui. Eu fiquei casada lá, mas não usava lá por causa do meu pai. Mesmo casada, o marido deixava, mas “não posso fazer desaforo para o meu pai de jeito nenhum”. Todos pensavam assim. Chegando aqui em São Paulo, só era calça. Quem fica de vestido e de saia no frio? Passei a vestir shorts. Meu pai veio nos visitar e passear. Eu, de shorts. Ele falou: “Ah, então quer dizer que agora todo mundo usa shorts. A Rose, você. Então está bem, eu vou voltar para o Piauí e liberar as de lá”, (risos) que estavam solteiras. Chegou lá e liberou. “Ó meninas, a partir de agora, se as casadas, as mais velhas”, eu não sou das mais velhas, sou das mais novas, mas casei primeiro. Fui a segunda a casar na minha casa. A mais velha foi a penúltima a casar. Então: “Já que as mais velhas, casadas, estão usando, vocês podem usar também.” E liberou para as mais novas. E assim. Pode perguntar outra coisa.
P/1 – Vera, agora eu queria te perguntar já aqui em São Paulo. Você falou que foi metalúrgica. Quando que foi essa época? Conte-nos sobre essa fase.
R – Foi de 1980, 1981 até o quê... Trabalhei pouco de metalúrgica. Foi de 1981 até 1985, mais ou menos. Daí fui para outras firmas, mesmo assim tinha sindicato, tinha tudo. Agora mesmo, trabalhei nos Correios. Só que a minha vida de trabalhar não foi de ficar muito tempo numa firma, não. Trabalhei na Petybon, na Embrac, numa outra que até já esqueci o nome, lá em Diadema também. Trabalhei na Black & Decker, que é uma metalúrgica. Trabalhei em várias firmas, só que não foi por muito tempo, porque eu era encrenqueira. Então, na época das greves, eu era grevista, fazia greve mesmo. Então, por ter pouco tempo nas firmas, era a primeira a ser mandada embora. Mas eu saía e entrava em outra, porque eu era nova. Entrava e continuava do mesmo jeito. É para lutar pelo pessoal? Agora mesmo eu saí do Correio, no ano passado, porque estavam fazendo sacanagem com o pessoal dos Correios. Chamei o sindicato, parou os Correios, e conseguimos o que queríamos e, no final, a minha cabeça rodou. Mas foi por isso que eu falei a elas: “Prefiro que eu saia, mas que eu lute por eles.” Porque tem muita gente que não sabe o seu direito. Eu não tenho estudo, mas eu sei quais são os meus direitos. Não vem, porque estou trabalhando aqui, achar que vai fazer isso e isso comigo. Estou vendo uma coisa errada e que eu não estou vendo que está errada. E reclamo sim. Digo: “Isso aqui não está certo, vamos corrigir.” Tipo o pagamento dos Correios. Você trabalha o mês inteiro, chega no dia cinco, dia sete sem receber, vai receber já quase no outro pagamento. Tudo atrasado. E falei: “Não, isso não está certo.” Foi por isso que saí de lá, porque não concordo com isso. E tanto é, por eu paralisar, não fui sozinha, teve umas meninas também; os outros paralisaram por uma ou duas vezes e a firma que estava trabalhando lá, que era terceirizada, perdeu o cargo. Por quê? Porque não prestava. Fico contente quando eu saio, mas que eu deixo o resto bem, principalmente aquele que não sabe o seu direito.
P/1 – E Vera, você chegou a trabalhar no Polo?
R – Não.
P/1 – Agora eu fiquei curiosa dessa sua história de quando você mudou para Capuava. Quem foram as primeiras pessoas a lhe receber? Você já tinha um irmão aqui, conta um pouquinho dessa mudança.
R – Então, quando eu cheguei em Capuava, tinha três irmãos que já moravam aqui. O meu irmão, o Zezé, foi dos primeiros que vieram. Veio ele com a família, tanto é que tem uma filha dele que é nascida em Capuava e deve ter uns vinte anos essa menina hoje. E teve a Margarida, uma pessoa que, antes do primeiro irmão vir pra cá, nós já conhecíamos. Ela é uma pessoa que conhece tudo da Capuava. E é minha amiga até hoje. Sempre vínhamos nas festas na casa dela. Saíamos lá de Diadema, de São Bernardo, para vir à favela, para a casa da Margarida. Sempre uma festa muito boa, por sinal, com churrascada, dançávamos a noite inteira e, às vezes, vínhamos para jogar baralho com o marido dela. É sempre assim. Era um pessoal muito legal, que mora aqui até hoje e que não pretende sair daqui. (risos) Eu conheci, só que não sou muito de amizade. Amizade que eu tive em Capuava, foi só com a Margarida, com a Babalu, que eu já conhecia também, na casa do meu irmão. Tem um pessoal do Piauí que também conheci depois e que fiz amizade com eles, como a Marinalva, que mora aqui do lado também e já veio pra cá. E, por nome, não conheço muita gente em Capuava. Conheço o Naldo, da Mikitu, lá de baixo, que era o comerciante da favela, que está com o comerciozinho dele até hoje. E a mulher dele, a Fátima. Então são poucas pessoas que eu conheço por nome.
P/1 – E Vera, essa história do seu cassino que foi um sucesso, as pessoas apostavam alto?
R – Sim, apostavam alto. Teve um final de semana... Não tinha um final de semana que eu não ganhasse pelo menos quinhentos reais. Teve um final de semana que eu ganhei mil e quinhentos reais em dinheiro, que foi quando viraram a noite e eu não consegui mais ficar de pé. Tive que sair e pedi a eles para fechar, porque eu não estava aguentando. Fui a Diadema dormir na casa da minha irmã e, quando cheguei lá, o meu marido ligou, que estavam jogando e que pediram para ele jogar novamente. E ele deixou jogar, só que ele não tirava a boa, porque não sabia, não entendia do jogo. E foi aí que a Babalu, que estava jogando, falou assim: “Francisco, deixa que eu tiro a boa pra você.” A Babalu conseguiu, depois que eu saí, ganhar mais de mil reais de aposta, de tão alto que eles apostavam. E era assim, jogávamos com ficha, vamos supor, você comprava cem reais de ficha comigo. Cada um pegava sua ficha: cem, duzentos reais...
P/1 – As pessoas já pagavam?
R – O dinheiro da casa, da aposta, estava comigo.
P/1 – Nunca ninguém ficou endividado?
R – Não. Ficavam quando eles vinham até mim dizendo que tinham perdido tudo, pedindo emprestado. Aí, se fosse jogador da minha casa, amigo meu, eu emprestava o dinheiro. Ganhava vídeo cassete, televisão, nas apostas que eles não tinham mais o dinheiro, eles pegavam e pediam para eu colocar aquilo lá, naquele valor, e eu pagava para eles aquele valor e ficava com o móvel. Eu tenho uma televisão lá dentro até hoje que foi ganha nessas coisas. Ainda tenho essas relíquias mais antigas, que foi desse jogo. Mas era legal, eram bons apostadores. E não tinha briga. E sem falar que, na época, os caras vinham armados. Tinha muita gente armada e quando chegava em casa eu os desarmava. “Todo mundo põe a arma pra cá.” Eu pedia as armas. Onde eu guardava as armas? Dentro da minha máquina de lavar. Então, conforme eles iam saindo, cada um ia embora, eu devolvia. Porque se desse alguma discussão na mesa, não saía tiro. O medo de alguém ligar o botão da minha máquina de lavar e começar a estourar. (risos) E a polícia estava sempre rondando na favela. Quando acontecia algo de errado, a polícia vinha. Certa manhã, abri uma janela, bem ao lado da máquina, da lavanderia, que era junto com a cozinha e o banheiro. Quando abri, tinha uma arma descoberta. Quando eu vou olhando, vem a polícia passando. Eu falei: “Meu Deus, jogo um pano em cima da arma?” Peguei a arma coberta no pano e coloquei dentro da máquina. O rapaz estava numa mesa jogando ainda. Eu falei: “Osmar do céu, você nem viu, mas eu esqueci de guardar a sua arma dentro da coisa.” Ele falou: “Se eu perdesse aquela arma, tu me pagava.” (risos) Era assim. E não era só uma, não. E, mesmo lá em Diadema, quando eu bancava o jogo, o pessoal ia armado. Era arma que nem prestava. E o dia que eu resolvia brincar com eles? “Todo mundo parado, todo mundo com a mão na cabeça!” Tinha o Cláudio, que vinha e escondia a arma bem lá dentro. Era muito amigo meu. E eu: “Cláudio, por favor, cadê a arma?” “Eu não trouxe, pode por a mão.” “Não sei nem aonde que vou por a mão.” Aí, depois de muito tempo, ele tirava a arma e falava: “Está aqui, ô maluca, não vou fazer nada, não.” Eu falei: “Mas eu tenho medo, porque vocês são muito esquentados.” Tinha uns caras esquentados. Tinha um comerciante que jogava na minha casa, em Diadema, e que eu o trouxe para Capuava. Ele era muito esquentado, eu tinha muito medo deles brigarem. E o Cláudio era doido. O Cláudio era moleque. Era um homem grandão, mas moleque. Eu tinha medo.
P/1 – E por que todo mundo andava armado assim na época?
R – Ah, porque andava armado? Eu não sei. O meu marido nunca teve uma arma dentro de casa, mas por ser a favela, eles podiam ter rixa uns com os outros, com o pessoal de fora. Acho que era para defesa, para se defender. Era boa gente, um pessoal legal, só que eu não sei, lá fora, se eles faziam coisas erradas. Sei que na minha casa nunca fizeram. (risos) Às vezes eu estava dentro de casa, logo quando cheguei em Capuava, eles encostavam a mão assim, na minha janela, e pegavam a arma e atiravam na minha janela. Daqui a pouco eu ia morrer. Quantas vezes eu, nossa, faltava eu cair dura: “Ai, não faz isso, não.” “Eu fiz só para lhe assustar, porque não está acostumada com tiro.” E atirava com a mão encostada na janela. O braço quase para dentro de casa, na minha janela, e eles atiravam. Depois, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu era danada. Eu jogava muito. Tinha outro barraco, do Miguel, que era do Piauí também, da cidade do meu ex-marido. Ele montou um cassino do outro lado, e volta e meia eu ia jogar lá, na casa dele. Naquele barraco saía tiro e saía de tudo. E eu lá dentro. (risos) Porque lá eles não desarmavam o outro. Saía tiro, nossa! E tinha um dia mesmo, eu e Babalu. Ela era doida, louca. Íamos para lá, os homens brigando, e ela brigava junto com os homens. Saíamos correndo: “Vamos embora.” Ela não ficava sozinha. Eu dizia: “Babalu, vou embora.” Ela dizia: “Larga de ser besta, não tenha medo, não! Aqui é cão engolindo cão.” Eu digo: “Não, com tiro eu não gosto.” (risos) Mas tiveram muitas coisas assim, mas o pessoal era legal.
P/1 – E quando acabou o cassino, o pessoal sentiu falta, não veio te procurar?
R – Não. Depois que a gente mudou de Capuava, o pessoal tem cassino lá ainda. Tem cassino bom. Nas casinhas. E eu saí de lá. Depois que saí, não jogo mais lá. No começo ainda volta e meia eu ia, mas já arrumei umas parceiras aqui. Jogamos na minha casa, na casa das outras, até hoje tem jogo. Todo final de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo à tarde se você vier aqui, aqui estará lotado. Não adianta, porque não para.
P/1 – E onde você aprendeu a jogar, Vera?
R – Se eu te falar... Os meus pais sempre jogavam baralho, só que eles nunca jogaram valendo. Eles jogavam uma tal de... Como é o nome do negócio, meu Deus do céu? Tem o nome do jogo, que vale ouro, copas, esses negócios e é por ponto. Então conheci os meus tios, meu pai, minha mãe e os casais sempre jogando. Daí começamos a jogar. Pegávamos o baralho e começamos a jogar apostado. Não jogava o mesmo jogo que eles. Começamos num outro jogo. Começamos a jogar brincando e, aqui em São Paulo, esse meu irmão que mora em Capuava montou, começou a jogar com o pessoal, mas apostado. E eu jogava brincando, jogava sempre brincando, nunca joguei apostado. Depois de ter ficado doente, de ter ido ao Piauí... Quando eu voltei, não tinha o que fazer e não queria ficar sozinha trancada dentro de casa. Passei a olhar eles jogando e aprendi. Só que comecei a montar o jogo porque eu precisava da sobrevivência das minhas filhas, como eu falei a você. Aí eu aprendi. Fui jogando, jogando. Perdi muito dinheiro no começo, até aprender. Depois recuperei o que eu perdi. Mas é assim, o jogo vem já de família mesmo. Todo mundo gosto de jogar. Eu vou ao Piauí e você pensa que lá eu não jogo? Meus parentes todos têm cassino. Vamos pra lá e jogamos. Já vem do sangue. Só que os nossos pais não jogavam apostado e nós jogamos apostado. Para eu pegar umas cartas e jogar sem valer, eu não jogo. Não tem graça nenhuma. Pode ver. Ali tem um baralho. O pessoal já chega chegando. Daqui a pouco você vai ver. Vem uma colega minha aqui e, mais tarde, já começa. Termino de dar o almoço, o meu neto chega, dou banho nele e vamos jogar nós duas para passar o tempo, mas é passar tempo ganhando dinheiro, viu? (risos).
P/1 – E você chegou a perder bastante dinheiro jogando?
R – Já. Já cheguei a perder. Em 2001, não, 2004, em novembro, recebi a minha casinha. Meu marido estava trabalhando na época e ele tinha feito um serviço, ganho um bom dinheiro. Aí ele chegou e falei a ele: “Recebi a chave da casinha. Fui lá ver com as meninas e já estamos com a chave e tudo.” Ele pegou e falou assim: “Olha, Vera, eu ganhei um dinheiro bom. Vai dar para construirmos, comprar os blocos, cimentos, e adiantar bem.” Porque ele era pedreiro. Eu falei: “Está bom.” Quando cheguei, estava tão feliz da vida que tinha recebido a minha casa, peguei 250 reais e pus no bolso, fui para o Miguel jogar. Perdi 250 reais. Aí, não achando pouco, peguei mais 150 com o Miguel. Porque é assim: ele empresta sabendo que você tem o dinheiro, que é um parceiro legal. “Miguel, empresta mais 150.” Emprestou. Perdi os 150. Miguel me emprestou mais cem, já são quinhentos. Eu fui em casa, peguei o dinheiro do Miguel, paguei a ele, e peguei mais um pouco de dinheiro, não sei quanto foi e botei para jogar. Eu perdi praticamente mil reais, daquela noite para o outro dia. Virávamos a noite jogando. Ainda mais perdendo. Começava de tarde. Enquanto você estiver perdendo, você joga. Perdi o dinheiro de construir a minha casa, de comprar o material todinho, todinho. Perdi nesse dia. E acho que ele, com raiva, porque não fui para casa nem para mostrar a casa a ele, jogou praga e eu perdi. Foi de manhã. Peguei o dinheiro com o Miguel de novo. Pela manhã, entrei em casa, fui ao lugar onde estava o dinheiro e entreguei para o Miguel. Só que eu falava: “Eu perdi o dinheiro todinho no baralho.” “Perdeu? Então você vai morar naquela casa do jeito que está.” Eu falei: “Está bom, contanto que não vá, está bom.” Aí ele falou assim: “Ó, Vera, vou falar uma coisa a você: a partir de hoje, se você perder um real no jogo, eu não ponho um bloco naquela casa.” Eu falei: “Está bom, pode deixar. Você tem palavra? Você é homem? Só se você for homem agora, porque eu tenho palavra. Eu sou mulher. Pois você vai ver. Vou construir aquela casa e você vai me ajudar, porque você é pedreiro, mas o material quem vai comprar todinho sou eu.” Comprei o material. Foi fiado? Foi com cartão? Foi. Mas comprei todinho o material da casa. E sabe como que foi feita a casa? Ele, pedreiro, e eu, ajudante de pedreiro. E não era a primeira que eu estava fazendo. Já tinha feito três casas assim, como servente dele. E falei: “Francisco, enquanto a casa não estiver pronta, não jogo mais baralho.” E assim eu fiz. Fiquei os meses todinhos. Começamos a construir em dezembro e terminamos em fevereiro a construção da casa. Foi rápido. Levantei a casa todinha e quando estava tudo acabadinho, falei: “Vou jogar baralho que agora eu posso.” Aí pedi para jogar tudo na casa da vizinha, que vai vir daqui a pouco. É uma colega que era a minha vizinha. E falei: “Posso brincar um pouquinho?” Ele falou: “Pode.” Você acredita que, falando sério a você, a partir daquela data, eu nunca mais perdi um real no baralho? Só porque eu falei que ia fazer, que não ia jogar? A minha palavra é palavra e eu não tinha jogado. Só ganhei e ganhei em todo lugar que jogo. Por isso que parei de montar jogo. Nós jogamos, mas não viramos mais casa, também porque não precisa, graças a Deus. Graças a meu bom Deus, não preciso. Foi preciso na época para cuidar das minhas filhas. Hoje não, as minhas filhas já são mulheres, donas do seu nariz e cada uma tem o seu emprego. E quem não faz mais nada sou eu. Estou numa boa, só esperando o marido e os filhos. (risos)
P/1 – E Vera, deixa eu te perguntar, qual foi o sentimento de pegar a chave da sua casa, de mudar para a sua casa?
R – Parecia que eu tinha nascido naquele dia. Foi muito bom, nossa! Fiquei tão feliz que me joguei... A minha filha falava para todo mundo que eu tinha pegado a chave da minha casa. Nossa senhora! Parecia que era uma criança que tinha ganhado o brinquedo que mais queria na vida. Criança que não tem brinquedo e quer uma bicicleta. A sensação foi muito boa. A mesma coisa foi quando na mudança. Vir de lá de baixo. Estava no barraco. Construí morando em um barraco e vir morar num sobradinho, todo acabadinho. Porque o meu sobradinho, se você vê-lo, fiz do meu jeito, porque o meu marido é relaxado, mas eu não. Se eu quero uma coisa, quero daquele jeito. Cortei o vão da escada de baixo, fiz uma sanca embaixo, coloquei luzes, aumentei a sala para por o sofá e para caber mais. Nossa, fiz muito bonitinho. E lá em cima, ele fez sem banheiro. Então, no terraço, onde fica a garagem, construí o banheiro dentro do meu quarto. Fiz um monte de coisa bonitinha. (risos)
P/1 – E Vera, quais foram as principais mudanças aqui na região que você considera mais significativas e que mudaram a história da região?
R – Deixa eu ver se eu entendi.
P/1 – Teve alguma vendinha nova ou alguma coisa que apareceu e que não tinha antes? Alguma coisa que represente essa nova época de Capuava.
R – Não. A única coisa nova que eu achei, porque não gosto de pequenas coisas, gosto de coisas grandes. O que eu acho que mudou no bairro foi a creche, a escola, o prédio que fizeram. Agora em matéria de comércio, aqui tem, mas não tem nada para chamar a sua atenção e dizer: “Olha, fizeram um negócio bacana.” Eu acho que estão fazendo um negócio bacana. Eu vejo porque passo ali e observo. Mas não tem nada. Não tem um lazer aqui, não tem nada gostoso para você construir aqui no bairro. A única coisa boa foram as creches e a escolinha que fizeram. E ouvi dizer que lá embaixo estão fazendo uma delegacia, que já está com função. Para o bairro, isso é uma coisa boa. Mas era para ter uma lanchonete bonita, um cantinho gostoso para tomarmos uma cervejinha. Tem só umas casinhas sem futuro. Não gosto.
P/1 – E o forró? Você vai dançar forró? Onde você vai?
R – Vou à Rádio Atual, (risos) volta e meia. É bem gostoso comer aquelas comidas típicas nordestinas, dançar o forró. Lá o forró é gostoso. E quando eu quero ir para um lugar diferente, para um forró, vou para longe, não fico por aqui. Aqui tem uns forrozinhos, mas como eu disse a você, não gosto, (risos) prefiro lá fora. Em Diadema tem umas irmãs minhas e nós vamos muito para lá, para os cantinhos que tem em São Bernardo. Lá tem uns lugares gostosos. Pense como é gostoso. Tem um bairro chamado Paulicéia, que tem uns lugarzinhos que são muito bons! Se você quer dançar, pode dançar que tem e é muito bom. Se você não quer, só comer e beliscar alguma coisinha, beber sossegada, ficar tranquila ouvindo a sua música, é muito bom.
P/1 – Agora vou encaminhar a entrevista para uma parte final. O que significa para você morar aqui em Capuava? O que esse bairro, essa região, significa para você?
R – Significa muito. Porque vindo de onde eu vim, como eu falei, tinha perdido tudo e não tinha mais nada. Então ter vindo até Capuava, e por esse bairro Alzira Franco, é muita coisa, sabe? Porque como meu ex-marido dizia que nunca mais iríamos conseguir ter um teto, ter uma casa nossa, uma moradia, então significa muito mesmo e é muito importante. Eu posso um dia mudar do Alzira Franco, ou de Capuava, como chamavam de Capuava, mas não esquecerei Capuava nunca. Porque mesmo morando onde eu morava antes, em Diadema, na minha casa, em São Bernardo... Tive uma casa em São Bernardo também, só que lá eu não morei. Tive a casa mas não morei. Morei em Diadema, em casa própria. Mas eu não gostava como eu gosto daqui. Gosto e tenho amor por Capuava, por Alzira Franco, e gosto muito das pessoas aqui. Tem muita gente que conheci e que gosto muito. Apesar de não saber nem o nome de alguns, gosto das pessoas sem saber o nome delas, mas da gente, do dia-a-dia, passando, oi, oi, oi, gosto de tudo.
P/1 – Você falou da delegacia. Quais são as suas outras expectativas em relação à região, ao futuro daqui?
R – Mais creches, um posto de saúde, que estamos precisando urgentemente. Só que ouvi dizer dizer que já está no projeto em andamento. Precisamos urgentemente do posto de saúde. E outra, que venha a lotérica pra cá, que coloque as coisas mais para perto, pois não tem banco. Tem que ter um espaço para montar essas coisas, pelo menos uma lotérica, um banco, mais um mercado, porque os mercados daqui estão longe. Tem o mercado Adonias, lá embaixo; tem o Mikitu, que também é uma ‘merceariazinha’ e precisamos de um mercado grande. Tem o Walmart, mas queremos no bairro. O único mercado mais próximo daqui, que tem nome, é só o Dia. O Coop também já fica longe. E o mais importante mesmo é a delegacia. Precisamos de segurança. Tem um pessoalzinho aqui que está morando nas residências, nas casas, mas estão fazendo muita baderna, tem muita bagunça. Não aqui nesse foco, onde estou morando, mas um pouco mais para baixo. E está nos atingindo, porque estão entrando nas casas, roubando. A segurança e a polícia tem que ver isso, faz parte deles ver essa parte para podermos ficar em paz. Temos filhos, netos, sou avó. Então, a minha filha com dezoito anos, como já falei com você... Foi uma mudança muito boa. Como eu posso não gostar de Capuava se eu já tenho até neto nascido aqui?
P/1 – E fale um pouquinho da sua família de hoje, o seu marido, como você o conheceu?
R – Conheci ele aqui mesmo, no jogo. (risos) Jogando baralho. Por eu não viver bem com o meu marido, foi criando um clima entre nós. Quando vimos, já tinha acontecido. Só que mesmo o meu marido sabendo que tínhamos um caso, ele não saiu de casa. No caso, seria eu que deveria sair de casa, mas eu não queria sair pelas minhas filhas. Então ninguém estava prejudicando ninguém, porque estávamos vivendo por viver e pelo menos eu cuidava das filhas e cuidava dele, de certa forma. Tanto é que quando eu saí, ele falou que não era para eu ter saído. Eu e esse meu marido novo ficamos de caso por cinco anos. Eu continuei lá na minha casa. Só que todo mundo sabia, a minha filha também, apesar de ser contra. Mas fazer o quê? É a vida. Quando foi para eu sair, a minha filha engravidou, a mais nova. Tive que esperar o bebê nascer. Só que o meu marido não tinha certeza, ele ouvia dizer, a minha filha falava, criticava, mas ele achava que era mentira, que não era verdade, pois, como ele dizia, ele não queria me perder. Já estava velho e não queria ficar sozinho. Era assim que ele dizia. Besta. Ficamos cinco anos e pouco e, depois, resolvemos morar juntos. O meu netinho nasceu e, quando ele tinha sete meses, eu saí de casa. Quando eu saí, não disse nada a ninguém. Fui tirando a minha roupa, as minhas coisas de dentro de casa para ir para a casa dele. Ninguém percebeu nada. Saía com a sacola de roupa e ninguém via nada. Tirei sapato por sapato. Aí, quando resolvi ir embora de vez, só teve uma coisa que eu tirei lá da casa, em matéria de móvel, a não ser a minha roupa, meus calçados e documentos, que foi a sapateira. Foi o que me acompanhou, e um DVD, porque era do meu quarto. Então já era do jeitinho certinho a casa dele, já com o local de por o DVD. Foi só isso que eu trouxe de casa e mais nada. Aí, quando chegaram em casa, não perceberam que eu não estava, mas perceberam que a sapateira não estava. Todos estavam trabalhando, (risos) e eu também tinha que trabalhar. Foi um sábado. Eu dei o cano, conversei com a minha encarregada que eu não podia ir para fazer isso. Saí, fui morar com o outro. Só que não viemos morar aqui. Tínhamos alugado uma casa fora, em Mauá, lá no Jardim Sônia Maria.
P/1 – Você morou lá?
R – Morei, sim. (risos) E era mais perto do serviço dele também. Fomos para lá. Então, quando chegou a menina e me ligou, primeiro disse que ligou ao pai dela: “Pai, tem alguma coisa de errado em casa.” A televisão, que estava na sapateira, eu não levei. Coloquei no chão. Ela viu por causa da televisão. “A sapateira da mãe não está em casa e a televisão está no chão.” “A sua mãe deve ter tirado para alguma coisa, ou vendeu, sei lá o que ela fez com a sapateira.” Foi quando a menina me ligou, a mais nova. Ligou e falou: “Mãe, onde você está?” Eu falei: “Por quê?” “Onde você está?” “Estou um pouquinho longe de casa, por quê?” “Mãe, o que está acontecendo?” Quando fui para falar, começou a chorar e chorar. Foi um auê, uma briga dessas meninas, que ficaram contra mim. A minha filha mais velha, então... Vixi. Hoje não, hoje graças a Deus, até o meu ex-marido, nossa... Temos uma amizade fora de série. Nunca fomos tão amigos como somos hoje, mas foi barra. Agora, com esse meu marido, está bom demais. (risos)
P/1 – E como foi lá no Sônia? Como foi morar lá? Onde você morou lá?
R – Então, morei no Sônia, em Mauá, achando que morava em Santo André. Meses depois descobri que não morava em Santo André (risos) e que morava em Mauá. Mas foi bom, principalmente porque estávamos acabando de ir morar juntos, os dois, mais afastados de tudo e de todos. Porque os amigos ficaram aqui, eram todos da rua. Para morar aqui nessa rua não dava certo. As minhas filhas vieram correndo até aqui. Quando não me viram em casa, que eu contei, vieram prontas para matar o Damião. (risos) Não encontraram ninguém. Então no Sônia Maria foi bom, foi legal.
P/1 – E como era o bairro? Você gostou?
R – Um bairro muito bom. Não era um bairro bonitinho. É lindo, bonito, que eu achava que estava em Santo André? Eu ainda achava um bairro bonito de Santo André: “Olha que bonito!” Aí eu descobri que era Mauá. Pensei que Mauá não tinha bairro bom. Ali, perto do Parque São Rafael, (risos) mas foi bom. A vida lá foi boa. Vim pra cá e, chegando aqui, temos três casas alugadas nessa parte. E temos um cômodo alugado, uma quitinete, e todos ocupados. Queríamos voltar. O meu ex-marido começou a me ameaçar. Eu falei: “Já que eu tenho que morrer, vou logo lá para perto. Vou morrer longe? Vou morrer perto. Vamos voltar para lá.” E ele: “Não, vamos ficar aqui mesmo.” “Vamos voltar pra lá, não vai ter que morrer do mesmo jeito? Assim não morreremos pagando aluguel, na casa dos outros, mas na nossa casa.” (risos) E assim eu fiz. Pedi a casa para um, e não desocupou. Pedi a casa para o outro e nada. Quando foi no dia seguinte, pedimos para uma moça que estava morando e não pagava o aluguel há um mês, estava atrasada. Disse: “Vamos pedir a ela, que é a parte mais fraca, vamos tirá-la de lá.” Tiramos essa moça da quitinete. (risos) Fomos morar os dois numa quitinete. Nós tínhamos o armário, o fogão e a cama. O dormitório era lá embaixo e só cabia isso. Era uma ‘quitinetezinha’, a pia ficava do lado, a máquina de lavar, do outro ladinho. Na cozinha cabia a máquina, a pia e só. (risos) Mas foi gostoso. Quando terminamos de vender lá, acertou tudo para as minhas filhas... A minha filha com o neném veio morar comigo, mas a mais velha não. A mais velha não queria nem saber. Falava comigo, mas não iria morar comigo. Ia morar com uma amiga. Eu falei: “Vamos fazer uma casa, pegar esse dinheiro e construir uma casinha em cima da laje para morarmos, já que ninguém desocupa a casa para nós.” Aí mandamos bala, fizemos essa casa em dois tempos. Quando foi na hora de vir para cá, não veio só a mais nova, mas vieram os três. Até o gato, que não era para ter vindo, veio. (risos) Veio tudo. Eu falei: “Então está bom.” Só que aí a minha filha veio pra cá, a mais velha e, chegando aqui, ficou menos de um mês e se juntou com o namorado. “Mãe, eu vou morar com o Isaac.” Já namoravam há seis anos. “Vai morar com o Isaac?” “Vou.” Aí eu falei: “Então vá, se não der certo, você volta.” Quando o meu marido chegou do serviço, eu falei: “A Ágata foi embora.” “A Ágata foi embora para onde?” “Foi morar com o Isaac.” “E nem se despediu de mim?” Porque ela era a única pessoa que ele não ia muito, porque ela falou muita coisa, brigou... E foi uma briga feia. Me xingou, falou coisa para ele. No começo, ele não queria que ela viesse morar aqui por causa disso, mas depois: “Está vendo.” Pois eles não tinham raiva, ficou tudo de boa. Ontem mesmo ela veio jantar conosco, (risos) ela e uma amiga. E vem sempre. Então, depois que eu terminar, vou te mostrar a foto do meu netinho.
P/1 – E Vera, tem mais alguma história que você queira contar ou deixar alguma consideração final?
R – Não, acho que o que eu tinha que falar... A única coisa que queria falar a você foi sobre isso. A favela não influencia ninguém a fazer algo de errado. Esse negócio de dizer: “Fulano não presta porque é da favela”, não. As minhas filhas vieram, uma com quatorze anos e a outra estava no prezinho, não lembro a idade que ela tinha, mas devia ter uns seis ou sete anos de idade. Ela veio, viu muitas meninas, meninos e adolescentes se envolverem com drogas, com o que não devia, pessoas próximas e até parentes nossos. Teve um caso na minha família, de um parente que se envolveu com o que não devia e, na época, tinha a mesma idade que a minha mais velha. E não foi por falta de convidar, de oferecer, porque sempre ofereceram para as meninas. Tem uma filha de uma amiga, que eu já citei o nome dela, que vivia nas drogas, mas daquelas que eu tinha que procurar. Por ter amor às minhas filhas, eu tinha muito amor a essa menina e não queria que ela ficasse naquela vida. Eu ia procurar. Eu já fui na casa de bandido buscar essa menina. O nome dela é Andréia. Hoje ela é uma senhora casada. E ela diz isso: “Vera, graças a você, à força que você me deu.” Ia eu e a mãe dela procurar, e ela não obedecia a mãe. E era amiga da minha filha, vivia dentro da minha casa. Só que a minha filha dizia: “Dentro da minha casa você pode vir, Andréia. Você, Fulano e Sicrano. Mas para a rua, com você, eu não vou. E sabe por quê? Porque eu não faço o mesmo que vocês fazem. Não vou levar a fama do que eu não faço. Então o que você precisar, estarei aqui para lhe ajudar, e gosto muito de você.” A minha filha falava: “Eu gosto muito de você.” Tanto da prima quanto dessa Andréia, que não é parente. Eu gosto até hoje da Andréia. Demais. Mas a menina tinha a cabeça fraca. Só que ela saiu dessa. Eu tenho um sobrinho criado sozinho. A minha irmã era mãe solteira e ela criou esse filho em Diadema, na pior favela. Passou até nos Estados Unidos, que era a Jardim Caema. Se você for procurar a reportagem, ainda vê. E foi criado naquela favela, o Everton, o meu sobrinho. Sem pai e sem mãe, porque ela trabalhava o dia inteiro para o sustento dele. E ele no meio, a rodinha rodando e ele aqui do lado. Ele dizia para os meninos: “Vocês podem fazer, eu não quero, eu não faço. Eu não tenho vontade de fazer isso.” E hoje, mesmo criado sozinho, é um homem. É um homem. Então falo para as minhas filhas: “Siga o exemplo do Everton, porque ali a barra era pesada.” Ninguém faz a cabeça de ninguém, você é o que você tem que ser. Então dou graças a Deus pelas minhas filhas. Nunca, nem um cigarro, porque eu e o pai delas somos fumantes. Elas detestam cigarro e nunca fumaram. Eu agradeço a Deus. Fui ameaçada de morte, tive um tempo com depressão por causa da minha sobrinha que eu queria tirar do mau caminho. Ela estava fazendo coisa errada e eu não aprovava, não achava certo. E, principalmente, porque estava com uma pessoa que não tinha futuro, que além de fazer coisa de errado, era vagabundo de verdade, e ainda era casado, pai de filhos, e a minha sobrinha se envolvendo com ele. Então, quando fui dar o alerta a ela, que não era para fazer aquilo, para a mãe dela... Elas ficaram com medo que eu chegasse até o meu irmão. Ele me ameaçou de morte. Ainda bem que eu já estava aqui. Mas, mesmo assim. E ele ainda dizia: “Eu não vou matar, eu vou mandar matar.” Se fosse ele vir me matar, eu o conhecia, mas outra pessoa que eu não conhecia? Eu ia esperar morrer? Mas graças a Deus, Ele tirou, mas não fui eu, não tenho nada a ver com isso. (risos) Não tenho nada a ver com isso, Graças a Deus. E não foi por falta, não. Quando ele me ameaçou, teve pessoas que queriam fazer coisa com ele. Eu falei: “Não.” No fim, Deus tarda, mas não falha. Pode deixar. Mas fiquei sem conseguir nem sair de casa, eu e a minha filha mais velha, com depressão, com medo. Não sabíamos quem ia fazer, então... Mas graças a Deus, estou aqui contando essa história. (risos)
P/1 – Vera, você tem vontade de voltar para o Piauí?
R – Não. Para morar, não. Eu voltei, fiquei um ano lá, mas eu não tenho vontade. Acostumei já aqui, gosto do clima frio e me dou bem. Lá é quente. Lá é muito bom para passear, pra se divertir, mas para a renda, para dinheiro não é bom. Para quem já tem o seu emprego, é aposentado, para viver está bom. Mas não dá, prefiro ficar aqui. E outra, as minhas filhas são daqui, nascidas e criadas aqui. Elas não vão. E eu não quero ir para longe delas.
P/1 – Vera, agora para encerrar, o que você acha desse projeto de contar a história dos bairros através da história de vida dos moradores?
R – Eu acho legal, acho que é um bom incentivo para as pessoas falarem um pouco delas mesmas. Foi ótimo! Gostei.
P/1 – E como que foi para você contar a sua história, voltar lá atrás e relembrar de toda essa trajetória?
R – Foi muito bom, com muita emoção e, principalmente, quando me lembro do meu pai.
P/1 – Vera, em nome do projeto, eu a agradeço muito.
R – Eu que agradeço!
P/1 – Obrigada, viu?
P/2 – Obrigado.
R – Obrigada a vocês!
Recolher