Montamos uma empresa de importação. Eu entrei em 89 e fiquei até 97, fiquei oito anos nessa empresa. Começamos uma empresa do zero e essa empresa cresceu bastante, graças a Deus. Uma empresa que quando eu saí ela já estava com 40 funcionários trabalhando na área de produtos de informática, eletrônica, tudo crescendo. Mas foi aí que aconteceu o grande problema, né? E a grande sorte, a grande virada, o grande recomeço, eu posso colocar tudo como grande, o grande recomeço, a grande virada, a grande oportunidade, o grande tudo que acontece na minha vida, que eu fiquei paraplégico. Foi em 96, eu tava voltando pra minha casa e parei num semáforo, o bandido veio, encostou na porta do meu lado e encostou o revólver no meu ombro e gritou que era um assalto. Eu tinha uma mala do meu lado e eu tinha dinheiro na mala. Eu peguei a mala e virei, eram umas nove horas da noite. Eu acho que ele entendeu como uma reação e atirou. O primeiro tiro pegou no ombro, saiu aqui embaixo do braço direito e eu balancei. O segundo tiro pegou mais nas costas, pegou na oitava vértebra torácica, eu fiquei paraplégico. Foi muito interessante que o primeiro mês em casa, eu fiquei dois meses no hospital. Voltando do hospital, minha saída do hospital, os enfermeiros, teve dois que não vieram se despedir de mim e os outros choraram porque meu quarto foi um mês e meio de festa dentro do hospital. Hospital São Luiz aqui na Avenida Santana. Um mês e meio de festa, mas festa, sabe o que é festa? Só faltava levar cerveja, vinho, balãozinho de gás. A notícia sobre a paraplegia eu recebi logo que eu saí da UTI e fui pro quarto. Eu recebi a informação de que eu estava paraplégico ou que as minhas pernas não funcionavam. Mas até então eu não tinha a menor ideia do que isso significava. Porque como a maioria, a gente não olha para os deficientes, não quer saber quem é o deficiente. O deficiente é uma sombra. Como o lixeiro é uma sombra. Como o garçom é uma...
Continuar leituraNós ainda somos capazes
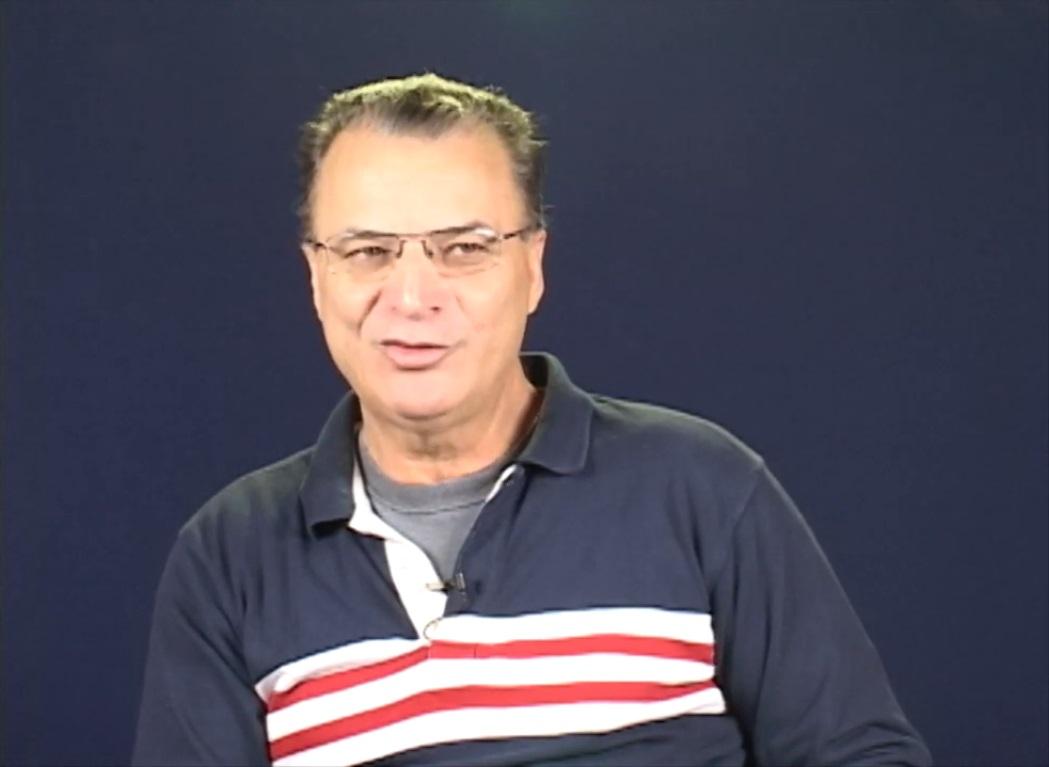
Em sua entrevista, Roberto fala da sua infância peregrina, que acompanhava as repentinas mudanças no trabalho de seu pai, ao longo das rodovias do Estado de São Paulo. Em seguida, conta como foi difícil sua adaptação na capital, onde sofria bullying diariamente por suas raízes caipiras. Adiante, Roberto explica o seu amor pela eletrônica e traça a sua carreira no ramo, indo da Philco à Sharp, passando pelo seu casamento e o nascimento de seu primeiro filho. Então, sabemos do evento que mudou sua vida para sempre: o assalto que lhe deixou paraplégico com um tiro na coluna. Daqui em diante, narra a saga de dores e superações diárias que marcaram sua vida. Inicialmente depressivo e dependente de medicamentos, Roberto escolheu continuar e se declarar capaz de viver. Assim, conta como passou a integrar um programa de rádio que entrevista pessoas com deficiência física e informa o público geral quanto à importância de reformas que melhorem o dia a dia dessa população. Finaliza seu depoimento contando sobre sua tardia graduação em Jornalismo e os diversos aspectos e capítulos de sua militância pela acessibilidade.
Roberto nasceu em Botucatu, no estado de São Paulo, em 28 de novembro de 1954. Sua família costumava mudar constantemente de cidade por conta das atividades do pai, que trabalhava na construção de estradas na região sudeste do Brasil. Assim, quando foi para São Paulo, sua adaptação à escola passou por intensas brigas com os colegas, que o chamavam de caipira. Conquistou seu primeiro emprego na área de eletrônica e conheceu ainda jovem sua futura esposa, com quem compartilharia momentos de intensa solidariedade e cumplicidade. No início da década de 90, durante um assalto, Roberto foi atingido por dois tiros e tornou-se paraplégico. A deficiência, no entanto, proporcionou-lhe a vontade de contribuir para a melhoria da condição social de seus pares. Assim, começou a desenvolver diversos trabalhos para divulgação e conscientização das necessidades e dificuldades da população deficiente no Brasil.
Dados de acervo
- Vídeo na íntegra
-
Áudio na íntegra
(não disponível) - Texto na íntegra
- Ficha técnica
P/1 – Roberto, pra começar eu queria que você falasse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento
R – Meu nome é Roberto Rodrigues Rios. Eu nasci em Botucatu, no estado de São Paulo, em 28 de novembro de 1954
P/1 – E o nome dos seus pais?
R – Meu pai, José de Oliveira Rios, natural de Queluz, também estado de São Paulo, e minha mãe Ruth Rodrigues Rios, também de Queluz, estado de São Paulo
P/1 – E você sabe alguma coisa da origem dessas famílias?
R – Bom, o meu pai tem mãe portuguesa, mas a gente não conhece absolutamente nada sobre ela porque ela morreu no nascimento dele; e o pai dele, várias gerações ali da região do Vale do Paraíba mesmo, a gente não tem origem de outro país. Brasileiríssimo. A minha mãe também, a mãe dela, dali do Vale do Paraíba, a gente não conhece a história da família, deve ser de várias gerações dali da região e o pai dela português. O pai dela tem até uma história interessante porque ele já veio com certa idade de Portugal, veio já com 40 anose ficou uma história nebulosa sobre a origem dele em Portugal. A gente acha que ele tinha ou indústria, ou era político porque ele veio fugido de Portugal na época da intervenção política que houve lá e ele não gostava de falar muito a respeito da história dele. Então eu tenho o avô materno português e a avó paterna portuguesa
P/1 – E você tem irmãos, Roberto?
R – Tenho mais três irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, Rubens, de Queluz. Rosa, natural de Resende, estado do Rio de Janeiro. Depois eu, de Botucatu, e a minha irmã mais nova, de Capão Bonito, estado de São Paulo
P/1 – E como ela chama?
R – Rosalva. Cada um de uma cidade
P/1 – E o que seus pais faziam, Roberto?
R – Tá aí a explicação de cada filho numa cidade. Meu pai trabalhava com construção de estradas, ele era mecânico de máquinas, então nessa década de 50, década de 60 estava se abrindo muitas rodovias, né?...
Continuar leituraP/1 – Roberto, pra começar eu queria que você falasse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento
R – Meu nome é Roberto Rodrigues Rios. Eu nasci em Botucatu, no estado de São Paulo, em 28 de novembro de 1954
P/1 – E o nome dos seus pais?
R – Meu pai, José de Oliveira Rios, natural de Queluz, também estado de São Paulo, e minha mãe Ruth Rodrigues Rios, também de Queluz, estado de São Paulo
P/1 – E você sabe alguma coisa da origem dessas famílias?
R – Bom, o meu pai tem mãe portuguesa, mas a gente não conhece absolutamente nada sobre ela porque ela morreu no nascimento dele; e o pai dele, várias gerações ali da região do Vale do Paraíba mesmo, a gente não tem origem de outro país. Brasileiríssimo. A minha mãe também, a mãe dela, dali do Vale do Paraíba, a gente não conhece a história da família, deve ser de várias gerações dali da região e o pai dela português. O pai dela tem até uma história interessante porque ele já veio com certa idade de Portugal, veio já com 40 anose ficou uma história nebulosa sobre a origem dele em Portugal. A gente acha que ele tinha ou indústria, ou era político porque ele veio fugido de Portugal na época da intervenção política que houve lá e ele não gostava de falar muito a respeito da história dele. Então eu tenho o avô materno português e a avó paterna portuguesa
P/1 – E você tem irmãos, Roberto?
R – Tenho mais três irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, Rubens, de Queluz. Rosa, natural de Resende, estado do Rio de Janeiro. Depois eu, de Botucatu, e a minha irmã mais nova, de Capão Bonito, estado de São Paulo
P/1 – E como ela chama?
R – Rosalva. Cada um de uma cidade
P/1 – E o que seus pais faziam, Roberto?
R – Tá aí a explicação de cada filho numa cidade. Meu pai trabalhava com construção de estradas, ele era mecânico de máquinas, então nessa década de 50, década de 60 estava se abrindo muitas rodovias, né? Principalmente no estado de São Paulo, Minas, Rio, essa região sudeste. E meu pai era levado pra cada região que estava abrindo estradas, principalmente a parte de terraplanagem, que exigia muitas máquinas. Meu pai era transferido pra esses lugares porque existiam poucos mecânicos naquela época, então, ele era transferido e a gente mudava, ficava um ano em cada cidade. Até os meus 16 anos eu morei em praticamente mais de 12 cidades diferentes. A nossa escolaridade foi assim bem difícil porque era um ano em Minas, outro ano no Rio, outro ano em São Paulo, outro ano lá no oeste de São Paulo, uma hora aqui no centro e assim por diante
P/1 – As primeiras lembranças que você tem da sua infância são em que cidade?
R – A primeira infância bem, bem nítida pra mim, ela começa no estado de Minas Gerais, na cidade do Prata, lá perto de Uberaba. Eu já estava com meus cinco anos, por aí, então já começa a ficar bem nítido, eu não sei se por causa da intensa atividade que a gente tinha lá, muitos amigos, o povo mineiro muito solícito, muito dado, né? Aquele povo que você tem uma facilidade de comunicação com eles muito grande, então meu pai se enturmou muito rapidamente, então todo fim de semana a gente ia pescar no rio, a gente ia nadar, galinhada na beira do rio, brincadeiras. E foi lá que eu iniciei minha escola, lá eu iniciei meu curso primário
P/1 – E você lembra, por exemplo, da casa, do bairro?
R – Na cidade nós mudamos três vezes de casa. Além de mudar de cidade a cidade a gente mudava de casa também. Mas lembro de alguns amigos, lembro das brincadeiras, lembro que foi a primeira árvore de Natal que minha mãe fez. Sabe aquela árvore de Natal bem rústica que você vai pegar o galho na árvore, corta aquele galho bem cortado? Nós éramos muito pobres, então minha mãe conseguiu um pouco de algodão, com muito custo, algodão pra você ter ideia, uma latinha de tinta prateada pequenininha assim, pintamos o galho da árvore, colocamos uma lata de banha daquelas de 18 litros com terra envolta em papel e a árvore, o galho só com algodãozinho; pra nós já foi uma festa aquela árvore de Natal. Então isso traz uma parte gostosa de lembrança da infância, né? Fora ganhar um tostãozinho pra recolher manga no quintal das mulheres e jogar no rio. Você imagina, a gente limpava o quintal de manga, hoje você compra uma manga por um preço enorme, a gente jogava manga no rio
P/1 – Como é que você descreveria seus pais?
R – Meu pai foi um homem muito rústico, ele teve uma infância muito dura, foi criado com madrasta, muito pobre, então já teve que começar a trabalhar logo aos oito anos de idade numa oficina mecânica. Aos 12 já dirigia, aos 18 ele se apresentou como voluntário pro Exército, que na época dele era 21 que tinha que servir. Então, ele com 18 se apresentou como voluntário, aos 19 ele já foi pra guerra pra Itália, ficou um ano, um ano e meio na Itália em guerra, em linha de frente; teve uma vida bastante difícil na guerra, voltou com vida, às vezes a gente fala que por Deus. Voltou alcoólatra, bebeu durante um ano e meio lá na Itália e pra ele se recuperar disso foi bastante difícil. Toda vida foi uma vida de serviço muito pesado, muito rústico, né? Ele foi um homem rústico, mas não ruim; de jeito nenhum, meu pai era um homem super bom. Meu pai pegava o salário dele, ele não gastava um real com ele, era tudo pra dentro de casa. Não dava pra passar 15 dias, mas era tudo pra dentro de casa. Então os filhos eram o que ele tinha de mais carinho na vida dele, ele dava a vida pelos filhos. Mas não era carinhoso, ele era rude, sabe? Ele tinha o amor dele à moda dele. À moda dele era trabalhar muito pra tentar dar um padrão um pouquinho menos pior pra gente. A mãe era também outra pessoa sem cultura nenhuma, ignorante no bom sentido, né? Que era dona de casa e fazia o possível e impossível pra cuidar da gente completando o que faltava em recursos materiais do meu pai e completando também o que faltava da ausência dele como mãe em casa. Então, ela era aquela parte importantíssima da família, ela completava os dois lados. Digo completar em recursos materiais por quê? Porque minha mãe fazia horta em casa pra fazer verdura, criava galinha pra vender ovos, galinhas. Ela fazia pastel para eu vender na rua; já com 11, 12 anos de idade eu saía com bandeja de pastel pra vender nas cidades. E ela completava o orçamento com isso, fora o que já conseguia de recursos pra gente comer do próprio quintal, vários tipos de verduras, frango, ovo, ela completava com isso. E no resto ela ficava conosco à tarde, não tinha televisão naquela época, então, pegava a luz da vela e fazia imagem na parede com a mão pra gente se divertir e brincava, aviãozinho de papel, as coisas do tempo antigo, né? Minha mãe foi uma pessoa especial, mora do meu lado até hoje, ainda é especial. Ela se preocupa comigo até hoje, eu sou um bebezinho. Minha esposa sai, vai fazer três horas fora de casa ela já vai lá pra casa pra ficar comigo, com medo de eu ficar sozinho (risos)
P/1 – Roberto, e lá em Prata você tinha uma turma de amigos?
R – Não, isso não me recordo muito bem. Eu me recordo mais do ambiente em que meu pai frequentava do que propriamente a minha turma de amigos. Eu tinha meus colegas de escola, mas não recordo de nenhum em especial
P/1 – E quanto tempo vocês moraram em Prata?
R – Três anos
P/1 – Três anos. Então aí também são as primeiras lembranças de escola?
R – Sim. Minha primeira lembrança de escola
P/1 – O que você lembra assim?
R – Na verdade todos os paulistas que começaram o curso primário naquela época, década de 60, começaram com Caminho Suave, todos conhecem esse livrinho, Caminho Suave. Eu comecei já com uma outra cartilha, que era a Cartilha Abreu Sodré, que eles chamavam, que lá era diferente. Lembro que entrei na escola, isso é uma coisa que me marcou muito, e a professora todo dia escrevia alguma coisa em cima, na lousa, que eu não sabia o que era. Todo dia ela escrevia alguma coisa na lousa que eu não sabia o que era. Lá quase no final do segundo ano que eu fui saber que ela escrevia local, data (risos). Era Prata, tanto de tanto de 1900 e tanto, Minas Gerais. Ela escrevia em cima na lousa, todo dia ela escrevia a data e a gente não sabia o que era. Então você entrava no primeiro ano primário completamente analfabeto, eram raríssimas as crianças que entravam no primeiro ano primário sabendo ler e escrever, ou com noções de letra. Hoje eu vejo o meu neto, por exemplo, ele entrou no primeiro ano primário, ele já sabia tudo, já lia livro, já tinha lido dois livros, quando entrou no primeiro ano. Ele está na quinta série hoje e já leu mais de 40 livros, então é uma coisa absurda, a diferença. Eu lembro disso
P/1 – E você gostava de ir pra escola? Ou você tinha resistências?
R – Eu gostava da escola, mas eu tinha um trauma, e isso até hoje eu me lembro. Trauma a gente lembra sempre, né? Na hora do intervalo eu não tinha lanche e as outras crianças tinham lanche. E eu só não passava uma vergonha maior porque naquela época o pátio da escola era separado, as meninas ficavam de um lado e os homens ficavam do outro, embora já tivesse classe mista. Mas no pátio, no recreio, era separado, as meninas iam prum lado, os meninos iam pro outro, a gente não brincava junto. Então eu ficava assim, de olho no lanche dos outros meninos, um pão com ovo, que naquela época não tinha esse negócio de saquinhos, monte de baboseira que a molecada leva hoje, né? Então era uma coisa feita em casa, um bolo, pão. E eu não tinha. Então isso me traumatizou um pouco
P/1 – E essa escola era próxima da casa de vocês? Como vocês iam?
R – Era muito próxima, a cidade muito pequena. Prata é uma cidade muito pequena até hoje. Mas uma cidade que tenho muito no meu coração
P/1 – E como foi a notícia de se mudar de Prata?
R – Pra nós não importava muito, nós mudávamos sempre. Meu pai não tinha esse negócio de falar: “Olha, o mês que vem nós vamos mudar”. Não, não existia isso. Ele chegava de manhã e falava assim: “Mulher, arruma as coisas que nós vamos mudar hoje de tarde”. E a minha mãe: “Pra onde nós vamos?” “Ah, nós vamos pra tal lugar”. Nunca tinha ouvido falar, mas era uma cama, um guarda-roupa velho, uma mesa com quatro cadeiras e acabou, não tinha mais nada. Não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha televisão. Não tinha nenhum produto elétrico, liquidificador, essas coisas, não tinha nada disso. Então era pegar as duas cadeiras, a mesa, encostar lá, desmontar a cama, pegar um colchão de capim e encostar no canto e ele chegava com um caminhão, jogava aqueles móveis pra cima da carroceria do caminhão. Aí daqueles dois terços da carroceria pra trás ia de engradado de galinha, flores, um tambor de gasolina desse tamanho porque naquela época não tinha postos de gasolina como tem hoje na cidade, você rodava 400, 500 quilômetros sem ver um posto, então tinha que levar um tambor de gasolina na traseira do carro. Era o tempo dela preparar uma caldeirão de farofa pra gente comer no meio do caminho, fazia lá uma, duas galinhas com farinha, botava num caldeirão, levava dentro do carro pra gente comer na estrada e sabe lá Deus pra onde a gente tava indo. Chegava no tal lugar. “Ah, é essa a casa que nós vamos morar?”. Joga tudo pra dentro (risos). É assim, mudança nossa avisa de manhã, de tarde tava mudando. E eram mudanças longas, mudanças, às vezes, de percursos muito grandes. Por exemplo, do Prata nós fomos parar em Andradina, aqui no estado de São Paulo, perto de Araçatuba. De Andradina nós viemos pra Registro, quase 500 quilômetros de distância, então eram distâncias enormes, mas não tinha tempo ruim, não. “Vamos mudar”, todo mundo ficava alegre, “Oba, vamos mudar”
P/1 – Já era uma farra, né?
R – Já era uma festa. Tem os aspectos positivos e os negativos, né? Os negativos são que você não cria uma raiz, uma história, aqueles amigos de infância. “Poxa, esse meu amigo aqui nasceu, cresceu comigo”, você não tem esse vínculo. E a parte positiva é que você conhece muito, você cria uma cultura enorme, cada cidade tem um regionalismo, uma cultura própria. Quando você vai em alguma regiões, por exemplo Registro, colônia japonesa, você cria um conhecimento da região. Outro lugar é criação de gado, outro lugar é agricultura. Então você vai adquirindo conhecimento de todas as áreas, embora não pareça, criança, pensa que ela passou despercebida, não, ela guarda todas essas informações, essa cultura adquirida no decorrer dessas viagens
P/1 – E tem também a coisa da adaptação que você falou, né? Na escola. Porque aí ficam uns anos meio entrecortados. Como era isso?
R – Tem um lado muito legal disso, você perde a vergonha. Porque a criança tímida, por exemplo, ela tá sempre com a mesma turma, inclusive as escolas de hoje em dia estão fazendo o possível pra renovar as salas, cada ano troca os alunos de sala, exatamente pra você ter contato com mais gente. Mas antigamente não se fazia isso, você tinha aquele feudozinho, aquela classe que você ia primeiro, segundo, terceiro, quarto ano primário, depois primeiro, segundo, terceiro, quarto ano ginásio, colegial, tudo a mesma turma. Então você ficava fechado, você não se expandia. E no caso nosso de mudanças, cada ano eu tinha que encarar uma turma nova, um jeito de falar diferente, uma cidade diferente, e você tinha que se enturmar em questão de uma semana porque no ano seguinte você tinha que fazer isso de novo. Então, ou você aproveitava rápido aquele um ano, perdia-se, né?
P/1 – Vocês foram ficando experientes nisso também
R – Em conhecer, chegar e já tomar conta da festa, isso é conosco mesmo (risos)
P/1 – E que matérias você gostava de estudar?
R – Eu sempre me dei melhor na área de Exatas, Matemática. E depois no fim fui fazer Jornalismo (risos). Mas a questão do Jornalismo é uma questão que talvez depois eu explique melhor. Isso é de família, minha família toda é de jornalistas, tanto por parte do pai quanto da mãe. Os sobrinhos, primos, todos eles são jornalistas. Até quando eu terminei o curso técnico de Eletrônica, eu fiz, você vê, eu gostava de Exatas, fui pra Eletrônica, a minha tia, Helena de Grammont, que foi compositora, tem muitas músicas gravadas, mãe da Elena de Grammotn que trabalhou no Fantástico por muitos anos, mais de 20 anos. A minha tia, por ter todos os filhos jornalistas, ela queria que eu fizesse Jornalismo também, disse até que pagaria a faculdade, mas eu quis ir pra Eletrônica. Aí depois de deficiente é que a vida me levou pro Jornalismo. Eu te conto isso mais tarde
P/1 – E essa época do curso de Eletrônica, que cidade que era?
R – Aí já São Paulo
P/1 – Aí já é São Paulo
R –Aí já tinha vindo pra São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 15 pra 16 anos
P/1 – E como foi sua chegada em São Paulo?
R – Ah, chegada em São Paulo foi assim, um misto de muito medo
P/1 – Você veio sozinho? Você veio como?
R – Vim com meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre andava a turma. A gente armava e desarmava a barraca juntos
P/1 – Todo mundo junto
R – Todo mundo junto, família unida. Nós viemos todos juntos pra São Paulo. Então, meu pai tinha muito medo porque São Paulo é um monstro pra gente, sempre moramos em cidade muito pequena, não morávamos em cidades médias como Campinas, Jundiaí, não. As cidades que a gente morava eram cidades pequenas mesmo. Então vir pra São Paulo, eu não consigo fazer uma comparação, sabe? A gente nunca tinha pensado em ônibus urbano, não existia isso nas cidades em que a gente morava, pegar ônibus pra ir em tal lugar. Era tudo muito diferente isso, foi MUITO diferente. Medo de atravessar a rua, medo de assaltante, medo de tudo, de assassinato, medo das pessoas, a gente achava que quem morava em São Paulo era mais agressivo, eram pessoas mais frias, não tinha aquele contato íntimo. A gente ouvia falar que paulista não tinha amizade com o vizinho, morava em prédio e o cara não conhece o da frente, não conhece o de cima, nem o de baixo, desde o elevador sem falar nem bom dia, nem boa tarde, que isso, infelizmente, acontece até hoje por uma falta de educação, não por ser paulista. No meu prédio eu faço questão de fazer todo mundo se cumprimentar. Eu intermédio o cumprimento, sabe? Bom dia, bom dia! Sabe? (risos). Então esse era o medo. E depois esse medo foi vencido por uma questão de arrojo, de coragem. Eu tive que criar muita coragem pra enfrentar os moleques de São Paulo
P/1 – Que bairro era que vocês foram morar?
R – Nós fomos pra Guarulhos
P/1 – Guarulhos
R – Que é São Paulo, né? Junto
P/1 – Claro
R – Mas aí eu tive que criar muita coragem pra enfrentar os meus colegas de ginásio; eu vim no meu primeiro ano de ginásio, o que seria hoje a quinta série. Por que eu tive que enfrentá-los? Porque eu cheguei com uma roupa meio diferente, embora houvesse uniforme, mas você pegava um tênis branco com meia preta, fazia aqueles escândalos assim, você não tava muito aí porque usava só chinelo no interior. E aí você chega e começa com aquele poRta. Pra quê? Os moleques começaram: “Caipira, caipira”. Caipira daqui, caipira dali, aquilo me incomodava. E aí eu tive que partir pra agressão, eu tive que começar a enfrentar os caras na porrada mesmo. E tive que começar a desafiar e impor a minha condição, sabe? Começaram a fazer um tipo de exclusão pela condição minha de caipira, da qual hoje eu me orgulho demais. E eu tive que brigar muito, briguei muito no ginásio, nossa! Brigava muito. Toda semana era uma briga
P/1 – Mas briga mesmo de sair?
R – Briga mesmo, briga de pancada, de porrada mesmo, de ficar vários minutos ali trocando pontapé e tapa e soco de tudo quanto é lugar. E cheguei vez de enfrentar mais de um, apanhava, batia, sabe? Mas não corria. Foi até o momento que se chegou a um denominador comum. “O cara é bom, vamos parar de encher o saco dele por causa do ‘poRta’”. Aí fizeram amizade, adquiri muitos amigos no ginásio. E depois de amigo, de vez em quando eles chegavam e falavam assim: “Ô pir corococó” (risos). Mas aí eu já dava risada e me acostumei com essa condição, vi que eu trazia uma bagagem cultural que eles não tinham. E de repente eles começaram a ficar curiosos pra saber das minhas andanças, das minhas histórias, e aí eu comecei a me empolgar, comecei a ficar mais feliz em ser o motivo da curiosidade deles, eles querendo saber. Porque hoje a molecada de São Paulo viaja muito pro interior, os pais têm sítio, chácara, eles têm uma convivência um pouco maior com o mato. O paulista começou a sair um pouco mais. Mas naquela época os paulistas eram paulistas, não saíam pra lugar nenhum, o máximo era Santos, eles não tinham conhecimento nenhum de nada. Então eles eram curiosos, perguntavam como eu brincava no interior. Quando eu falava que eu pulava de um cipó, cipó mesmo, não era corda, eles não sabiam nem o que era um cipó, eu tinha que explicar pra eles o que era um cipó e caía dentro de um rio, saía nadando e com a roupa que eu tava brincando eu continuava, não precisava trocar de roupa pra fazer isso porque o paulista tem que trocar de roupa, tira a cueca, por a sunga. No interior não, é a roupa que você usa você nada, e a roupa que você sai do nado você usa, é a mesma, né? E isso era muito interessante pra eles
P/1 – E quando acabou o ginásio você continuou na mesma escola ou não?
R – Não, aí eu fui pro colégio técnico
P/1 – Aí que foi a Eletrônica
R – Aí eu fui pro Lavoisier no Tatuapé
P/1 – E essa decisão foi sua?
R – Foi minha. Meu pai não interferia muito, meu pai sempre deixou a gente muito livre pra fazer. Ele orientava, ele até castigava quando a gente saía, corria fora das orientações dele, mas ele deixava a gente decidir, nunca interferiu em nenhum aspecto
P/1 – Aí você falou: “Não, vou fazer Eletrônica”
R – Fui, fiz o colégio Técnico de Eletrônica. Comecei a trabalhar já na Eletrônica, na Philco, já vem uma história. A Philco é uma empresa que marcou muito em São Paulo. Na época que eu entrei, 1974, mais ou menos, eu entrei na Philco ali no Tatuapé, a Philco tinha mais de 12 mil funcionários trabalhando ali, uma cidade. Hoje você vê cidade do interior com 14, 15 mil pessoas, a Philco naquela época tinha mais de 13 mil pessoas trabalhando lá, era um mundo lá dentro
P/1 – O que você fazia?
R – Eu era da parte do Controle de Qualidade da televisão colorida, que nessa época era o espetáculo da eletrônica aqui no Brasil. Não existia nada, nada mais avançado eletronicamente do que uma televisão colorida. Nós não tínhamos computador, não tínhamos absolutamente nada. O máximo em tecnologia era uma televisão colorida. Eu trabalhava no controle de qualidade da televisão colorida da Philco; fiquei de 73 a 78 lá
P/1 – Mas aí você era bem jovenzinho, né? Cursando o colégio
R – Tinha 19 anos quando entrei lá
P/1 – Mas aí você já tava quase concluindo o curso técnico
R – Eu atrasei bastante a escola por causa dessas mudanças. Teve repetição, a gente não passava todo ano não. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já com uns três anos atrasado na escola, o que naquela época não era muito incomum, Hoje, se você pegar um garoto com três anos de atraso ele fica com uma defasagem, até mesmo de altura, porque as crianças não repetem até no colégio estadual e municipal não repete, passa, com zero passa, com um passa, com dez passa, todo mundo passa, né? E em colégios particulares geralmente passam não sei como, mas passam. Mas naquela época se repetia, você não tinha capacidade de passar você repetia. Então acontecia muito de você pegar garotos, hoje vamos colocar você tem 11 anos você tá no quarto ano, no quinto. É assim, todo mundo que tem 11 está na quinta série, todo mundo que tem dez está na quarta série, é quase um padrão. Naquela época não, naquela época você pegava cara de 14 na quarta série, 13, às vezes dez na quarta série, tinha aqueles prodigiozinhos que passavam todos. Era tudo muito misturado essa questão de idade, de tamanho
P/1 – Roberto, como foi pra você essa fase de adolescente? Já tendo o primeiro emprego, como é que era?
R – Bom, a primeira coisa que eu pensava quando eu adquiri o emprego era em ajudar a minha casa. A gente continuava na condição de pobre ainda, em São Paulo. Meu pai trabalhava no Dner, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, hoje chama-se Dnit, e ganhava um salário muito baixo. E você vê que interessante, por pura desinformação porque o meu pai tinha direito a um salário do Exército, de primeiro tenente, desde que ele veio da guerra só que nunca foi divulgado, nunca foi dito e ele também nunca teve a menor ideia de que isso poderia existir e era um salário super bom. Nós vivemos a vida inteira na pobreza com direito a um salário grande. Só depois de eu adulto é que nós fomos descobrir isso e reinvindicamos pra minha mãe o salário do Exército que meu pai tinha direito. Mas então eu trabalando na Philco, eu pensava em dar uma qualidade de vida boa. Meu irmão começou a trabalhar, comprou a primeira geladeira; eu comecei a trabalhar e comprei um televisor colorido pra casa, que era um espetáculo, nós estamos na lua com televisão colorida em casa. Começava a funcionar meio-dia a televisão naquela época, das onze ao meio-dia você ficava vendo aquele símbolo do indiozinho da TV Tupi aquecendo os aparelhos deles lá. Mas era muito gostoso. Aí eu comecei a ajudar minha família. Depois de um ano e meio comprei meu primeiro carro, que obviamente foi um fusca, todo mundo comprava fusca naquela época. Depois de mais um ano eu fui no Mappin comprar meu primeiro TKR, que era o toca-fita coqueluche da época, que a gente fazia instalação de som, auto falantes atrás, cortava com faca o negócio, puxava os fios por baixo do tapete do fusca e saía tocando Rita Lee, Black Sabbath, The Who (risos), Alice Cooper, fazia um barulhão na cidade enorme, vibrava tudo, quase caía. Pra nós era um som maravilhoso
P/1 – E o que vocês faziam nessa época de juventude, de diversão?
R – Baile. Barzinho com os amigos, não tinha nada específico. Barzinho com os amigos, encher a cara, tomar uma Piperman, a bebida da época, um líquido verde que, nossa senhora, aquilo é doce que é uma desgraça, com cachaça, pobre tinha que tomar cachaça. E depois baile. Geralmente os bailes eram na casa de algum amigo com aquelas vitrolinhas Delta com LP, que toda hora de vez em quando a agulha fazia zuuuu, você parava de dançar Johnny Rivers tocava a noite inteira o mesmo disco, compacto duplo, virava, tocava de novo, virava, tocava de novo, todo mundo dançava. O gostoso era estar ali com as meninas dançando, com os amigos tomando um Piperman, uma Cuba Libre, alguma coisa desse tipo. E baile, algumas vezes, uma vez por mês ou duas vezes por mês, no salão, aí já era conjunto, naquela época não tinha bailes com esse som gravado, era baile conjunto mesmo. E geralmente final do baile era final de briga, a gente quebrava o pau dentro do baile, saía todo mundo na mão, não tinha medo nenhum porque ninguém tinha revólver, não tinha faca, não tinha nada, o máximo que acontecia era uma cadeirada na cabeça (risos). A gente brigava bastante também
P/1 – E namorar? Você namorava muito, era muito namorador?
R – Não. Até eu conseguir tirar aquele trauma do pir corococó demorou um, dois anos. Eu cheguei com 15. Eu me apaixonei por uma garota e essa paixão demorou uns dois anos de paixão. Mas ela tinha 13
P/1 – Ela era da escola?
R – Da escola. Aí quando ela completou 15 anos, ela disse que começaria a namorar com 15 anos. Eu fui, falei com o pai dela, pedi em namoro e nós demos um selinho. Isso. E a semana seguinte ela desmanchou o namoro, eu acho que foi por causa do selinho, né? Acho que ela queria algo mais (risos). E eu, o máximo que eu conhecia era isso, não sabia que o beijo tinha que abrir a boca, não sabia dessa história, me contaram isso mais tarde (risos). Eu perdi a namorada. Aí por causa do trauma de perder a namorada eu comecei a brigar com todo mundo, a minha mãe falou: “Vai procurar um centro”. Aí eu fui parar no centro de umbanda, pra ver que tipo de macumba estava em cima de mim (risos). Porque eu tinha perdido a namorada, porque eu tava brigando com os amigos, porque eu tava brigando no serviço. E lá a macumba acabou porque eu conheci uma morena, cabelo abaixo da cintura, foi minha segunda namorada. Ela começou a olhar pra mim, aquele olhar de te enfeitiço, né? E eu comecei a olhar pra ela com olhar de quero ser enfeitiçado (risos), e é minha esposa até hoje
P/1 – Como que ela chama?
R – Luzia. Então ela praticamente é minha primeira namorada. Comecei a namorar com ela eu tinha 18, ela tinha 17 e nós estamos, completamos 30 anos de casados, foram seis de namoro
P/1 – Seis anos de namoro
R – É. Foi um de namoro e cinco de noivado
P/1 – E aí vocês casaram
R – Se você queria aproximar um pouquinho mais, dar uma coladinha no corpo um pouquinho maior, você tinha que estar com aliança no dedo, né? Então, se é esse o problema põe a aliança no teto porque eu quero é me aproximar (risos). Ficamos noivos por cinco anos
P/1 – Então vocês casaram jovens também
R – Eu casei com 24, ela 23
P/1 – E como foi esse casamento?
R – O começo foi bastante difícil. Porque nesse período em que eu namorei a Luzia, os seis anos, foi o momento em que eu me senti o adolescente, entendeu? Aí eu comecei a sentir mais a noite, comecei a sentir mais os amigos, comecei a sentir mais o prazer de ter muitas pessoas ao meu redor; de de repente sair com mais alguém, tal. Comecei a ir pra noite com os amigos. Então foram seis anos de namoro em que eu largava o namoro e ia pra farra com os amigos. Então quando eu me casei, eu tava muito acostumado com isso e foi difícil dar esse retrocesso, foi muito difícil dar esse retrocesso. Eu não saía mais com outras mulheres, mas saía com os amigos pra beber. E ela teve que ter muita paciência comigo. Os primeiros meses de casado nosso foi assim, sabe, desquita, não desquita, separa, não separa, todo dia uma dúvida. Até que acontecem algumas coisas na vida que são muito legais. Eu me casei em setembro de 79, no carnaval de 1980 eu me queimei inteiro. Eu fui botar fogo no mato, fui jogar um galão de gasolina e o galão explodiu, pegou fogo no corpo inteiro; saí como uma tocha no meio da rua e aí eu tive que ser internado. E eu era um cara muito orgulhoso, mesmo casado, o banho meu, ou a hora de eu fazer minhas necessidades, era porta trancada. Sempre fui um cara assim, fechado comigo mesmo. E aí, eu queimei os dois braços, o rosto, teve que enfaixar tudo. Aí ela tinha que fazer o quê? Tinha que me dar banho, né? Aquilo pra mim era irritante. Eu ia ao banheiro, ela tinha que me limpar, aquilo pra mim foi o caos, né? Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso uma semana ela tendo de fazer isso que a minha hemorroida explodiu. Além dela me limpar, ela tinha que me limpar com cuidado e tinha que fazer curativo. Aí eu fiquei com ódio do mundo. Nessa época, inclusive, veio uma pessoa e falou pra mim assim: “Ah, fizeram macumba pra você. Botaram um braço de cera enrolado numa folha de bananeira e tal e tal”. Eu falei: “Meu Deus, quem será o desgraçado que fez isso comigo? Puxa vida, não precisava me queimar”. E passou seis meses praticamente para eu voltar a reconstituir toda a pele. Passados muitos anos, depois que eu entrei no kardecismo, tal, eu encontrei com essa pessoa novamente por acaso. Eu falei: “Você se lembra daquele negócio meu, da queimadura? Você lembra que você falou pra mim que era macumba?” Ele falou: “Lembro”. Eu falei: “Pois é, rapaz. Era mesmo. Era mesmo. Macumba. E hoje eu sei quem era o macumbeiro” “Você tá brincando? Você descobriu quem era o macumbeiro?” “Descobri, e é um cara que você conhece. E muita gente conhece” “Quem?”, eu falei: “Deus. Macumbeiro danado esse Deus. Deus é macumbeiro. Ele faz umas macumbinhas pra você de vez em quando, que meu, dá um resultado incrível. Aquela queimadura salvou meu casamento”. O cara começou a rir, eu falei assim (interrompido)
TROCA DE FITA
R – Deixa só eu concluir esse pensamento? Então, eu disse pra esse meu amigo: “Deus é macumbeiro”. A gente tem que ter um filtro no olhar, sabe? E de repente um sistema de controle de qualidade do cérebro pra você não se deixar se desviar praquilo que é a tendência normal do ser humano, olhar o aspecto negativo, sempre achar que tudo tá ruim, sempre achar que vai dar errado. Então, se você botar esse mecanismo de qualidade no seu cérebro e um filtro no seu olhar, você começa a ver as coisas com uma procedência melhor, com um objetivo mais ético, mais justo, e você começa a ver o mundo um pouco melhor do que as pessoas aparentemente acham que ele é. O mundo é bom, basta você enxergá-lo desta forma. Eu falei, então eu enxerguei dessa forma. Deus mandou aquilo, salvou o meu casamento. Poxa vida, olha que legal, que bom aquela queimadura. Foi uma dor por uma semana? Poxa vida, passaria por 50 dores dessa se ele tivesse o resultado que deu. A dor é sempre um mecanismo de elevação, é sempre uma ferramenta de evolução, ela é uma alavanca pra você crescer. A dor funciona dessa forma, você não pode ver a dor somente como uma coisa: “Ah, doeu, fez eu sofrer”. Não, a dor tem sempre um objetivo: te levantar, fazer você progredir. Se não houvesse a dor, nós estaríamos morando nas cavernas
P/1 – A gente cresce nas dificuldades, né?
R – O homem só cresceu por causa da dor
P/1 – E o que mudou esse acidente pra salvar o casamento de vocês?
R – Mudou porque aí eu tive que reconhecer que a minha esposa era uma mulher dedicada, que ela me amava, que ela estava ali pro que desse e viesse, embaixo de reclamações, de xingamento, ela tava cuidando de mim, entendeu? Que ela parecia ser assim, aquela companheira que ia enfrentar as boas e as más horas fosse qual fosse o tempo. E eu reconheci nela esse potencial de esposa, reconheci nela esse potencial de companheira, vi o amor que ela tinha por mim e comecei a me cuidar um pouco mais com relação às minhas liberdades
P/1 – E aí logo depois que veio o primeiro filho?
R – Aí ela já tava grávida
P/1 – Ela tava grávida?
R – Meu filho nasceu em cinco de outubro, isso aconteceu em fevereiro, ela já tava em início de gravidez
P/1 – E como é o nome do seu primeiro filho?
R – Rafael Rodrigues de França Rios
P/1 – Rafael. E o que trouxe a vinda do Rafael?
R – Ah, foi maravilhosa. Comentei essa semana ainda que parece que o Rafael veio pra mudar as coisas em casa. Porque no ano de 1980 eu comecei assim, fevereiro eu me queimei, demorei uns dois meses pra me recuperar; em junho eu bati o meu carro, eu tinha uma Brasília que na época era um puta carrão, Brasília hoje ninguém quer, bati minha Brasília que eu arrebentei, perdi tudo, naquela época não tinha seguro. Depois eu perdi o emprego, em setembro. Quando o Rafael nasceu, em cinco de outubro, eu consegui emprego em seguida e a minha vida começou assim como que um tapete, ele veio assim: “Poxa, eu vim aqui pra dizer pra vocês que os problemas acabaram, tá? Vocês enfrentaram um ano de maré, eu cheguei”. Eu vejo assim o nascimento do Rafael. Eu até escrevi algumas coisas pra ele, eu escrevi: Deus sorriu mais uma vez hoje porque certamente nessa data nasceu mais um que lhe será devoto
P/1 – E depois do Rafael? De filhos?
R – Depois foi a Carolina, esperamos aí uns três anos, um pouco mais. A Carolina tá com 26, depois mais três anos veio a Juliana
P/1 – Que é a caçula
R – Que é a caçula. Todos estão formados, graças a Deus, inclusive com pós, já está tudo feito na família
P/1 – E você falou que quando o Rafael nasceu, 1980, você mudou de trabalho
R – Mudei. Nessa época eu estava já como chefe de compras na Sharp. A Sharp estava explodindo no Brasil, estava entrando com muita força nessa época. Inclusive foi uma frente bastante grande com as outras marcas de televisão, que era Philco e Philips, que tinha nessa época. A Sharp entrou desbancando todo mundo. Eu tava como chefe de compras na Sharp, aí eu saí e fui pra Elebra, que era a primeira fábrica de impressoras do Brasil, aquelas impressoras matriciais, fui pra lá
P/1 – E depois que você terminou o colégio técnico você não teve mais vontade de estudar?
R – Eu entrei na faculdade de Administração, mas por conta do excesso de trabalho eu parei. Porque eu era assim, eu nunca me contentei em fazer uma coisa só, eu sempre me meti em muitas coisas. Então, eu me metia na associação de amigos de bairro, eu me metia lá na associação do vamos salvar a tartaruga, vamos canalizar o rio. Trabalhava na religião, fazia palestra. Trabalhando eu montei pra mim uma industriazinha de plástico, então eu saía do meu serviço às cinco horas, eu ia pra minha indústria, cuidava da injeção de plástico. Eu fazia sola de calçados, tive uma indústriaque cresceu até bastante. E no início do segundo ano de Administração eu parei, não dava mais pra ir. Não tinha jeito, eu faltava muito por conta do trabalho e parei. A atividade escolar, depois eu fiz muitos outros cursos pequenos, cursos de três meses, seis meses, mas não fiz graduação
P/1 – E nessa época do nascimento do Rafael e depois das meninas onde vocês moravam?
R – Bom, pra não perder o costume da infância eu mudei muito. Eu casei e fui morar em Guarulhos. De Guarulhos passei um ano e pouco, mudei pro Jaçanã, São Paulo. Aí passei mais um ano e meio, mais ou menos, mudei pra Guarulhos de novo, lááá no Jardim Maia, Guarulhos. Lá depois eu mudei de bairro novamente, fui pra Vila Galvão. Depois eu mudei pro Jaçanã de volta e adquiri uma casa no Jaçanã. Depois eu mudei pra Santana, onde estou até hoje
P/1 – Mas a infância dos seus filhos foi no Jaçanã?
R – É, Guarulhos, Jaçanã, mas mais Jaçanã porque o meu sogro e minha sogra moravam no Jaçanã, então a gente passava praticamente todo fim de semana no Jaçanã. Jaçanã, velho de guerra, do Trem das Onze. Parecia uma cidade do interior que quem conheceu o Jaçanã de 40 anos atrás, 30 anos atrás, tem razão em ver a poesia da música do Adoniran porque realmente aquilo ali era uma coisa magnífica, o Jaçanã funcionava quase como uma cidadezinha independente, sabe? Era um bairro de São Paulo muito ligado, mas ali todo mundo se conhecia, tinha aquele barbeiro da vila que ali você sabia da fofoca de todo mundo, na barbearia que você faz as suas fofocas, né? Como o cabeleireiro da mulher hoje, lá que vocês fazem as fofocas (risos). O barzinho que todo mundo frequenta, que tem a mesinha de bilhar ali, o pessoal descalço, de shorts, vai jogar um bilharzinho ali. Pessoal sentava na pracinha pra bater um papo, as crianças brincando. Então ali era realmente uma cidadezinha do interior. Mudou muito, teve muita invasão, teve muita chegava de pessoas estranhas e voltou a se misturar com a cidade grande. Hoje tem criminalidade, roubo, droga, tem tudo, infelizmente o Jaçanã perdeu aquela característica daquela cidadezinha interiorana
P/1 – E como é que você acha que você se descreveria como pai?
R – É difícil fazer uma autocrítica, é complicado
P/1 – Ou não
R – Bom, eu digo pra você o seguinte. Nunca fui extremamente carinhoso, talvez por conta da infância, mas sempre dediquei todos os fins de semana da minha vida à minha família, todos. Nunca tive aquele lance do ‘vou jogar bola com os amigos’ ‘vou jogar bilhar’ ‘vou pescar’, passa fim de semana fora, passa uma noite fora pescando. 80% disso é mentira, sabe? O pessoal não vai jogar bola nada, pescar nada (risos). Eu sei porque eu tinha muitos amigos que iam pescar sábado e voltavam no domingo. Mas eu nunca fiz isso, nunca fui pescar fora, nunca gostei de pescaria. Morei no interior e nunca pesquei. Não tinha esse negócio de jogar bola. Se ia a algum churrasco de alguém ia a família inteira, mulher e os filhos. Todo lugar que eu ia, ia mulher e os filhos. Nunca gostei de passar nenhum momento do fim de semana longe dos meus filhos. Ou era dentro de casa ou em algum lugar que a gente fosse curtir ali, fazer um churrasquinho, fazer um lanche na praia, pegava o carro e ia lá pro lado de Ubatuba, naquela época ainda era meio deserto. Mas sempre junto com as minhas crianças, sempre. Toda vida, no alto e no baixo, porque a minha vida financeira assim, era pobre, depois ganhei muito dinheiro, depois perdi tudo, fali, fui vender gelinho na feira, depois de ter tido uma indústria, depois de ter tido casa com piscina, com tudo, perdi tudo. Fui vender gelinho na feira, que a minha esposa me acompanhou, foi vender gelinho na feira também comigo. Então nesses altos e baixos a gente ou tinha de grana, ia curtir com os filhos o fim de semana ou não tinha grana e ia curtir com os filhos dentro de casa ou ia em algum lugar gratuito, zoológico, alguma coisa que a gente pudesse, mas sempre junto com os filhos. E tendo muito ou pouco dinheiro, quem cuidou do meu dinheiro a vida inteira foi minha esposa. Não tem esse negócio também de eu ter minha conta e dar o dinheiro pra ela fazer compras, sabe, esconder quanto eu tenho pra ela pagar tal prestação, aquele negócio que os maridos fazem e eu acho isso terrível. Se você tem uma parceira dentro de casa ela é parceira, não tem esse negócio de esconder. Então meu dinheiro é ela que cuida, eu que peço dinheiro pra ela, pra eu sair. Então tudo o que eu ganho é em casa, alguma eventualidade, algum prazer meu, ela me dá o dinheiro para eu fazer aquilo, comprar um vinho, ela sabe
P/1 – Roberto, só voltando um pouquinho. Depois dessas aventuras de indústria e tal, você perdeu tudo?
R – Perdi. Foi um negócio interessante porque foi o que eu te falei, quando eu casei eu casei assim, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, devendo até a cortina, até o terno que eu casei eu devia, sempre tudo no Mappin, 18 pagamentos, era praxe, tudo comprava no Mappin. Infelizmente acabou, uma pena, Mappin era uma história de São Paulo. Só que aí eu cresci. Trabalhando eu montei essa indústria que eu te falei de plástico e me deu um retorno muito grande. Eu cresci bastante, comprei uma casa grande, salão de festa, com piscina, adega. Naquela época não se falava em banheira, eu já tinha uma hidromassagem em casa, aquecedor central, não tinha naquela época, já tinha em casa. Era uma coisa fabulosa. E eu fali. Eu fali, perdi tudo, casa, carro. Desse salto, pra você ter uma ideia eu pegava minha esposa e falava assim: “Vamos almoçar?” “Vamos” “Onde?” “No Rio”. Ia pro aeroporto, pegava o avião e ia no Rio, almoçava, pegava um avião, voltava, sabe? Legal, né? De repente, um mês depois tá com um isopor do lado vendendo gelinho na feira (risos) pra poder comprar o pão
P/1 – E aí foi um processo de vender tudo
R – Foi um processo que novamente fez com que a gente ficasse mais próximo ainda, eu e minha esposa, porque a gente tinha que batalhar junto. Dali do gelinho, e a criatividade nessas horas é algo muito legal, que você tem que ter a criatividade pra você sair da situação ruim. Nunca me esqueço de uma vez que tava Rafael e Carolina, Juliana ainda era de colo, Rafael e Carolina sentados na mesa, com os pijaminhas deles, esperando o café da manhã e eu não tinha o pão. Aí eu falei assim: “Vocês já viram aquele filme de bang-bang muito legal, o pessoal acende a fogueirinha no meio de um campo lá, no meio do boi, pega aquela frigideirinha e faz aquela comidinha e toma aquela caneca de café?” “Ah, pai, que legal!” “Vou fazer isso pra vocês”. E aí fazia um feijãozinho, uma farinha, um arroz ali, uma pitadinha de massa de tomate pra dar cor no negócio e pá, tá!, no prato, igual o que o boiadeiro faz, né? Pega aquela colher e tá!, no prato, né? E eles comeram, tomaram uma canecada de café, ia lá, corria de um lado, mas iam felizes porque eles estavam curtindo aquilo. Então, você passa pela pobreza, também aquele filtro que eu te falei de ver a coisa de uma maneira legal e você cria, com jogo de cintura você consegue se sair legal. Daí do gelinho nós progredimos, fomos fazer tempero, pra vender na rua também. Minha mãe me emprestou um dinheiro, comprei uns cinco quilos de sal, 20 quilos de cebola, uns dez quilos de alho e aí nós começamos a descascar alho. Putz, você não sabe o que’e descascar dez quilos de alho (risos). Sai a pele da mão, aquilo tem um ácido desgraçado. Então, a gente moía tudo no liquidificador, tal. Primeiro era aquele moedor assim, depois comprou uma centrífuga e aí começamos a fazer tempero, misturava alho, cebola, sal, fazia uma composição bem legalzinha, tal, cheiro verde, salsa e começamos a vender de porta em porta. E você sabe que o negócio cresceu? E foi crescendo, foi crescendo. Porque tudo o que eu entro eu gosto de analisar o que eu to fazendo e estudar o que eu to fazendo. Então eu fui estudar sobre tempero, ver química. Pra você ter ideia, fazer um temperinho na cozinha da minha casa eu fui parar na casa de um diretor da Arisco pra pedir informação pra ele. Não aceitava um técnico, fui na casa do diretor (risos) da Arisco lá em cima, já virando quase multinacional e eu falando com o diretor que eu tava montando uma empresa de temperos, fazendo tempero e vendendo de porta em porta. Olha que ousadia. Aí nós começamos a fazer. E aí eu criei um rótulo, chamava-se Cheiro Verde meu tempero, com carimbo, carimbava os rótulos, pegava o vidro de palmito que a gente lavava bem, comprava tampa nova e tal. E a minha esposa cismou de colocar no mercadinho da vila, lá do Jaçanã. E as horas vagas ela ficava lá no mercadinho da vila com uma cestinha na mão e passava no meio do pessoal, via a mulher comprando o tempero, ela falava assim: “Ah, você já experimentou esse tempero? Esse tempero é uma delícia! Eu uso. Nossa, o pessoal começou a vender agora, há pouco tempo” (risos). E o pessoal comprava o tempero, começou a aumentar as vendas. Depois nós começamos a vender pra padarias, que eles faziam aqueles frangos e a gente vendia tempero pra temperar esses frangos. Porque aí eu fui fazer a análise, restaurante não comprava meu tempero porque os cozinheiros são muito orgulhosos, eles gostam do tempero deles. Se você falar: “Eu tenho um tempero diferente” é uma ofensa pra eles. Então esquece, você não vai vender tempero em restaurante. Cozinha industrial, o meu preço não dava. Os caras punham um tambor desse tamanho, bate aquilo tudo, o alho com casca, com tudo, faz aquele monte de tempero, não dava também. Então, o que me sobrava? Eu analisei e pensei, puxa vida, um dia parado na padaria: “Padaria”. Sabe por quê? Porque padaria precisa de tempero e eles não têm cozinha, nem cozinheiro. Eles têm padeiro. E comecei a oferecer o tempero pra padaria. E foi super bem-vindo, a gente vendia em potões de cinco quilos. Nossa, toda quarta, quinta-feira já começava a entregar. Eram 15 quilos pra uma, 20 quilos pra outra, dez quilos pra outra. Aí cheguei a comprar uma máquina de moer alho, aí não descasca o alho, você moe com casca e tudo
P/1 – E aí vocês começaram a ter uma pequena fabriquinha em casa?
R – Uma fabriquinha em casa. E eu vivi quatro anos disto. Quando eu voltei pra área de eletrônica, que eu montei um escritório com um amigo, eu já tinha até poupança. Devia ser uns cem reais no dia de hoje, mas tinha
P/1 – E aí depois você se desfez desse negócio?
R – Sim, aí eu voltei pra minha área de eletrônica. Quando eu voltei a situação era grave ainda, eu trabalhava das onze às seis e na hora do almoço eu passava aqui na região da Paulista, que o meu escritório ficava aqui perto, e passava pegando vidros de palmito que o pessoal utilizava: “Ah, tem vidro de palmito aí?”. Juntava num sacão, botava nas costas, ia lá no prédio, deixava na garagem, aí na sexta-feira eu vinha de carro, eu trabalhava de ônibus e metrô, na sexta eu vinha de carro, colocava lá dois, três, quatro sacos de vidros de palmito vazios e levava pra casa, passava o fim de semana lavando os vidros, trocando tampa, fazendo tempero e a gente entregava no domingo à noite ou à noite eu entregava durante a semana. Depois que eu voltei pra eletrônica eu continuei com o tempero mais um ano e meio, dois anos, por aí
P/1 – Fazendo as duas coisas
R – Fazendo as duas coisas. Aí eu me recuperei. Tenho saudades do tempo do tempero. Que era assim, três horas da manhã, quatro horas da manhã, eu e minha mulher estávamos moendo cebola na cozinha, sabe? A gente tomava uma cervejinha, batendo papo, moendo cebola, aí tomava banho. Na hora de deitar ela virava pra lá, eu virava pra cá porque ela cheirava a alho e eu a cebola (risos). No dia seguinte ela cheirava a cebola e eu cheirava a alho, a gente invertia pra não enjoar um do outro
P/1 – Dar um tempero na cama
R – É, não sai
P/1 – E aí você voltou pra área de eletrônica
R – Aí montamos uma empresa de importação. Eu entrei em 89 e fiquei até 97, fiquei oito anos nessa empresa. Começamos uma empresa do zero e essa empresa cresceu bastante, graças a Deus. Uma empresa que quando eu saí ela já estava com 40 funcionários trabalhando na área de produtos de informática, eletrônica, tudo crescendo. Nessa época eu viajava muito, eu atendia parte do Sul, eu atendia Porto Alegre, Curitiba, atendia Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu fazia essas viagens todas atendendo. Cresceu bastante a empresa, me deu um retorno financeiro muito bom. Mas foi aí que aconteceu o grande problema, né? E a grande sorte, a grande virada, o grande recomeço, eu posso colocar tudo como grande, o grande recomeço, a grande virada, a grande oportunidade, o grande tudo que acontece na minha vida, que eu fiquei paraplégico. Foi em 96, eu tava voltando pra minha casa e parei num semáforo, o bandido veio, encostou na porta do meu lado e encostou o revólver no meu ombro e gritou que era um assalto. Eu tinha uma mala do meu lado e eu tinha dinheiro na mala. Eu peguei a mala e virei, eram umas nove horas da noite. Eu acho que ele entendeu como uma reação e atirou. O primeiro tiro pegou no ombro, saiu aqui embaixo do braço direito e eu balancei. O segundo tiro pegou mais nas costas, pegou na oitava vértebra torácica, eu fiquei paraplégico. Aí foi um novo recomeço, um novo reconhecimento da esposa. Já tinha tido dois, a queimadura. Foi muito interessante que o primeiro mês em casa, eu fiquei dois meses no hospital. Voltando do hospital, minha saída do hospital, os enfermeiros, teve dois que não vieram se despedir de mim e os outros choraram porque meu quarto foi um mês e meio de festa dentro do hospital. Hospital São Luiz aqui na Avenida Santana. Um mês e meio de festa, mas festa, sabe o que é festa? Só faltava levar cerveja, vinho, balãozinho de gás. Porque a conversaiada, o dia que começava oito horas da manhã, era meia-noite e os enfermeiros tinham que tocar o pessoal do quarto porque ficava gente o dia inteiro, o dia inteiro. Dando risada, brincando, ficavam sentados na cama, outros sentados no chão. Abriam a geladeira, comiam. Quando chegava na hora do futebol o enfermeiro chegava e falava pra mim: “Olha, se o Corinthians marcar um gol você aperta o botãozinho de emergência que eu venho correndo”. Isso quando ele não ficava dentro do quarto assistindo o jogo do Corinthians, que eu odiava. E o meu quarto era uma festa, mas uma festa. Era o dia inteiro. A saída minha causou tristeza, eu acho que o pessoal queria que eu ficasse morando lá. Aí, como eu disse, depois que eu saí do hospital, no primeiro mês fazendo fisioterapia na AACD, dentro da piscina. Nunca me esqueço, o cara trouxe pra mim, eu comentando sobre a festa no meu quarto e a minha casa sempre cheia de gente, durante a semana à noite, sábado e domingo o dia inteiro. A minha mulher, foi o maior gasto que você pode imaginar de pó de café (risos). Nossa, tinha que fazer cinco, seis bules de café por dia pra turma. Graças a Deus que não era cerveja nem vinho, era café, mais barato. Eu comentando com esse cara, ele falou assim: “Aproveita isso agora porque você ficou paraplégico então é tudo curiosidade, os amigos estão em volta por curiosidade, todo mundo tá com dó. Mas depois eles vão te abandonando e até a sua mulher te abandona, você vai ficar sozinho”. Eu falei: “Obrigado, hein? Poxa vida, como você é bacana, como você entusiasma o cara. Você dá força de vida pra gente, viu cara?”. Eu falei pra ele,“Ótimo, guarda essa informação”. Infeliz dele que levou pro esse lado, infeliz dele. Depois, mais tarde, eu pensei comigo: “Realmente os amigos te abandonam, realmente a mulher te abandona, mas não por causa da paraplegia, você se tornar um chato”. Se você se tornar um chato, se você ficar reclamando o tempo todo: “Ah, eu fiquei paraplégico, ai, minha vida acabou, ai que dor, como eu sofro”. Ninguém aguenta isso, ninguém aguenta chato, não aguenta chato não andando e andando. Chatos tem diversas formas, né? Tem quem anda, tem que não anda
P/1 – Roberto, como você teve a notícia de que era realmente uma paraplegia? Porque tem aquele suspense
R – A notícia sobre a paraplegia eu recebi logo que eu saí da UTI e fui pro quarto. Eu recebi a informação de que eu estava paraplégico ou que as minhas pernas não funcionavam. Mas até então eu não tinha a menor ideia do que isso significava. Porque como a maioria, a gente não olha para os deficientes, não quer saber quem é o deficiente. O deficiente é uma sombra. Como o lixeiro é uma sombra. Como o garçom é uma sombra, como o manobrista é uma sombra. Já pararam pra conversar com o manobrista? Já pararam pra conversar com o cara que serve a carne ali, perguntar da vida dele, o que ele tá sentindo, falar obrigado? A maioria não faz isso. Já olhou lixeiro com os olhos de que ali existe uma pessoa muito importante pra cidade de São Paulo e muito importante pra sua vida? E você chegar e dar um abraço nele e falar: “Poxa cara, obrigado por você existir, obrigado pelo seu trabalho”. Com os deficientes é mais ou menos assim, funcionam como sombra, né? Eu não tinha essa ideia do que era. E falei: “Ah, tudo bem, depois eu faço fisioterapia, faço uma cirurgia aí, beleza”. E até quando eu fui pra casa na cadeira de rodas ainda não tinha noção dessa magnitude, tá? Foi logo que eu cheguei em casa, na primeira semana, eu vi um programa de televisão onde o cara disse, um paraplégico: “Você que tá paraplégico agora, que tá procurando esse doutor Fritz, tá procurando chazinho da Maria Joana, ervinha da Mãe Joaquina, esquece. Esquece. Você é paraplégico, você vai morrer paraplégico, a não ser que a Medicina descubra alternativas, a Ciência descubra. Então viva bem em cima da cadeira, você vai ficar na cadeira até morrer”. Ahhhh. Menina, quando eu ouvi isso eu chorei, aí eu chorei um dia inteiro. “Esse cara tá falando comigo. Esse filho de uma [mãe] está falando isso pra mim! Eu vou matar esse cara”. Mas esse cara fez um bem muito grande na minha vida porque ele falou assim pra mim: “Acorda, cara! Para de sonhar, para de olhar pra sua cadeira como se ela fosse um objeto estranho, uma coisa ofensiva à sua moral, alguém que te agride, ou ela tá ali pra te fustigar, ou ela tá ali pra te prender. Não, ela tá ali pra te libertar”. Ele não disse isso, mas você tem que entender isso. E aí eu olhei pra cadeirinha e falei: “Vem cá, cadeirinha” (risos). E vou viver bem em cima da cadeira. Foi aí que depois de uma noite de choro, eu tomava Rivotril, Tegretol, Tryptanol, todo aquele coquetel que deixa você mais pra lá. Chorei a noite inteira, acordei assim depois de um breve sono, acordei de manhã e minha esposa chegou com os remédios e eu falei: “Não vou tomar remédio”. Ela falou: “Por que não vai tomar?” “Não vou tomar mais” “Você não pode parar de tomar os remédios”. Isso não tinha um mês em casa. Eu falei: “Não vou mais tomar os remédios. Eu vou assumir minha vida, eu não posso ficar dependente disso. O Roberto sempre foi independente, por que eu vou ser dependente agora? Eu vou encarar minha vida”. Ela falou: “Mas o médico disse se você tirar esses remédios são muito fortes, se você tirar tem que tirar devagar”. Eu falei: “Então você faz o seguinte, você vai lá e joga um por um no lixo. Tira devagar”. E não tomo mais, e assumi minha vida a partir de então. Chamei meus filhos, os três, Rafael com 15, Carolina com 11, Juliana com sete pra oito. Os três. Consegui sentar na beira da cama, você não tem equilíbrio de tronco. E falei pra eles: “Olha, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é com relação a religião”. Porque desde que eles nasceram, toda vida eu fiz o Evangelho no Lar. Uma vez por semana chamo, faço o Evangelho, leio pra eles uma partezinha do Evangelho, explico, falo de Deus, falo com respeito ao próximo. Porque essa questão do orar a Deus, adorar a Deus é muito bonito, sabe, mas eu quero ver na prática. Esquece esse papo de orar a Deus, adorar a Deus, você tem que ver as relações interpessoais, você tem que respeitar seu próximo, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer a ele o que você gostaria que fizessem pra você, você tem que viver eticamente, cuidar de tudo. É mais ou menos nesse princípio que eu acho que a religião tem o papel fundamental. Então eu chamei e falei assim: “A gente fala de Deus. De repente vocês devem estar pensando assim: ‘Poxa, meu pai fala em Deus e aí Deus deixou ele tomar um tiro e ficou paraplégico? E Deus é ruim’. Não, Deus não é ruim. Esse Deus não é aquele velhinho barbudo, essa energia do universo, essa força cósmica, ela tem sempre alguma forma de te conduzir pra caminhos, de repente que sejam alternativos, mas que sejama de solução pra sua vida, que sejam novas experiências, que você tenha mais a acrescentar na sua vida E na vida dos outros. Então esse Deus, ele enxerga meu passado, futuro, lateral, sabe? Temporal e geograficamente ele enxerga mais do que eu. Se eu subir no mais alto da montanha, eu enxergo no máximo a próxima montanha. Deus enxerga o universo, as dimensões, enxerga tudo. E ele preparou alguma coisa pra gente, que eu não sei o que é ainda. Mas que nós, juntos, vamos cooperar com essa matéria, esse planejamento. Isso que Deus está querendo para nós, que nós vamos juntos lutar’. Aí todo mundo: ‘Ah, legal, pai, vamos, vamos’. Então vamos”. Coitados, eles nem sabiam a barra que iam enfrentar! “E vamos. ‘E segundo, eu sou o pai de vocês. Sempre cuidei, sempre alimentei, isso vai continuar. Vocês não vão passar aperto’”. E foi. Voltei pro trabalho, não tinha equilíbrio de tronco ainda, essa forma de você ficar na cadeira aqui exige um treinamento porque o seu centro de gravidade muda, o seu centro de gravidade é aqui. Então eu praticamente sou daqui pra cima em termos de equilíbrio, eu me equilibro. Aqui eu não tenho a alavanca, então é complicado. Eu não tinha ainda esse treinamento, voltei pro escritório, comecei a trabalhar. Tava fazendo algumas sessões com a psicóloga e na terceira semana de trabalho, eu lá nesse meu escritório de importação ainda, me estourou o uripen. O uripen, não sei se vocês conhecem, é quase como se fosse uma camisinha, se coloca no pênis, cola e ela tem uma ponta que você liga numa manguerinha que é colocado o coletor na perna pra incontinência urinária. Todo mundo fala uripen, ninguém sabe o que é uripen, uripen é isso. E me estourou esse uripen. E como eu não tenho sensibilidade, também não vi. E quando eu olhei o carpete tava todo molhado, eu tinha feito xixi no escritório. Mas eu caí no choro. Aí eu chorei, chorei, chorei, liguei pra minha casa, falei: “Mulher, fiz xixi em tudo aqui”. Passou 15 minutos, minha mulher chegou com saco de lixo, toalha, pano de chão, Veja, tudo o que você imaginar. E eu caí no choro, não teve jeito. Fui pra casa, fui para na psicóloga. Aí a psicóloga falou pra mim assim: “Você fez xixi no escritório?” “Fiz doutora (voz de choro)” “E daí, qual é o problema? Todo mundo faz xixi. Uns fazem xixi no banheiro, outros fazem xixi no mato, outros fazem xixi no muro depois que saem do baile, principalmente depois que toma cerveja, no poste. Você fez no escritório” “A senhora não tá me entendendo, eu fiz xixi no escritório” “Qual é o problema? Todo mundo tem que fazer xixi. E quando você fizer cocô?”. Eu falei: “Eu mato essa psicóloga desgraçada” (risos). Porque você não tem controle de nenhuma atividade fisiológica sua. Aí, pô, outra vez eu tive que tomar uma porrada na testa pra entender que a psicóloga tava dizendo: “Cara, esta é a sua vida! Cuide dela, encare-a”. E aí eu falei, bom, posso falar um palavrão? [Dane-se], é isso. A vida é assim? Vamos encarar. Já fiz xixi no carro, já fiz xixi no escritório, já fiz xixi fazendo palestra. Menina, que loucura! Você botar a mão na calça aqui, tudo molhado isso, no meio de uma palestra religiosa (risos). Doidice isso. Encarei, vamos embora, essa é minha vida. E aí voltei pro trabalho. Só que nesse escritório eu comecei a sofrer uma certa resistência por parte, não vou dizer discriminação porque eles me auxiliaram de outra forma, mas uma resistência por parte do pessoal em eu continuar trabalhando lá. Entãu tinha algumas observações do tipo: “Aqui não é filantropia, a gente não pode viver de passado”. E eu mesmo na cadeira de rodas cheguei e falei pro pessoal: “Pega a minha parte, faz o que vocês quiserem com ela e estou indo embora”. E fui, fui embora, fui tocar minha vida sozinho. Você vê só o que é a coragem porque todo mundo que é paraplégico quer se firmar no trabalho, eu não, eu joguei tudo pro alto e fui pra casa. E minha mulher falou: “O que você vai fazer?”. Eu falei: “Não sei ainda, mas eu vou fazer”. Aí montei uma loja de lingerie com ela, comecei a cuidar. Eu tinha uma reserva de dinheiro que um grande amigo pegou essa reserva de dinheiro pra construir um prédio, construiu metade, ficou com o dinheiro e sumiu com o dinheiro. Aí perdi tudo, fiquei zero de novo. Aí nessa casa do Jaçanã eu tive uma ameaça de invasão de alguns bandidinhos drogados, tal. E eu já na cadeira de rodas. Eu morava num sobrado, aí eu tive que mudar porque eu não queria mais ficar lá. Saí, vendi essa casa, comprei um apartamento com dívida, tudo assim. A loja tava começando, mas encarei tudo isso e tô bem, graças a Deus. E nessa época que eu fiquei paraplégico eu morava nesse sobrado. E aí, no começo você perguntou pra mim como tinha se dado a questão do Jornalismo. É aí que entra a questão do Jornalismo. Como eu era palestrante no centro espírita, eu com um mês, um mês e meio de paraplegia eu fiz uma palestra, ainda também sem equilíbrio de tronco. E o pessoal da Rádio Boa Nova, que é uma rádio da Fundação André Luiz, é uma rede de rádio muito grande, ouviu falar sobre mim e me convidaram pra uma entrevista em um programa de rádio. E eu fui. Só que a pessoa, seu Amilcar Del Chiaro, cara espetacular, foi um paizão pra mim, já morreu, ele explorou muito a questão da dor, do que tinha acontecido, da reação, da ligação espiritual, coisa de religião, sabe? No final da entrevista ele perguntou: “Você gostou?”. Eu falei: “Não” “Você não gostou de ser entrevistado?” “Não, não gostei do conteúdo da entrevista” “Puxa vida, mas o que você achou?” “Não, você tinha que aproveitar o espaço que você tem pra levar informação pras pessoas com deficiência, não levar minha dor, fazer as pessoas chorarem em casa, isso não me interessa”. Ele chamou o diretor da rádio
TROCA DE FITA
R – Então, “Não, não gostei da entrevista”. Ele pegou, olha o desprendimento, o cara era muito legal. Ele chegou e chamou o diretor da rádio e falou: “Olha, entrevistei o rapaz aqui e ele não gostou da entrevista” “E daí, por que você me chamou?” “Eu quero que você escute o que ele tem a dizer”. Aí eu contei pra ele que a gente já tinha dificuldade, nessa época na AACD eu já tava criando um gibi, Gibi do Leme, eu criei um gibi que nós entregamos, inclusive, 20 mil exemplares no primeiro Teleton que eu ajudei a produzir, participei do primeiro Teleton. Depois vou te contar essa parte também. Eu falei: “Nós tínhamos que aproveitar esse programa pra levar informação porque as pessoas com deficiência não têm informação de nada”. Ele falou: “Você quer ficar no programa?”, eu falei: “Fico”. Fiquei como entrevistador. E fiquei assim, na semana seguinte já tinha que gravar como entrevistador, já como âncora do programa. Eu falei: “Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas eu sou louco”. Aí, eu comecei, de uma forma bem rústica, vi, peguei alguns programas anteriores do cara, comecei a escutar programa de entrevista. Aí fui lá e fiz a entrevista. Nem me lembro quem foi o primeiro entrevistado. Mas eu falei, bom, como aquilo que eu falei para você no início, tudo o que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Quatro ou cinco meses, sei lá, um ano de programa de rádio, eu to passando em frente à faculdade e vejo lá: Vestibular pra Jornalismo. Peguei o carro, psi, entrei. Entrei, fiz vestibular, passei, fiz faculdade de Jornalismo (risos) por causa do programa de rádio para eu poder apresentar bem e levar essa informação de uma forma boa, de uma forma que os ouvintes entendam, que eles tiram maior qualidade, maior proveito possível dessas informações que eu to querendo levar. Então isso era importantíssimo pra mim, vamos fazer? Vamos fazer bem feito. Se eu quero ajudar, vou ajudar com a razão, porque você não ajuda ninguém com a emoção. Você não ajuda com aquele sentido do, ah a criança tá pedindo esmola, você pega um real e dá. Você não ajudou. Ah, fiquei com dó, levei uma cesta básica praquela família. Você não ajudou, você fez uma ação movida pela emoção que aliviou por um curto período o sofrimento daquela família. Mas ajudar é planejar, ajudar, você ajuda com a razão, você planeja, você estrutura, você faz parceria, você cria uma projeto, né? Então isso é ajudar. É criar uma ONG. É um projeto, você ajuda pessoas assim, com a razão. Então eu falei: “Poxa, tenho que ajudar”. E eu fui fazer faculdade de Jornalismo
P/1 – Onde era?
R – Eu fiz na Uni Sant’Anna. Foi a primeira turma da Uni Sant’Anna. Inclusive essa semana estive com o reitor lá, o professor Leonardo Placucci, que ficou muito meu amigo, é cadeirante também, outra história maravilhosa que vocês devem pegar. Professor Leonardo de História. E eu contei da faculdade pra te falar o seguinte, eu te falei que eu morava num sobrado. E aí eu falei: “Eu também não vou ficar desligado da minha família, dormindo na sala e a minha família dormindo em cima”. Pois você acredita que eu ainda adquiri forças, eu chegava de cadeira de rodas, transferia da cadeira pro sofá, do sofá pro chão, me arrastava, subia todos os degraus até em cima. Chegava lá punha um banquinho aqui, um banquinho aqui, me jogava pra cima da cama, dali eu transferia pra cadeira higiênica, ia pro chuveiro, tomava banho, voltava pra cama, transferia pra cama, me trocava, descia pra cama, descia todos os degraus, pegava a cadeira e ia pra faculdade, voltava à noite, descia, subia os degraus de novo. Eu fiz isso três anos. Aí você fala: “Que sofrimento, que loucura!”. Foi ma-ra-vi-lho-so. De novo. Sabe por quê? Olha, tudo você tem que ver, me fortaleceu os braços, meu braço, você pega aqui é um pau, só músculo. Fazer esse exercício, isso me facilitou demais a minha vida na cadeira de rodas. Eu tenho que transferir meu corpo pra todo lugar com os braços, me ajudou pra caramba, não precisei fazer academia. Fui fazer na escada da minha casa, sabe? Muito interessante. Voltando lá naquela questão que eu falei pra você da informação que eu tinha, uma vontade enorme de levar a informação pras pessoas com deficiência. Por quê? Porque na AACD, nessa época ainda em que o cara disse que o pessoal ia nos abandonar, tal, esse cara era um desinformado igual a 80% das pessoas que frequentavam lá, pessoas com deficiência, eram desinformadas. E eu tive a grata satisfação de descobrir um trabalho maravilhoso da AACD, tive a grata satisfação de conhecer casos de superação, pessoas maravilhosas que tinham uma história pra contar depois de deficientes, mas eu descobri também coisas muito tristes. Deficientes que tinham agravante de ser pobre. Pobreza. Super agravante. Por quê? Pobreza faz com que a pessoa more em locais que não tenham uma higiene totalmente boa, perfeita porque às vezes ele mora num cortiço, às vezes ele mora na beirada de um ex-rio, agora esgoto, que ele mora num lugar que tem várias casas com um banheiro só, que ele mora numa favela que tem que subir aquele morrão todo de bunda, né? Então, um agravante enorme que dá inclusive a questão da saúde, infecções urinárias diversas. Descobri também que a falta de informação era gravíssima, outro agravante terrível na questão da deficiência. Porque a pessoa, por exemplo, não tem a informação de que ela tem que fazer esse movimento, tirar a bunda da cadeira a cada dois, três minutos para descomprimir aqui, pra não dar escaras, que são as úlceras de pressão. Por que escara? Você fica comprimindo muito tempo, você deixa de levar o alimento das células, que é o sangue, célula apodrece e vem aquele tumor, aquela ferida de dentro pra fora. É dificílimo curar, tanta prova é que o Christopher Reeve, o super homem, morreu por agravante, por consequências de uma escara. Não tinha informação nenhuma. Não tinha informação sobre fisioterapia, você pega um cara de cadeira de rodas, aqueles pés equinos, aqueles pés virados pra dentro, falta de uma fisioterapia que você pode na cama esticar o seu pé, pegar uma toalhinha e puxar. Ficar de pé num stand protostativo, que custa baratíssimo. Falta de informação. Mas aí descobri uma coisa bem pior do que a pobreza e a falta de informação, a discriminação. Preconceito. Preconceito em cima da pessoa com deficiência. Cruel. Uma das coisas mais cruéis que eu já vi. E isso é importante que vocês entendam que se você pega e fala assim: “Ah, o negro sofre discriminação, o oriental, a questão da religião, o judeu”. Sofre sim, sofre e é muito ruim, é muito perverso, a gente deveria parar com essa frescura, certo? Porque Deus criou a diversidade exatamente como única ferramenta que a gente tem de evolução. É vendo outras diferenças que a gente cresce, que a gente cria ideias, que a gente consegue imaginar uma forma diferente de fazer. É por causa da diversidade que nós nos tornamos o que somos hoje. Então para com essa frescura de preconceito. Mas, dentro da casa do negro todos são negros. Dentro da casa do judeu, todos são judeus. Mas dentro da casa do deficiente, não são todos deficientes. E aí que eu falo que é a coisa mais cruel que eu conheço porque a discriminação vem, e muitas vezes, do pai e da mãe. Dos irmãos, dos primos, e aí estende pra sociedade, dos vizinhos, escola e tal. E vai como onda aquela sinergia que vai fazendo essa discriminação crescer até a pessoa ver um sofoco social em que ele não vive mais, ele não tem mais nenhuma condição. Então, eu conheci muitas e muitas crianças que ao nascerem deficientes, a primeira coisa que acontece o pai vai embora porque o homem é mais covarde do que a mulher, sempre foi, né? O primeiro que cai fora é o pai. A mãe aguenta as pontas até um determinado limite, depois algumas delas também abandonam, vão embora e deixam as crianças.
Você fala: “Mas deixam as crianças?”. Deixam as crianças, abandonam as crianças. Dão as crianças. Ou criam como prisioneiros, cria-se criança acorrentada, cria-se criança que já é adolescente dentro de um quartinho que nunca tinha visto praticamente ninguém, era alimentado e trocado dentro de um quartinho ali. Você fala: “Você tem certeza que eles doam as crianças?”, tenho certeza que eles doam as crianças porque eu trabalho como voluntário nas Casas André Luiz e lá nós temos 800 internos e quase 400 a gente não sabe quem é o pai e a mãe. Nós tínhamos até há pouco tempo a roda da vida aqui na Santa Casa, as pessoas chegavam lá e colocavam filhos de nobres e de pessoas da sociedade que não podiam mostrar que tinham filho, ela colocava a criança lá na roda, virava pra dentro e acabou. Você conhece a história da roda. E crianças com deficiência foram colocadas lá de monte
P/1 – Roberto, mas no seu caso, como você foi juntando essa informação?
R – Isso eu vi. Aí eu falei assim: “Poxa, eu não tenho condição de resolver a questão da pobreza, mas a questão da informação e da discriminação eu tenho porque a discriminação também é parte da desinformação”. E foi aí que eu me esmerei no rádio, eu fui fazer faculdade de Jornalismo, eu criei o Gibi do Leme, que é uma história em quadrinho levando informação pras pessoas. Eu comecei a fazer palestras, e todas as palestras minhas, de lá pra cá, se tornaram sempre uma forma de eu levar sempre alguma coisa, um conteúdo pra família, pra sociedade, sabe, de que somos capazes, somos deficientes, mas não somos inúteis
P/1 – Mas quais foram seus principais canais de informação pro seu caso, pra você entender o que estava acontecendo com você?
R – Observação. Eu sempre fui muito observador. Eu observo os outros, observo o meu comportamento, observo o que eu era, o que eu sou. E muitas e muitas e muitas vezes eu pegava meu carro, ia lá pra Serra da Cantareira porque eu tirei carta nos primeiros onze meses de paraplegia já. Eu queria minha liberdade. Pegava meu carro, ia lá pra Serra da Cantareira. E ficava lá, chorava, ficava imaginando o que eu fazia, como eu faço hoje, quem eu via essa semana, por que Fulano tá assim, entendeu, comparações do meu passado, do meu presente, de outras pessoas comigo, da minha família, da reação. Eu faço muito esse tipo de trabalho, minha cabeça é sempre uma questão de check direto, comparativo. Você só consegue mensurar, você só consegue avaliar alguma coisa se você compara
P/1 – Você reflete também, um processo de muita reflexão
R – Sempre. Sempre fazendo a comparação. Isso foi uma faculdade também, de vida, foi muito legal. Eu parti pro campo da informação por causa disso
P/1 – E aí você começou a dividir esse processo com os outros
R – Processo você diz qual?
P/1 – Esse processo de você se refletir, se entender
R – E interagir
P/1 – E interagir
R – Foi aí que a minha vida virou uma loucura porque até então eu trabalhava, fazia as palestras e cuidava da minha família. Mas depois de paraplégico eu comecei a fazer faculdade, comecei o programa de rádio, comecei a escrever pra revista, continuei trabalhando na área de eletrônica porque depois eu arrumei emprego de vendedor. Cuidava da loja de lingerie, certo? E comecei a dar aula na AACD. Dei aula na AACD durante cinco anos no curso de lesão medular. Aí já ajudava no programa Teleton que você entra dois meses antes do programa já trabalhando pra conseguir informações pra colocar esse programa no ar. E aí comecei a ser chamado pra cá, pra uma ONG, outra aqui, outra ali, outra lá, resumindo, virou uma loucura minha vida (risos), mas graças a Deus, digo pra você, na parte financeira formei os três filhos. Meu filho é formado em Direito, Rafael, pós-graduado já em Gestão de Negócios. Minha filha é psicóloga, isso cinco anos. A outra minha filha formou-se em Educação Física e já termina a pós-graduação agora também em Gestão de Pessoas. Todos eles têm uma vida maravilhosa, nunca se meteram com cigarro, com bebida, com droga, sempre foram muito família. De domingo a gente junta todo mundo lá em casa prum café da tarde, almoço, criei minha família de forma muito boa, né? Na parte social cresci muito, ampliei meus horizontes, ampliei meu rol de amigos. Sou bastante respeitado hoje no que eu faço porque eu não me ative somente a levar informação do Roberto, pessoa física, porque eu achava que era muito pouco. E até algumas ONGs me convidaram pra participar, mas eu achava que eu ficaria muito restrito ao trabalho daquela ONG, eu não quero puxar brasa pra sardinha, mas eu achava que tinha asas mais longas, sabe, asas maiores. Então eu ajudava algumas ONGs mas não participava de uma. E eu tinha medo também porque antes de eu ficar paraplégico eu participei de algumas associações, sociedade amigo de bairro, esses negócios e geralmente o pessoal usava aquilo como trampolim pra se inteirar na política, pra conseguir emprego junto ao deputado, pro filho, pra não sei o quê, pra ele próprio ou pra ele ser candidato. Eu não queria ser usado porque eu não fazia aquilo. Eu nunca entrei em nenhuma instituição assim, ser filiado, ser daquela instituição. Eu trabalho como voluntário na AACD, trabalhava como voluntário na Casa André Luiz, trabalho até hoje através da rádio, da Revista Reação, escrevo pra revista faz acho que dez anos. Mas assim, eu ajudo, sabe? Não ganho nada com isso, nenhum deles, nem na revista, nem no rádio. Trabalhava. Mas eu ainda não estava contente. Eu falei: “Sabe o que acontece? Nós precisamos criar uma política pública para a questão da pessoa com deficiência”. Foi aí que eu comecei a fazer o primeiro desenho, a primeira estrutura de uma secretaria municipal ou estadual, eu ia oferecer pra quem quissesse, da pessoa com deficiência. E aí eu criei uma estrutura diferenciada, não aquela estrutura normal da secretaria verticalizada que oferece um produto pra população, mas uma secretaria horizontalizada que serve de filtro ou de controle de qualidade das ações das outras secretarias pra oferecer um produto não para a pessoa com deficiência, mas para a diversidade humana, para todos, com igualdade. E aí consegui apresentar na eleição de 2004, na prefeitura de São Paulo, eu consegui apresentar pro pessoal do então candidato Serra, chegou até ele. Passado mais ou menos uma semana recebi um telefonema, era umas dez horas da noite, de um assessor dele pedindo que eu colocasse toda essa ideia da secretaria em uma página. Eu falei: “Você ficou louco, né?”. Ele falou: “Só uma página porque o Serra só lê uma página. Eu quase andei, eu quase andei (risos). Serra vai ler o que eu escrevi! Nossa Senhora. Aquilo pra mim foi loucura, né? Você receber um troféu: “Toma, a sua secretaria é digna de alguém ler ou de alguém saber sobre ela”. Aí fiz, quatro horas da manhã terminei no computador, enviei pro cara. No dia seguinte o Serra tinha um debate com a Marta e ele citou a questão da pessoa com deficiência. E aí eu quase andei de novo, né? O Serra quase que é milagreiro. E ele implantou a secretaria em 2005 quando ele assumiu a prefeitura. Eu fui chamado pra ser a pessoa da secretaria, ajudei essa secretaria a se estruturar e acho que assim, não acho que meu trabalho esteja concluído como pessoa que tem que auxiliar a questão da igualdade, a questão da recuperação dessa defasagem social que existe da pessoa com deficiência, meu trabalho não está concluído. Mas que eu já fiz uma grande parte desse trabalho, eu tenho minha consciência tranquila
P/1 – E o que você acha que foram as principais conquistas da secretaria?
R – Eu digo que a principal conquista da secretaria não foi exatamente a ação, foi a visibilidade que esse tema ganhou na mídia, que foi a partir daí, a partir de 2005 que a grande mídia começou a discutir o assunto abertamente porque na criação da secretaria houve um estardalhaço, saiu em tudo quanto é revista, jornal, rádio, TV, que tinha sido criada uma secretaria da pessoa com deficiência. Meu nome nunca foi citado, óbvio, porque aquele negócio, você tá atrás, o Serra é quem criou. Obrigado, Serra, muito legal, eu acho que o nome dele tem que ser divulgado mesmo porque acreditou nesse processo. Não importa que meu nome nunca foi divulgado, mas eu já me sentia de consciência tranquila, mas foi falado. Aí começou a discussão: Quem é o cego? Quem é o surdo? Quem é o paraplégico? Quem é o tetraplégico? Quem é o amputado? Quem é a vítima da talidomida? Quem é o cara da síndrome? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas precisam? Primeiro de dignidade, óbvio. De valorização social. Mas quem são, onde elas estão? Elas podem realizar ou não podem realizar? Elas são úteis, não são úteis, é um peso pra sociedade ou não? Ela é uma ferramenta de crescimento? Ela é agregação ou desagregação? Começou a se discutir tudo isso. E o gostoso é que os fatos estão aí, sabe, tava claro, tava óbvio pra gente que era isso, mas hoje as pessoas começam a entender que a deficiência em casa é um motivo de agregação, de convergência. Que os deficientes de uma maneira geral, sejam tetraplégicos, mexem só a cabeça, têm uma função enorme, podem exercer atividades diversas, várias, tem uma utilidade grande porque é aqui, ó. Um espírito iluminado, ele pode habitar em qualquer corpo. Uma mente brilhante pode habitar em qualquer corpo. Nós temos lá o Stephen Hawking, ele não é nem tetraplégico, ele é o todo plégico. Nem fala. E é um gênio, considerado aí um Einstein. Então um espírito iluminado, uma mente brilhante, pode habitar em qualquer corpo e a sociedade tá começando a tomar consciência disso devido a essa grande discussão que houve. Então acho que o grande passo da secretaria foi isso, foi abri a discussão. Hoje cada novela tem um deficiente, é um anão, é um síndrome, é um talo, é um cego, é o tetra, é o surdo. E eles estão dizendo a que vieram, que podem fazer, isso é muito importante. Eu acho que a grande constribuição da secretaria foi essa. Aí é lógico, houve ações pontuais, criação de parques, criação de vagas de estacionamento, criação de leitura em braile nas bibliotecas, aí foi se colocando as ações pontuais. Nos ônibus de São Paulo cresceu muito a questão da acessabilidade. A vistoria em prédios públicos, a questão da acessibilidade. A segurança de tudo isso. Então as ações pontuais foram muitas, mas continuo afirmando, a grande diferença que essa secretaria fez foi abrir a discussão social
P/1 – E realmente de uns anos pra cá esse tema tem ganhado mais espaço, né?
R – Tem estado constante na mídia. Graças a Deus estamos aqui iniciando esse processo
P/1 – Roberto, e hoje existe na televisão uma novela, que é a novela de horário nobre
R – Fora que eu já estava no rádio há muitos anos fazendo um trabalho ali, né, de abelhinha, né, certo? Tava fazendo o trabalho de abelhinha, e de repente eu consegui fazer com que todo mundo viesse junto, né? Aquela abelhinha que ia pegar água no rio pra apagar o incêndio, sabe essa história? Todo mundo fala, eu sei, mas estou fazendo minha parte. Agora não, agora consegui juntar todos os animais da floresta pra buscar água no rio, isso é muito gostoso
P/1 – E o que você acha ter, por exemplo, uma novela das oito que tem um Ibope, uma protagonista que é tetraplégica?
R – Eu to achando magnífico
P/1 – Você acha que mudou alguma coisa na sua vida? Ou na sociedade em geral?
R – Na minha vida não porque eu já conhecia a tetraplegia há muito, já sabia, inclusive a menina que é a consultora da Alinne Moraes, ela é muito minha amiga, a Flávia Cintra. Flávia é tetraplégica, mora em São Paulo, ela é de Santos, amicíssima, conversei com ela ainda antes de ontem. Uma pessoa batalhadora, ela tem exatamente a mesma tetraplegia que a Alinne apresenta na novela, é uma cópia da Flávia. Então a Flávia é consultora da novela, é consultora da Alinne, então eu já conhecia o trabalho, já sabia que a Flávia ia fazer, não alterou em nada. Achei muito legal, dei o maior incentivo, achei que tinha que fazer mesmo. Mas eu acho que a novela tem que mostrar alguma coisa a mais, não é só o conviver. Não to dizendo que eles não vão fazer porque tá caminhando esse processo, é um processo de integração, de cohecimento da família, está acontecendo isso, a família está conhecendo quem é uma tetraplégica, você percebeu isso, né? A família ainda não tem essas informações, estão conhecendo. Existe a discriminação por parte da família do namorado, tal. Então agora a novela vai precisar mostrar realizações dessa tetraplégica, mostrar que ela pode trabalhar, que ela pode fazer, que ela pode ser modelo, que ela pode desfilar em cadeira de rodas, entendeu? Então precisa mostrar isso agora, concluir o trabalho. Eu acho que vai ser magnífico
P/1 – Mas a minha pergunta é mais no sentido de você sentiu, da sociedade, uma mudança em relação a você?
R – Não, nesse caso não, não senti. Eu senti que a sociedade começa a perder um pouco a timidez de vir conversar com você sobre a questão da deficiência mas não é por essa novela, já vem de outras. Essa discussão já vem acontecendo de uns seis, sete, oito anos pra cá, cinco anos pra cá. A sociedade, devido a essa discussão da grande mídia que eu te falei, que hoje sai no jornal, que a gente tá no jornal, tá na revista, a gente tá no rádio e tá falando, tá discutindo, fazendo simpósios, fazendo debates. Agora mesmo, semana que vem começa a Reatech, que é uma feira, a maior feira da América Latina e a segunda do mundo voltada pra pessoa com deficiência. E eu faço simpósios nessa feira desde que ela começou. Então todo esse debate fez com que as pessoas perdessem um pouco a vergonha de vir conversar com você, saber quem você é, o que você sente, por que você tá assim. “Você tá com o pé machucado?”. Não é o pé machucado, é a coluna machucada. Então as pessoas começaram a perguntar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Isso é muito importante, isso é muito importante. A novela, lógico, faz com que mais pessoas vejam que aquilo ali não é uma doença. Todo mundo vê a gente como doente, né? Tem gente que fala assim: “Ah, você tá se tratando? Você não vai se tratar?” “Eu não sou doente, minha querida, eu sou paraplégico, é diferente”. Paraplegia não tem tratamento por enquanto, é diferente. As pessoas veem você como doente e alguns, agora não acontece mais, mas alguns chegavam, comigo nunca aconteceu, mas chegavam ao ponto de achar que isso é contagioso, sabe? Isso pega. Conhece aquele negócio, filho de zebra é zebra, filho de jacaré é jacaré, filho de abelha é abelha, filho de paraplégico é paraplégico? Não (risos), não é. A questão da deficiência não é isso
P/1 – Roberto, conta pra gente um pouquinho pra gente hoje, depois desse processo inteiro, como é a sua relação com a cadeira?
R – A minha relação com a cadeira? Ah, é uma questão de amor e ódio (risos), uma questão de amor e ódio. De vez em quando eu olho pra ela e falo: “Sua filha da [mãe], eu to preso a você”. De vez em quando eu falo pra ela: “Pôxa vida, minha querida, você é a minha liberdade, você me leva pra onde eu quero”. Mas é uma relação, lógico, cômica, né? Relação muito legal. Eu brigo por ela, eu brigo com ela, tem pessoas que chegam, vão levantar de uma cadeira e se apoiam na minha cadeira pra levantar da outra, daí eu falo: “Não dá pra você apoiar na vó, na mãe? Na minha cadeira não, sou eu”. Pessoas que põem o pezinho e começa a virar pra lá e pra cá. Eu fico, sabe? “Dá pra você balançar a mãe? Eu não”. Porque a cadeira é parte do meu corpo, a cadeira é eu. E quando o pneu murcha é a mesma coisa de você sentir um salto mais alto e outro mais baixo. Tudo na cadeira você percebe com uma nitidez. E a sensibilidade que a gente tem em cima da cadeira é maior do que a sensibilidade de vocês andando. Por exemplo, você pega um pátio dentro de um shopping center, você anda no shopping inteiro e fala; “Coisa linda”. Eu ando no shopping, eu sinto o piso dele todo irregular. E faz isso, faz isso, faz isso, sabe? O piso do shopping todo irregular. Na cadeira você sente tudo isso. Ela complementa tudo, meu corpo é isso
P/1 – E ela é o seu contato com a geografia da cidade, né?
R – É o contato com tudo. Infelizmente um contato que vou te falar, viu? Como a gente sofre, meu Deus do céu! É guia, é rampa mal feita, é rampa que termina no meio do poste. Já viu poste no meio da rampa? Os caras conseguem botar um poste no meio da rampa. Eu escrevi uns tempos desse atrás que eu gostaria de ser um paraplégico de ectoplasma, sabe? Você sobe a rampa, divide e passa no poste, depois junta de novo, continua. Porque o poste, tem rampa que termina numa lateral de uma banca de jornal. Maravilhoso. Se eu fosse ectoplasma eu atravessava a rampa, a banca de jornal, saía do outro lado. Tem rampa que termina em raiz de árvore. Eu vi uma rampa, uns tempos atrás, que ela era pra uma calçada, que a calçada tinha isso de largura, sabe aquela calçada bem estreitinha? Beira de viela estreita? Tinha uma rampa ali. Eu falei: “Que lindo, né? Mas pra que serve essa rampa? Eu vou subir pra onde? Só se eu botar uma roda em cima da calçada e a outra roda eu pego uma muleta e vou aqui, desse lado. Não cabe a cadeira na calçada”. Então é muita falta de estrutura, muita falta de informação, das pessoas que fizeram. Tudo isso que a grande mídia fez, tudo isso que está se debatendo hoje, está melhorando, inclusive, a qualidade do trabalho desses engenheiros, dessas pessoas que estão fazendo a melhoria da acessabilidade na cidade. Porque eles vão com boa vontade, mas não têm conhecimento. E aí faz errado. Agora mesmo eu tava dizendo pra vocês que na sua rampa tem que ter o corrimão. Então, é boa vontade, vocês querem fazer, mas às vezes não tem, falta um detalhe do seu conhecimento, é isso. Essa discussão, esse andar pela rua. Uma vez eu ainda comentei num programa de rádio, eu falei assim: “Eu convido todos os paraplégicos, todas as pessoas que usam cadeira de rodas, todos os cegos, todos os surdos, todos os deficientes a irem pras ruas. Nós precisamos fazer uma grande passeata, uma grande passeata. Uma passeata gay reúne um milhão de pessoas na Avenida Paulista, nós precisamos fazer uma passeata, não é uma parada gay, nós vamos fazer uma andada, nós vamos andar pela cidade todinha, cair, quebrar o nariz, chegar lá com o ombro ralado e se juntar tudo na Paulista, um milhão de deficientes na Paulista e falar: ‘Olha gente o que aconteceu conosco. To ralado, to com o nariz quebrado, to com a cadeia quebrada, meu pé ralou, perdi o sapato. Todo estrupiado’. Essa é a nossa cidade. Precisamos fazer uma boa andada, mostrar pra essa cidade que tem um milhão e 400 mil pessoas com deficiência aqui dentro e que nós precisamos estar na rua para mostrar pra cidade que ela precisa melhorar”. Não estou dizendo mal de São Paulo, pelo amor de Deus, eu adoro São Paulo, eu amo essa cidade e ela está caminhando. Mas depende de nós, usuários, indicarmos e mostrarmos a necessidade, indicar forma como deve ser feito pras autoridades fazerem, eles fazem. Mas precisa de movimento popular
P/1 – Roberto, e hoje o seu cotidiano, você continua na rádio?
R – Eu faço rádio uma vez por semana e gravo. O programa de rádio meu eu levo todos os tipos de informação que você possa imaginar. Todas. Cara que faz adaptação de carro falando quais os tipos de deficiência que pode dirigir. O advogado falando dos direitos da pessoa com deficiência. O médico falando sobre a saúde, o urologista, dermatologista, neurologista, oftalmologista, cada um falando na sua especialidade, as relações e os cuidados com relação à deficiência. Levo pessoas com deficiências, síndromes, cegos, surdos, talidomida, amputados, paraplégicos, tetraplégicos pra dar o seu depoimento, falar a respeito, não da dor, falar a respeito da qualidade de vida deles, como eles fazem, como eles trabalham, entendeu? Como foi a superação. Levo donos de shopping pra falar sobre acessabilidade do shopping, pessoas que fazem esportes, aventura, passeios. No final do ano passado eu entrevistei um garoto que eu fiquei, assim, de queixo caído. O cara faz na cadeira de rodas tudo o que um cara de skate faz na pista. Conhece pista de skate? Você já imaginou um cara de cadeira de rodas andar ali? Aquela pista de obstáculo, o cara pula no corrimão, desce quatro metros de corrimão assim, cai lá embaixo, salta, vira, faz rampa, pula. O cara faz isso com cadeira de rodas. Eu falei: “Como é que você passa num corrimão com a cadeira de rodas?”. Ele adaptou um guidão de bicicleta embaixo, ele sai correndo, pula em cima do guidão, escorrega em cima do cano e sai do outro lado. O que o pessoal faz de skate ele faz de cadeira. Olha só! Até a gente que está há 15 anos nesse barato de conhecer tudo, de repente aparece um louco na sua frente que faz mais. Conheço deficientes que pulam de paraquedas, conheço deficiente que já foi no Nepal andar de caiaque e em cima de elefante, de que já mergulhou com Jacques Cousteau, já fez a Rota 66 sozinho nos Estados Unidos. Então deficiência é sinal de ousadia, sabe?
P/1 – E além da rádio?
R – Eu escrevo pra Revista Reação, faço palestras em vários lugares, seja igreja protestante, católica, centro espírita, Seicho-no-ie, o que convidar, o importante pra mim é estar levando a informação da questão da pessoa com deficiência. E a minha vida, o cotidiano meu, já é uma grande aventura no sentido de mostrar tudo, porque em toda conversa minha, seja numa roda, seja numa ação, seja num bar, a gente tá sempre tendo a oportunidade de, não aquele chato que só fala desse assunto, né? A gente fala mal do Corinthians também, bastante, fala bem da Portuguesa porque torço pra Portuguesa, né, mas numa oportunidade você comenta, você instrui, as pessoas perguntam, você fala. Porque a coisa mais chata do mundo é você falar uma coisa que a pessoa não perguntou, né? Então, se a pessoa pergunta você fala. Eu to respondendo tudo isso pra vocês porque vocês estão perguntando (risos)
P/1 – A gente tá perguntando mesmo. E Roberto, depois de tudo isso, o que você acha que são as coisas mais importantes pra você hoje?
R – Minha família, primeiro lugar. Minha família é importantíssima. Depois da minha família, o meu trabalho de uma forma geral, não só o trabalho que eu ganho, o trabalho todo, todas as minhas ações. E eu espero poder continuar com isso por muito tempo. Aposentadoria é uma palavra que, desculpem aqueles que gostam, mas eu considero ridícula, nunca pensei em aposentadoria, não passa isso pela minha cabeça. Eu ficar em casa, à toa, sem fazer nada, sentado no banquinho da praça (risos), isso não passa pela minha cabeça. Nunca pensei. Então eu quero que meu trabalho continue. A segunda coisa que eu mais prezo, depois da minha família, é o meu trabalho. E as minhas relações sociais, eu gosto muito dos meus amigos, aprendo com eles. De vez em quando eu tenho vontade de matar um, mas isso faz parte, né? É isso, as coisas mais importantes pra mim são essas
P/1 – E você tem ainda um grande sonho, alguma coisa que você gostaria de realizar no futuro?
R – Eu tenho um grande sonho, ver a Portuguesa ser campeã (risos). Nunca vi, nunca vi! 55 anos de idade, nunca vi a Portuguesa ser campeã, esse é o meu grande sonho. Eu vou no Canindé, eu sofro, ponho a camisa da Portuguesa e ela apanha no último minuto e sai fora do quadrangular. Meu Deus! Apanhou do Grêmio Barueri, Grêmio Prudente agora. Esse é o meu sofrimento. E o meu outro grande sonho, que eu dediquei a minha vida inteira, trabalho, trabalho, trabalho, família, casa, mas nunca dediquei muito a lazer. Então eu tenho um outro grande sonho, comprar uma chacrinha e fazer uma churrasqueira e levar molecada pra lá no fim de semana, meus amigos, tomar um vinho gostoso, comer uma carninha, cair de bruço na cama, à tarde, e dormir. Levantar de noite e comer mais churrasco, tomar mais vinho
TROCA DE FITA
R – Que horas eu vou poder ler meu texto?
P/1 – Já já
R – É?
P/1 – Já jájá
R – Eu brigo com você, hein?
P/1 – A gente tá pro finalzinho mesmo. Eu queria só te perguntar o que você achou de contar a sua história
R – Bom, eu já contei partes da minha história diversas vezes, em alguns, picotam. Mas assim, pegar desde a infância, lembrando lá do Prata, lembrando da galinhada, lembrando das minhas dificuldades de adaptação na cidade de São Paulo, da minha primeira namorada que não foi primeira namorada, foi só um ameaço de primeira namorada. Das minhas relações de amizade aqui em São Paulo, de tudo o que aconteceu, eu achei que foi maravilhoso, um relax. Eu acho gostoso você recordar tudo isso, muito bom. Acho um trabalho maravilhoso
P/1 – E ficou alguma coisa que você gostaria de dizer e que a gente não perguntou, ou que você queira colocar?
R – Não querida, pelo menos assim, de momento, que eu saiba não
P/1 – Você não quer ler o seu texto?
R – Eu quero
P/1 – Vamos lá então
R – Esse artigo foi publicado já há uns cinco anos e foi num mês de junho, julho, alguma coisa assim, que eu tava olhando pela minha janela e tava lá aquela garoazinha caindo em São Paulo e eu falei: “Poxa, quantos anos eu não vejo essa garoa”. Então eu escrevi um artigo pra revista chamado: “Esse Brasil de vários olhares”. Esses meses de junho e julho tem feito muito frio em São Paulo. A cidade ficou parecida com aquela São Paulo antiga, conhecida como a cidade da garoa. Que saudade do tempo que eu descia a rua da minha casa. Naquele tempo eu ainda andava com aquela garoazinha que dançava para cair lentamente, deixava a grama, o casaco e os cabelos com uma névoa branquinha. Fico olhando pela minha janela na direção do mirante de Santana, e vejo a garoazinha que há anos não dava as caras por aqui cair sobre a cidade que parece calma, só parece. Ah São Paulo, te adoro, mas você não é mais aquela cidade em que se podia voltar a pé nas madrugadas e bailar junto com a garoa a felicidade de uma conquista. Sentir a névoa fina relar nos lábios que ainda estavam quentes pelo beijo roubado. A névoa descia e dançava em silêncio na rua, que em silêncio era companheira da minha volta. E a única preocupação no caminho era se encontraria novamente a bela garota de cabelos longos e negros. E o silêncio só era quebrado por alguma cantarolada de leve que fugia dos lábios e fazia par com a garoa. Saudade, saudade de tudo. E a São Paulo que eu adoro mudou, e mudou muito. A garoa veio este ano, mas não veio com ela a calma, não veio com a garoa a segurança dos velhos tempos, não voltou com a garoa as madrugadas no ponto de ônibus para todos irem ao trabalho. O sol deu uma olhadinha tímida por entre as nuvens e me animou a ir para a rua, como se diz no interior, esquentar o sol. Atravessei a rua e estacionei a minha cadeira no posto de gasolina e lá fiquei tomando sol e proseando com o gerente, entre uma abastecida e outra. Nós conversávamos sobre tudo, política, eleição, finanças, preços das coisas etc. Já ia pra mais de meia hora de conversa quando atravessou a rua em minha direção um casal com uma criança. Pararam na minha frente e me pediram esmola. Não pude dar, estava sem carteira, afinal eu estava ali só tomando sol, e o casal foi embora. Continuei no lugar tomando meu solzinho e mais papo com o gerente. Não deu mais meia hora e parou um senhor em minha frente e me pediu esmola. O gerente me disse: “Aí doutor, com essa cara de rico o povo vem pedir mesmo!”. E é nesse ponto que eu quero chegar, há duas situações para analisar. Uma seria a minha cara de rico, como disse o gerente. A outra situação desesperadora em que se encontra o pobre. Na primeira, fico feliz por manter uma postura de bem-estar, mostrar alegria, positividade, me preocupar com a aparência, participar em todos os sentidos, mesmo sendo cadeirante. Aproveito para convidar todos os portadores de deficiência para ficarem assim, com cara de rico. Não precisa ser rico, mesmo porque eu também não sou, mas ficar com a cara de rico, assim, de bem com a vida. Para ser feliz e estar de bem com a vida eu trabalho todos os dias, passeio, estudo, pago impostos, tenho dívida, enfrento congestionamento, sou voluntário, ajudo pessoas. Ou seja, participo, sou cidadão. Ó meu Deus, e a segunda situação que tenho de analisar, os pobres não têm para onde correr, qualquer coisa vale, salvar o pão de cada dia. Eu lembrei no passado, no início do texto, porque lá atrás no tempo o normal era dar esmola para o cadeirante, não que eu concorde com isso, mas era mais ou menos assim. Se não dava para o deficiente, pelo menos ninguém tinha coragem de pedir para ele. É, a coisa tá muito feia. O Brasil que eu vejo não é o mesmo que se noticia na televisão. Em tempo, a bela garota de cabelos longos e negros é minha esposa hoje, a quem devo a minha felicidade e a garra para continuar sendo cidadão nesse Brasil de vários olhares
P/1 – Muito bonito. Obrigada, Roberto
R – Tá bom!
FINAL DA ENTREVISTA
Recolher