Entrevista de Sônia Maria Alves Souza
Entrevistada por Luiza Gallo
São Paulo, 15/07/2022
Projeto: Inclusão e Diversidade - Ernst & Young
Entrevista número: PCSH_HV1220
Realizado por: Museu da Pessoa
Transcrita por Selma Paiva
Revisado por Luiza Gallo
P/1 – Sônia, primeiro eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente.
R – Imagina!
P/1 – E queria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e o local do seu nascimento.
R – O meu nome é Sônia, nasci dia 24 de agosto de 1949, em São Paulo.
P/1 – Perfeito. Antes de tudo... você nasceu em São Paulo, em 1949. E...
R – Maternidade de São Paulo (risos). Foi... acho que eu e o Celso nascemos em maternidade, o resto foi parteira, minha mãe teve filho por parteira, que antigamente era parteira.
P/1 – O Celso é seu irmão?
R – Meu irmão.
P/1 – E te contaram como foi o dia do seu nascimento?
R – Nunca tive a curiosidade de perguntar pra minha mãe (risos) como foi. Porque eu acho que há 72 anos, pra mulher a maternidade acho que tinha um jeito diferente de hoje, porque hoje você tem filho se quiser, não é? E antes não. Você casou, você tem que ter filho. O marido não perguntava se você queria, se você não queria, se agora sim, ou agora não. Não. Tinha que ter filho. E quando perguntava, acho, pra mulher, assim: “Quantos filhos você quer ter?” É o que Deus quiser dar. Não tinha essa de: “Não, só vou ter um, dois, ou...”. Então, acho que pra mulher era normal ter filho. Normal. Anormal seria não ter.
P/1 – E vocês são em quantos irmãos?
R – Cinco.
P/1 – Quem é a mais velha?
R – Eu.
P/1 – Você. E seus outros irmãos? Conta um pouquinho pra gente.
R – De... como eles são?
P/1 – Como eles são e qual é a ordem de nascimento.
R – Nasceu eu, depois a Rosalina, (risos) que não gosta do nome dela, que ela fala: “Mas por quê?” Depois nasceu o Carlos, um irmão que a gente teve, que morreu....
Continuar leituraEntrevista de Sônia Maria Alves Souza
Entrevistada por Luiza Gallo
São Paulo, 15/07/2022
Projeto: Inclusão e Diversidade - Ernst & Young
Entrevista número: PCSH_HV1220
Realizado por: Museu da Pessoa
Transcrita por Selma Paiva
Revisado por Luiza Gallo
P/1 – Sônia, primeiro eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente.
R – Imagina!
P/1 – E queria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e o local do seu nascimento.
R – O meu nome é Sônia, nasci dia 24 de agosto de 1949, em São Paulo.
P/1 – Perfeito. Antes de tudo... você nasceu em São Paulo, em 1949. E...
R – Maternidade de São Paulo (risos). Foi... acho que eu e o Celso nascemos em maternidade, o resto foi parteira, minha mãe teve filho por parteira, que antigamente era parteira.
P/1 – O Celso é seu irmão?
R – Meu irmão.
P/1 – E te contaram como foi o dia do seu nascimento?
R – Nunca tive a curiosidade de perguntar pra minha mãe (risos) como foi. Porque eu acho que há 72 anos, pra mulher a maternidade acho que tinha um jeito diferente de hoje, porque hoje você tem filho se quiser, não é? E antes não. Você casou, você tem que ter filho. O marido não perguntava se você queria, se você não queria, se agora sim, ou agora não. Não. Tinha que ter filho. E quando perguntava, acho, pra mulher, assim: “Quantos filhos você quer ter?” É o que Deus quiser dar. Não tinha essa de: “Não, só vou ter um, dois, ou...”. Então, acho que pra mulher era normal ter filho. Normal. Anormal seria não ter.
P/1 – E vocês são em quantos irmãos?
R – Cinco.
P/1 – Quem é a mais velha?
R – Eu.
P/1 – Você. E seus outros irmãos? Conta um pouquinho pra gente.
R – De... como eles são?
P/1 – Como eles são e qual é a ordem de nascimento.
R – Nasceu eu, depois a Rosalina, (risos) que não gosta do nome dela, que ela fala: “Mas por quê?” Depois nasceu o Carlos, um irmão que a gente teve, que morreu. Depois nasceu a Lurdes, depois nasceu... minha mãe teve o Celso depois dos quarenta, que fala ‘raspinha do tacho’. Aí ela teve o Celso e tem o Rogério, que é o caçula... corta um pouquinho, dá?
[Pausa]
P/1 – Então, me conta dos seus pais.
R – Os meus pais sempre foram amorosos. Não foram aqueles pais que a gente via brigando, se xingando. Não. Meu pai sempre foi aquele homem que, além de cuidar da casa, tinha os projetos sociais dele, ajudava na escola. Se precisava pintar na escola, ele ia lá limpar e pintava. Quem que colocou, onde a gente mora, o asfalto, pediu asfalto, a água, a luz, a creche, tudo que tem de melhoria onde a gente mora? Sebastiãozinho. Hoje você fala Sebastiãozinho ali onde a gente mora, todo mundo se lembra dele e ele formou uma Sociedade Amigos de Vila Iorio também. Meu pai sempre foi um passo à frente da época dele. Ele fazia isso, mas ele nunca abandonou os filhos. Meu pai levava a gente pra carnaval, Parque Shanghai, pra um monte de lugar, que os outros colegas da gente não tinham acesso, não iam. Meu pai arranjava tempo pra levar a gente. Meu pai sempre foi assim. E minha mãe também, aquela... é de uma época, com 95 anos, que a escravidão tinha terminado não fazia tanto tempo. Então, ela veio... minha mãe foi empregada doméstica com quatro anos. Empregada doméstica, não. Explorada, porque não tinha salário, a partir dos quatro anos. As mulheres morriam cedo, de parto, porque tinham aquele monte de filho, não tinha assistência, se dava uma ‘zica’ de ter algum problema, morria porque não tinha médico, era parteira. Então a mãe dela morreu, tinha mais uma menor que ela. Então o pai dela deu todos os filhos. Não é que deu e falou assim: “Estou te dando”. Não. As pessoas da cidade, que era cidade do interior, Agudos, que tinham um poder melhor: o dono da farmácia, da padaria, quem era isso e aquilo, tinha um poder maior, ia lá buscar o neguinho pra trabalhar pra mim. As neguinhas, né? E era assim que funcionava. Eu falava pra minha mãe assim: “Mãe, como a “senhora consegue ser uma pessoa tão doce, vinda de uma história dessa?” Minha mãe é incapaz de chegar pra você e te falar um nome feio, sabe? De levantar a voz com uma pessoa. Ela é incapaz. Ela é uma pessoa meiga, doce, maravilhosa, até hoje. Aí ela foi, com quatro anos a mulher veio buscar uma maiorzinha que ela, mas ela falou: “Eu quero ir”. Ela não sabia nem pra onde, né? (risos) “Eu que quero ir”. A mulher a levou. Então, punha cadeira, ou banco, sei lá, que antigamente acho que era mais banco que cadeira, para alcançar, pra lavar louça e ali ela ficou até casar, com 21 anos. Ela saiu de lá com 21 anos. Só que ela teve uma vida mais privilegiada do que as irmãs, porque as irmãs dormiam nos banheiros, pro lado de fora, não tinha cama, não tinha nada. A hora de dormir elas iam pro banheiro e o dono da casa ia pra dentro da casa. Escravas, filhas de escravos, tudo escravo. E ela não, eles a deixavam dormir dentro de casa, mas ela tinha roupa e tudo, mas só que eles raspavam a cabeça dela, porque cabelo de preto não era cabelo, era incômodo. Então, raspava a cabeça dela, mas ela comia o que eles comiam, ela foi melhor tratada - mesmo sendo explorada - do que as irmãs dela, que morreram todas cedo, todas as irmãs dela acho que não chegaram nos quarenta anos, porque inclusive só tem ela, hoje. De um monte de irmãos, só tem ela, porque elas dormiam fora, eram tratadas sempre de qualquer jeito, isso e aquilo. Então morreram cedo. Todas morreram cedo. E a mamãe também teve a sorte de ter um marido que sempre a tratou bem, que sempre se deram bem. Minha mãe é daquelas que faz - hoje em dia ela não faz mais - um arroz, feijão e uma salada de tomate e você fala assim: “Meu Deus! Que delícia!” (risos) Entende? Com capricho, com amor. Não é igual a gente, hoje em dia, que compra tudo pronto, isso e aquilo. Eu falo por mim, né? Se puder eu compro pronto e falo: “Quer comer, come e é isso aí. Quer comer, come”. Minha mãe não: “O que você quer comer? Vou fazer isso, porque fulano gosta, fazer aquilo porque...”, aquela dona de casa de antigamente. Então, é isso. E esse carinho foi o quanto ela não recebeu, mas ela tinha pra dar. Eu lembro, minhas irmãs não lembram, que a gente, nas férias de escola, minha mãe ia pra Bauru, onde o pai dela morava, eu lembro do meu avô, da fisionomia dele, lembro dele. Meus irmãos não lembram, eu que sou mais velha lembro dele. Ela tratava meu vô, não tinha ressentimento porque ele tinha dado, porque depois ele casou com uma mulher que tinha dez filhos e criou os filhos da mulher (risos). E os dele, ele deu. E é isso. Minha mãe... então a gente foi sempre uma família amorosa. Meu pai também veio de uma família que os pais dele, a mãe dele morreu, ficou só o pai e os filhos. O pai dele, não lembro dele ter falado, se falou eu não lembro, que o pai dele casou de novo, não sei, não lembro, mas eu lembro que a minha tia Maria era a mais velha e ela que criou os irmãos, e o que eles falam… eu não lembro do pai do meu pai, mas ele veio me conhecer quando eu nasci. Minha mãe disse que ele veio e me carregava no colo e ficava lá. Minha mãe falava: “Ai meu Deus, ele estragou, porque ele ficava com você o tempo todo no colo” e depois, quando ele foi embora (risos) eu queria colo. E, assim, era um pai carinhoso. O meu avô foi um pai carinhoso pros filhos. Tanto é que ele saiu de onde ele estava e veio me conhecer, quando meu pai... porque meu pai saiu de casa com deozito anos, quando a vaca comeu o único terno que ele tinha, um terno branco. Estava pendurada no varal, a vaca veio e comeu tudo e ele falou: “Aqui eu não fico mais” (risos). E saiu pro mundo. Foi ser motorista de caminhão, trabalhou muitos anos de motorista, fazendo... indo de uma cidade pra outra, levando carga, disse que trabalhou muitos anos nisso e depois que ele veio parar aqui em São Paulo, capital. Foi para o Rio, primeiro, pra umas outras cidades do interior, mas depois ele veio morar numa pensão aqui em São Paulo e foi aí que ele conheceu minha mãe, porque essa família também, que morava em Agudos, veio pra São Paulo e a casa deles era perto dessa pensão. E foi aí que minha mãe conheceu meu pai e aí casou. E quando meu pai casou, já... a casa que eu moro hoje foi a casa que minha já veio com a casa, por causa que meu pai construiu a casa. Era quarto e cozinha e banheiro pro lado de fora. Há quantos anos, né? Setenta e poucos anos atrás. Então meu pai sempre teve uma visão à frente das outras pessoas. Quando ele casou, já trouxe, tirou minha mãe de lá, mas a trouxe pra uma casa. Então lá não tinha nada, comprou terreno e o Mário Iorio, inclusive tem até um artigo... Atílio Iorio, não sei o que, que é parente desse Mário Iorio, que era de onde a gente mora. Eu lembro do Mário Iorio. Eu lembro que ele deu terreno pra fazer a escola. Ele deu o terreno e falou assim, pra fazer a escola, pra ter a escola ali, porque era tudo mato. E meu pai sempre teve essa visão, pra frente, não de que: “Eu sou coitado, ou isso e aquilo e aquilo outro”. Não tinha estudo, porque naquela época estudo era pra poucos, com pouco estudo, mas você nunca via meu pai com a cabecinha baixa, não. Eu não tenho nenhuma foto do meu pai. Bonito, meu pai. Sempre assim, sabe? “Vamos fazer”. Falando do jeito que ele falava, um monte de coisa errada, não sabia escrever direito, mas aquela pessoa digna, de caráter, aquela pessoa que vamos... às vezes a minha mãe falava assim: “O dinheiro acabou, e agora?” Ele falava assim: “Vamos ver como que é sem dinheiro”. (risos) Ele sempre, de um jeito assim... os irmãos dele, mesmo ele estando aqui em São Paulo, todos os irmãos dele que saíram do interior vieram pra São Paulo, morar com a gente. Os que vieram, que é a Ana, minha tia, que era a caçula, veio, dormiu no quarto com a gente. Tinha a minha tia Maria, que ele que criou. Teve uma época que ela escreveu, o marido dela ficou cego, ela estava com os filhos, ela falou: “Não tem mais condição da gente ficar aqui”. Ele falou: “Vem”. E onde eu moro, nessa casa, ele construiu embaixo um quarto, cozinha, banheiro pra ela e falou: “Vem”. Ela veio, ele já a pôs no quarto e cozinha, aí o marido dela não tinha condições de trabalhar, porque estava cego, mas ela trabalhava em casa de família, terminou de criar os filhos ali e tudo. Ele sempre acolheu - meu pai - os irmãos, a família, os outros, porque qualquer problema que tinha: “ ‘Seu’ Sebastião, o que eu faço?” Meu pai falava: “Por que você não faz assim, ou assado, isso, aquilo, aquilo outro?” Aí que foi que formou a Sociedade, pra ajudar e ali a gente aprendeu a conviver com outras pessoas. Tinha baile de carnaval, festa junina. Na festa junina, além da quadrilha, a gente fazia o casamento e tinha carroça com os cavalos, isso e aquilo, sabe? O meu pai sempre foi festeiro, sempre gostou de coisa e era assim um negócio que a gente até hoje não consegue reproduzir o que era aquilo, e ele arranjava tempo. Hoje em dia a gente fala, eu principalmente falo: “Eu não tenho tempo”. Meu pai arranjava tempo. Ele nunca deixou de dar atenção pra nós, filhos. Nunca. Nunca deixou de ir numa reunião da escola. A Lurdes mesmo - pra nós é Duda, tá? Pra vocês é Lurdes -. Ela sempre foi briguenta na escola. O que ela queria, ela impunha, aquelas coisas. Às vezes a professora chamava lá, pra reclamar e ele falava assim: “Não, essa não é a Lurdes” (risos). Falava assim, mas chegava em casa e ele craw nela. Mas lá: “Não, essa não é a Lurdes, não é possível, não sei o quê”. (risos) E eu sou da geração também que hoje o pai está falando, a mãe está falando, o filho fala: “Cala a boca, é mentira o que você está falando” e se intromete. Nós, não. Meu pai olhava, a gente sabia o caminho que a gente tinha que fazer. Não precisava falar nada. Meu pai nunca gritou conosco. Nunca falou um nome feio pra gente. Nem minha mãe.
P/1 – Sonia, tem alguma lembrança de um dia ou de algum momento muito gostoso com seus pais?
R – Tudo era muito gostoso. Tudo. Porque minha mãe era daquelas que fazia, assim, café da tarde. As outras crianças não tinham. Minha mãe fazia polenta doce, mingau, canjica, arroz doce, sabe? Ela inventava a coisa. As crianças, a nossa casa sempre foi cheia de amigos, porque tinha até uma vizinha que hoje mora em frente, ela é até mais velha que eu, ela falava assim: “Você lembra, Sônia?” Ela está com um pouco de Alzheimer, toda vez que ela me vê ela fala a mesma coisa: “Você lembra, Sônia, que eu falava assim: ‘Minha mãe deixou eu dormir aqui hoje’?” (risos) Porque ela via que minha mãe tinha feito bolo, ou qualquer coisa, ela falava: “Vou dormir aqui, porque eu vou comer esse bolo”, ou qualquer coisa. Minha mãe fazia bolo. E nunca fez assim, na porta: “Você não entra aqui na minha casa”, sabe? Aberta. Tinha uma área na frente e no tempo antigo as casas tinham quintal. A gente brincava no quintal, subia no pé disso, daquilo, pra comer isso, aquilo, fruta, isso, aquilo. Então a casa vivia cheia. Tinha, do lado, um barraco que o pai e a mãe bebiam. Os filhos deles... a mulher... eles tinham três filhos. A Ção, que era Conceição, mas a gente a chamava de Ção, minha mãe dava roupa pra ela, comida. Eu sempre vi meus pais fazendo isso. Nunca ‘é meu, eu tenho’, porque meu pai não tinha estudo, mas meu pai era chefe onde ele trabalhava. A gente tinha uma vida um pouco melhor do que as outras crianças. As outras crianças iam pra escola descalças, com a perna cinza até aqui, assim, descalças. A gente nunca foi descalça pra escola. A gente tinha lanche pra levar pra escola. Tinha criança que não tinha, que era da ‘caixa’. Vocês não lembram, que não era da época de vocês, mas tinha quem era da ‘caixa’. Então quem tinha um pouco mais dava, contribuía e, pra poder servir aquelas crianças na hora do intervalo, o lanche. Tinha a Dona Amélia, que era... lá todo mundo, quem é mais antigo lá ________ que sabe da Dona Amélia, que fazia o lanche e dava pras crianças. Então toda vez que ela me vê, ela fala isso. Ficou gravado na cabeça dela. E ela tem um irmão também, que eram os dois mais que dormiam em casa, com a gente, porque eles falavam: “Hoje daqui a gente não sai” e ela disse: “Sua mãe nunca falou: ‘Vai pra sua casa que agora eu vou dar janta’. Nunca. Não: ‘Toma aqui’”. E meu pai sempre falava assim: “Eu não gosto de... não faz pouca comida”. Falava pra minha mãe. Minha mãe não fazia, mesmo. “Faz, que se chega uma pessoa, você pode oferecer”. Ele foi sempre assim, a gente foi criada assim. E depois, quando a gente cresceu, os amigos, isso e aquilo, tudo enfiado lá dentro, ninguém queria sair de lá de dentro de casa. Todo mundo lá na minha casa, porque na minha casa podia. Meu pai não falava ‘não entra’, minha mãe não falava ‘não vou servir’ e também a gente tinha o nosso quarto, os meninos tinham o quarto deles. Nós, mulheres, tínhamos o nosso quarto. Então a gente podia receber. Igual quando ia minha tia, já tinha uma cama lá, uma beliche lá, pra quando viesse alguém pra dormir. Então é isso que eles passaram pra gente. E quando o Rogério entra na nossa vida, eu sendo mais velha, mas trabalhava fora, isso e aquilo, eu não - como eu vou falar? - curti muito, não o Rogério lá, mas era problema da minha mãe e do meu pai. Eles pegaram, acharam que tinha que pegar, eu já estava moça, já. Não lembro a idade, porque quando o Celso nasceu, eu já estava lá no secretariado, no Álvares Penteado. Então quando o Rogério veio, acho que uns cinco anos depois do Celso. Então eu olhava aquilo lá, mas a Lina, que casou mais cedo, via o Rogério com ‘outros olhos’. Ela batizou o Rogério, ajudava minha mãe a tomar conta, porque ela já tinha aquele instinto de mãe, porque o Rogério e a filha dela têm diferença de poucos meses. Do Rogério também eu lembro que ele teve meningite. E eu lembro que todo sábado, quando eu saía do serviço, eu trabalhava na 25 nessa época, eu passava no Emílio Ribas, eu ia no Emílio Ribas visitar o Rogério. Isso pra falar pra minha mãe, porque minha mãe não podia ir todos os dias, porque tinha os outros filhos, tinha a casa e o acesso não era igual hoje, que você chama o Uber, né? Tinha que pegar ônibus, tinha que andar até lá. Eu lembro que de sábado era eu que ia lá visitar o Rogério, quando ele estava no Emílio Ribas. Ele ficou sem sequela. Acho que de tanto minha mãe pedir. Ele teve meningite, mas ficou sem sequelas.
P/1 – Sônia, que melhorias seu pai fez pro bairro?
R – Todas que você puder imaginar (risos). Pediu a água, a luz, asfalto, porque não tinha nada disso. Quantos tombos a gente não tomou? Tinha uma descida assim, que quando chovia você punha o pé lá em cima e já saía lá embaixo, tsccc, escorregava, vivia com o pé... a gente tinha que usar dois sapatos pra ir trabalhar, porque até chegar no ponto de ônibus seu pé ficava todo cheio de barro. Você embrulhava aquilo lá, punha numa sacola, levava pro serviço e punha, quando pegava o ônibus, o sapato limpo, pra quando voltasse pôr de novo o sujo pra poder descer. Aí meu pai, vendo a situação, às vezes também junto com o Mário Iorio: “Vamos fazer, vamos acontecer, trazer melhorias pra cá”. Com isso ajudou o Mário Iorio a vender mais os terrenos dele lá, que era imenso e, assim, até a filha da Lina, a Flávia... não, a Cris, quando arranjou um namorado, trouxe pro meu pai conhecer. E ele - que hoje é marido - o que ele queria fazer, ele não perguntava pro pai dele, ele perguntava pro meu pai. E quando meu pai morreu, antes do meu pai morrer - meu pai fez aniversário no dia quinze de outubro e morreu no dia dezesseis - falou pro Valdemir, que é o marido da Cris: “Cuida do Rogério pra mim. Nunca o deixa sozinho”. Não falou de mim, dos outros, do Celso, não. Do Rogério. “Cuide do Rogério pra mim. Não o deixa nunca sozinho”. E ele, o Valdemir, leva isso até hoje. “ ‘Seu’ Sebastião, eu quero fazer isso, aquilo, o que eu faço? Não sei o quê”. Os filhos da Lina, o Carlos André, esse que vai ser avô, já, (risos) também: “Vô, o que você acha?” Isso, aquilo e aquilo outro. Meu pai sempre ali, dando os pitacos. Uma pessoa semianalfabeta. Mas com uma visão de vida, de comunidade, de ajudar as pessoas. A pessoa, às vezes, chegava lá e falava: “Eu estou precisando disso, daquilo. Aconteceu isso e aquilo na minha casa, o que eu faço? Não sei o quê”.
P/1 – Eu queria te perguntar o nome dos seus pais.
R – Sebastião Alves de Souza e Maria Balbina Soares de Souza.
P/1 – E como eles se conheceram? Você sabe a história?
R – Eu te falei. Ele morava numa pensão e ela morava, como ela trabalhava na casa de família, diz que ela era empregada, mas não tinha salário (risos). Até os 21 anos ela não tinha salário, não, tá? Quando ela saiu de lá, pra coisa, meu pai comprou o vestido de noiva pra ela, o enxoval, as coisas. Ela não tinha salário. Ela trabalhava, fazia todo o serviço da casa sem sábado e domingo, só tinha acho que domingo, depois que ela ficou mais esperta. Não tinha salário e, se não tem salário, não tem férias, isso, aquilo, aquilo outro, desde os quatro anos de idade.
P/1 – E eles foram morar juntos logo que se conheceram?
R – Casaram. Acho que passou um ano, por aí, que o tempo, acho, foi pra ele construir lá e levá-la e formar família.
P/1 – E você lembra como era sua casa na sua infância? Como era a vizinhança?
R – Lembro. Claro que eu lembro! (risos) A casa tinha poço, não existia água encanada, era poço, você puxava água no poço, quando chegava bem em cima, tinha um sapo deste tamanho dentro (risos). Soltava, acho que voltava tudo lá pra dentro, bulublublublu. E tinha que tampar. Meu pai punha uma tampa lá, porque tinha criança no quintal, isso, aquilo, aquilo outro, pra não cair dentro do poço, que era poço. Água de poço. Os vizinhos... meu pai, nessa época, quando ele casou, ele trabalhava na Pan Am? Eu não sei. Eu não lembro onde que ele trabalhava. Eu sei que o vizinho daqui trabalhava com ele, na mesma empresa, aí ele falou pro cara, o cara também comprou, aí ficaram as duas famílias que se conheciam, ali, juntas. Não tinha muro pra separar o terreno, nem nada, era uma cerca mal e mal que você passava por baixo da cerca e ia na casa do outro, ela foi minha madrinha, quando eu nasci e as filhas da minha madrinha, até hoje têm a maior amizade, o maior carinho com a minha mãe. Agora que não pode visitar, nem nada, mas elas ligam, conversam com a minha mãe: “Balbina”, chamam de Balbina, porque foram criadas junto com a gente, ali. Lembro bem da turma.
P/1 – E as brincadeiras da sua época, o que vocês brincavam?
R – A gente brincava na rua, não tinha perigo nenhum, ficava até oito, nove horas brincando de pique, na rua, esconde-esconde, isso e aquilo e durante o dia eram os meninos de bolinha de gude, era aqueles que batia com...
P/1 – Taco?
R – Taco. Não sei se chamava taco. Eu sei que batia com a tábua numa bola lá, isso, aquilo e aquilo outro. Pipa, pique, pedrinha, jogava pedrinha. A gente era uma das famílias que tinha Natal, Páscoa, aniversário. Minha mãe nunca deixou de fazer um bolo de aniversário pra nenhum de nós, nem depois, até casar, minha mãe, todo aniversário o bolo de aniversário do fulano, do ciclano, do beltrano e festa junina São Pedro era lá em casa, no nosso quintal; São João era no quintal dessa que era minha madrinha, ela que fazia; e Santo Antônio era na casa da frente, da rua. Então a gente sempre teve todas essas festas, que hoje em dia só tem nas escolas, mais. Ou a pessoa vai pra um sítio pra fazer. Na época, não. A gente fazia em casa. Com quentão, batata... nossa, que saudade de comer uma batata doce assada no fogo! Vocês comeram, já, direto no fogo, na fogueira? Uma delícia! Na brasa. E a canjica que minha mãe faz, só... você ‘come rezando’. O arroz doce ‘come rezando’. O bolo que ela fazia também. Porque ela fazia com carinho. Meu irmão que fala, o Rogério que fala pra mim: “Sônia, parece que você faz com raiva a comida”. Eu falo: “Faço mesmo, estou ‘por aqui’ de fazer comida”. Agora, minha mãe não, sempre fez com carinho. Com o maior prazer de fazer, de ser a última a sentar na mesa, de servir todo mundo, tudo, e ela ficar por último? Imagina! Mas essa é a Maria Balbina.
P/1 – E você pensava o que queria ser, quando crescesse?
R – Então, eu nunca tive. Acho que dos irmãos, os meus irmãos estão todos formados, menos eu. Mas não porque meu pai não incentivava. Tanto é que ele me colocou lá no secretariado do Álvares Penteado. Pra você ver como a cabeça dele era lá, à frente. Eu que não soube aproveitar. Eu aprendi um inglês razoável lá. Era época de taquigrafia. Vocês, acho, nem sabem o que é taquigrafia. O que você está escrevendo era por sigla. Sabe assim: felicidade... eu ainda sei até hoje fe, li, ci e o traço, dade. Então eu fazia assim, você sendo secretária e o patrão falasse assim: “Faz uma carta” e ele fosse falando, você fazia daquele jeito, depois você passava a limpo, lá, do jeito que tinha que ser, entende? Eu tinha um inglês razoável, uma taquigrafia, mas era, sei lá, eu achava que eu não era capaz de ir além disso. Não fui. Sempre trabalhei, mas não trabalhei... eu podia ter feito uma faculdade, pra melhorar isso, mas eu não tinha essa coisa, que nos meus irmãos brotou muito cedo. A Lina também, na época, não tinha vontade de nada. A Lina era daquela que, pra levar pra escola, estava indo lá longe e você escutava o uivo dela: “Uhhhhh”, tinha que ir arrastando-a pra ir pra escola, porque ela não queria ir. Só que depois de casada ela fez faculdade, Pedagogia. Mas aí, com os filhos, com o maior sacrifício - ela falou: “Eu podia ter feito numa boa, não quis” - ela fez. Agora, aí veio... o Carlos também não fez, mas a Lurdes - eu falo tudo. Eu falo Lurdes, pra mim, parece que ela está aqui, assim - com dezesseis, dezessete anos conseguiu, numa escola lá perto, quando a professora faltava, ela ia lá dar aula. Entende? Ela ‘puxou’ todo esse lado do meu pai, de criativa. Ela ‘puxou’ logo cedo. Com quatorze anos ela arranjou o primeiro emprego dela. Eu não, fui trabalhar com dezenove. Ela com quatorze, arranjou um primeiro emprego dela, na Lapa. Num negócio lá, ela arranjou o primeiro emprego ali. E hoje o curso que eu estou fazendo, eu faço um curso no Campos Sales, a menina que ela arranjou de amiga lá e que trouxe pra casa, hoje está no Campos Sales, fazendo curso comigo, mas ela também foi fazer faculdade depois, se formou depois e isso, aquilo e aquilo outro, agora está aposentada também, mas na Duda veio muito cedo isso, ela ‘puxou’ muito isso do meu pai. E o Celso é advogado, psicólogo. A Lina é pedagoga. Eu falo assim: “Eu sou a mãe do Amilcar e do Giasy”. (risos) E o Rogério também não fez faculdade, mas fez curso técnico. Mas pelo meu pai todos nós íamos fazer faculdade e ter uma profissão. Quando eu fiz os quatorze, quinze anos, ele comprou uma máquina de costura pra mim. Imagina eu na máquina de costura! Desajeitada! Com o celular eu sofro! Ai quem usava a máquina? Minha mãe. Pra fazer alguma roupinha pra gente, pijama, um negócio assim, que ela achou que... era minha a máquina, mas eu mesma, não tinha nada a ver comigo. Pra Lina ele comprou a mesinha com a cadeira, com os negócios de fazer unha, pra ser manicure, isso, aquilo e aquilo outro. E pra Duda não deu tempo, porque com quatorze anos ela já arranjou o que fazer. Pros meninos também sempre incentivou de acompanhar. Então, igual o Rogério, com quatorze anos foi trabalhar, ele trabalhava numa empresa e a Dersa estava precisando de boy e eu arranjei pra ele lá, com quatorze anos ele foi trabalhar. Eu já até aposentei e ele já está olhando lá na carteira e falando: “Eu já podia ter aposentado”, que está com cinquenta anos, que antes ainda pode aposentar, ele falou: “Eu vou pegar a aposentadoria”. Mas ele trabalha na Pepsico, está bem lá, mas ele começou a trabalhar com quatorze anos. Então, meu pai sempre encaminhou os filhos pra estudo, pra ter uma coisa e outra coisa também: comecei a trabalhar, ele falava assim: “Compra um terreno”. Ele falava pra mim. Eu falava: “O pai tem cada ideia! Comprar terreno, que não sei o que lá”. Eu não tinha... hoje eu vejo, se eu o tivesse escutado e foi numa época que todo mundo estava comprando, que era assim como eu falei pra você: até um certo ponto tinha casa, isso e aquilo, depois do Mário Iorio, o resto era tudo mato, chácara, lugar que você ia buscar ovo, verdura, que os caras que moravam lá plantavam. Aí depois começou a evoluir, eles começaram a se afastar e ele começou a vender, meu pai falou: “Compra”. Não comprei. Hoje eu vivo de favor, porque os meus irmãos falam: “Credo, de favor?” Eu falo: “É. Não é minha, é da mãe. (risos) Estou morando numa casa que não é minha, é da mãe”. E ele sempre teve essa visão. As irmãs dele, ele fez comprar. Elas trabalhavam, a Ana, de empregada doméstica, ele falou: “Compra”. Por que o que parecia, naquela época? Que não era obrigação sua, de mulher, era do homem, ter a casa pra oferecer pra mulher. Hoje não, é tudo... mas lá atrás era: “Comprar terreno!” “Pra que terreno?” Ele falava: “Compra. Seu salário dá pra você pagar a prestação” “Não”. Então é isso.
P/1 – Sônia, eu vou voltar um pouquinho. Queria que você contasse lembranças da escola, desse período. Tem alguma história marcante? Algum professor que tenha te marcado, algum colega…
R – Sempre tem, né? Lá no Álvares Penteado eu me sentia deslocada, eu não me sentia pertencente ao grupo. Eu era a única negra e tinha uns alunos lá que faziam Direito e as meninas ficam paquerando-os e eles lá também, isso e aquilo, que era o mesmo prédio e eu não me sentia pertencente àquele grupo de pessoas. Eu fiz o curso, acho que foi três... nem lembro se foi três ou quatro anos e saí com algumas amigas de lá, mas que eu não trouxe pra minha vida. Teve umas que casaram, que eu fui no casamento acho que de uma ou duas, depois que terminou o curso e as outras a gente se perdeu, cada uma foi... nós nos perdemos, porque igual hoje, como tem o celular, você pega, telefona, isso e aquilo, nananã das pessoas. Antigamente não tinha nada disso. Tinha que mandar carta, telegrama. (risos)
P/1 – Mas isso já mais velha, né?
R – Mais velha. Mas você está falando lá atrás?
P/1 – Novinha.
R - De novinha eu tenho um monte de amigos. Eu tenho ainda amigas dessa época. Eu tenho amigas, sei lá, de mais de cinquenta anos de amizade, um monte. Tem a Elite, a Vanderci, tem um monte, que muitos ainda estão, porque os pais tinham casa lá, porque todo mundo que morava lá não era aluguel, é porque comprou. Então os pais de muitas morreram e os filhos ficaram com a casa. Uns mudaram, ou venderam a casa, mas a maioria ficou e então eu conheço todo mundo. Igual a Kika, a Lurdes, fala assim: “Você devia ser prefeita, porque você conhece todo mundo, todo mundo fala com você, isso e aquilo, aquilo outro”. Mas porque são muitos anos, né? Da escola. Às vezes você vai na feira, outro dia, nem tem muito tempo, uns quinze dias atrás, uns quinze, vinte dias, estava na feira, aí a menina falou pra mim assim... como é que ela falou? “Você lembra de mim?” Um negócio assim. Eu falei: “Sim”. Ela estava de máscara também, né? Aí eu fiz a coisa assim, falei: “A Noêmia”. Ela falou: “Ah, tá”. Mas ela pensou que eu era uma outra pessoa. E eu lembrei dela, falei: “A Noêmia”. Ela falou assim: “É”. Em falar nisso, falaram que ela morreu. Eu conversei com ela há uns vinte dias, vinte e poucos dias atrás. Aí encontrei com outra pessoa, falou que ela tinha morrido, não sei por quê. Aí eu falei: “Tal”. Ela falou assim: “Como você sabe? Você não é a fulana?” Eu falei: “Não, eu sou a Sônia”. Aí ela falou assim: “Mas como você sabe?” Eu falei assim: “A gente estudou junto”. A maioria das pessoas que a gente estudou junto de primeira série, segunda série... porque eu sou do tempo que a escola, os professores passavam pela minha rua, que a escola ficava, faz de conta, no fim da rua. Era de madeira. Aí a gente ficava esperando, com a florzinha na mão, a professora passar. Aí você dava a florzinha pra ela, dava a mão pra professora e ia junto com ela pra sala de aula. E ali era todo mundo que morava em torno, então eu lembro de muita gente e quando eu terminei o primário, eu fui fazer o ginásio, meu pai pagou, pagava escola pra mim, eu não fiz na do governo, que era o Tamandaré que tinha ali, mas as amizades eu fiz ali e dali que eu fui para o Álvares Penteado.
P/1 – E você sentiu diferença do colégio?
R – Do colégio que era pago?
P/1 - É.
R – É, mas ali eu tinha mais amizades, porque as pessoas eram todas ali, do bairro. Agora lá do Centro, não. Uns moravam na Pompéia, outros moravam não sei onde, outros iam de carro e eu não tinha nada disso, era de ônibus mesmo e a única negra da sala. Não tinha mais nenhum. E para os corredores, assim, tudo, não via negro. Não que o negro seja... não estou querendo dizer que o negro seja diferente do branco, mas porque você identifica, não é? E eles tinham um tipo de vida diferente da minha. Igual, na época, falavam: “Vamos pro Shopping Iguatemi?” Eu nunca tinha ido ao Shopping Iguatemi e eu lembro que eu fui com eles uma vez, mas eu ia, mas eu me sentia deslocada. Agora, no primário era o pessoal tudo que era da Vila, mesmo. O pessoal que morava ali do entorno, a gente conhecia todo mundo. E do colégio eu fiz algumas amizades, também fui conhecer algumas pessoas. Inclusive, o filho do dono da escola estudava na mesma sala, com a gente, porque ele tinha a idade que a gente tinha. Então não foi tão terrível. Mas o meu pai fazia isso, jogava a gente, fazia a gente: “Vai”, mas dependia da gente, né?
P/1 – E já maiorzinha, como você se divertia? O que você gostava de fazer, na juventude?
R – Você não vai acreditar (risos). Finados a gente ia passear no cemitério. Não, fala sério! (risos) Parecia... hoje eu falo: “Mas que graça que a gente tinha, de ir no cemitério?” É que juntava um monte de gente, ia lá no cemitério. (risos) No Cemitério da Freguesia do Ó. À noite, assim, de sábado à noite, domingo de tardezinha, a gente ia passear na Cruz das Almas, que era um bairro vizinho o nosso, dava pra ir a pé e ficava um monte, de um lado os rapazes; do outro lado, as moças, ficava passeando ali e tal, mas não tinha um monte de lanchonete, um monte disso, não tinha. O que a gente ia fazer ali? Até hoje eu não acredito no que a gente ia fazer ali. E ia. Tinha um salão de baile, só, mas meu pai não gostava muito que a gente fosse naquele salão de baile, não. Nesse.
P/1 – Tinha ciúmes?
R – Não. Meu pai foi daqueles que dava a chave e falava assim: “Pra você, quando chegar, não precisa ficar batendo”. Eu não estou falando? Meu pai sempre foi ‘um pé na frente’. Ele nunca foi aquele: “Você não vai”. Ele levava a gente pro carnaval. Tinha muitos pais que falavam: “Pra carnaval você não vai”. Meu pai levava. Ver desfile. Quantas vezes vi desfile na Lapa, quando a Lapa passou pro Centro, lá... como chamava aquela rua do Centro? Nem lembro mais. Eu sei que quando foi pro Centro, a gente ia, meu pai levava. E meu pai também gostava de viajar, de conhecer outros lugares. Minha mãe ia ‘a pulso’, que minha mãe também não gostava muito, não. Mas ia ‘a pulso’ viajar, porque ele queria viajar. Esse era o meu pai.
P/1 – E paquera?
R – Eu já tive um pouco de dificuldade, porque a minha menstruação veio muito cedo, eu tinha dez anos. Então eu não cresci. Então, eu tinha, faz de conta, vinte anos e a pessoa pensava que eu tinha doze, treze anos. Então os namorados vieram mais tarde pra mim, não foi muito cedo, por isso. Então é isso (risos).
P/1 – Mas quando você menstruou novinha, foi uma questão pra você? Você conseguiu dividir isso com a sua mãe? Ou não, era meio um tabu, na época?
R – Eu nem sabia o que era menstruação, com dez anos. Hoje você pode falar pra uma criança. Inclusive, nos postos de saúde eu lembro que minha mãe me levou, pro médico ver, porque veio com hemorragia e tinha um livrinho que eles davam pra gente ler. Aí que eu fui ler, saber, porque eu nem sabia que mulher tinha menstruação. Eu não sabia. Dez anos. Lá, lá, lá atrás. E eu parei de crescer. Também não sabia. Depois que eu vim saber também que quando vem muito cedo, a pessoa estaciona onde... agora, quando você vê falando de abuso em criança, a gente fica... eu, naquela época, com dez anos, não sabia. Hoje em dia talvez uma criança de dez anos saiba alguma coisa, mas mesmo assim é horrível.
P/1 – E, Sônia, qual foi seu primeiro trabalho?
R – Foi Droga Romano, ali no Largo do Paissandu.
P/1 – Como era? O que você fazia?
R – Eu trabalhava no escritório. É. Pelo menos na carteira, foi o meu primeiro. Antes disso eu saí vendendo livro, Barsa, sabe? Que eu arranjei. Depois também arranjei de ficar no telefone vendendo livro, numa livraria, vendendo livro por telefone, ligava pras pessoas, mas tudo pouco tempo. O que eu fiquei mais foi nessa Droga Romano, que eu fiquei acho que dois anos lá, o primeiro com carteira assinada.
P/1 – Como secretária?
R – Não. Tinha a secretária e eu a ajudava. Foi o primeiro emprego.
P/1 – E depois, como foi desenrolando a sua vida profissional?
R – Não foi grande coisa, não, porque a expectativa do meu pai era, nossa, mas a minha não era. Eu achava que não precisava. Vai fazer o quê? E dali, depois, quando eu saí, eu arranjei na 25 de Março, também num escritório, uma loja. Era assim: loja embaixo - era um prédio – era a loja, na 25 de Março, e nos andares um era estoque, o outro era escritório, que eles também tinham... eles compravam terreno e construíam e vendiam. Tipo uma construtora. Então eu trabalhei ali onze anos.
P/1 – Que histórias marcantes você tem desse trabalho?
R – Assim: que eu fiquei amiga dos patrões. (risos) De um dos patrões eu
fiquei amiga e de outro inimiga (risos). Então quando eu entrei lá, eles já
tinham uma funcionária que já estava quase aposentando. Como ela
chamava? Esqueci o nome dela. Estou com ela na... estou vendo-a. É uma
pessoa muito legal. Ela trabalhava na zona leste e ela vinha trabalhar ali,
com eles. Ela trabalhou bastante tempo, também, com eles. E ela estava
quase aposentando e eles tinham um casal que fazia a contabilidade de
tudo, tanto da imobiliária, como da loja. Só que era tudo marcado nos
livros, isso, aquilo e aquilo outro. Então eu entrei também pra ajudá-la a
fazer e ela foi passando serviço pra mim, porque ela ia aposentar. Então
eu fiquei lá onze anos. E o ‘seu’ Luiz era um dos donos, um amor de pessoa,
assim, que quando eu casei, ele falou se eu queria ir pra Foz do Iguaçu, que
ele tinha um hotel lá, se eu queria ir pra lá. Sabe, ele me tratava muito
bem, como se fosse... os filhos dele foram tirar documento, que antigamente ia
tirar documento, não sabia ir sozinho, direito, aí: “Você vai junto, Sônia?” “Vou
junto”. Isso e aquilo. “Pega o táxi aí”. Às vezes ele estava em casa, ele falava:
“Vai, Sônia, pega um táxi, traz o negócio pra eu assinar aqui, vai”. Eu ia lá na
casa dele. Ele morava na Granja Julieta, numas casinhas “mixurucas”, sabe?, ia lá, isso, aquilo, aquilo outro. Fiquei onze anos trabalhando com ele. Mas ele tinha como sócio dois irmãos. E um deles era... né? O ‘seu’ Luiz não. Simples, numa boa,
discreto, uma pessoa boa de se conviver como patrão e como pessoa. O outro,
não. O outro era cheio de coisa. Só que, quem me arranjou lá, que entrou
primeiro, era uma amiga minha que morava na rua de casa. Amiga e depois
virou comadre minha e nossas famílias, amigas. E esse outro patrão era muito
arrogante. Como a gente trabalhava ali perto do Mercadão e você sabe: o
Mercadão, na hora do almoço, a gente, nossa Senhora, só por Deus,
aquelas frutas maravilhosas. O ‘seu’ Luiz ia, quando ele voltava, ele ia
almoçar lá naqueles restaurantes árabes que tem, aquelas coisas lá e a
gente não, trazia marmita e quem não trazia marmita, comia em outro
lugar mais barato, mas a gente ia sempre no Mercadão, pra fazer a
sobremesa lá (risos), pra comer fruta, uma coisa. Esse ‘seu’ Paulo gostava
de humilhar a gente, porque ele ia, comprava as coisas dele, via a gente lá,
queria que a gente trouxesse o que ele comprou e eu só falava pra ele: “Eu
não vou levar. Estou na minha hora de almoço”. Então, ele achava que,
porque a gente estava lá no espaço que ele achava que era deles, lá no
Mercadão, eu tinha que trazer a sacola dele, por quê? É ruim. Eu falava
que não, aí ele pegou bronca de mim. E também o negócio do cigarro, ele
não gostava que fumava no ambiente, naquela época não era lei ainda
que não se podia fumar em ambiente fechado. Ele não gostava que fumava. E
aí ele ‘pegava no pé’, ficava falando isso e aquilo, ele não gostava de um
monte de coisa e eu rebatia. E a gente não se dava bem. E piorou, que essa
minha amiga, ele era casado, mas ela teve um caso com ele. Ele montou um
apartamento pra ela ali perto, na Rua Cantareira, eu sabia, que eu trabalhava
lá e aí depois do expediente ela ia pro apartamento lá, com ele e tal e isso e
aquilo. Conclusão: ela engravidou e depois que ela engravidou, a mãe dela
ficou ‘em cima de mim’. (risos) Em vez de ficar ‘em cima’ dela, ficava ‘em cima’
de mim: “Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro”. E ele não quis
assumir a criança. Aquela palhaçada. Mas não foi por isso, não, que eu saí.
Eu saí porque eles fecharam, mesmo. Da construtora. E aí ele tinha um
sobrinho que tinha um comércio no Alto da Lapa e aí eu fui pra lá. Fiquei lá acho que uns dois, três anos.
E depois de lá eu fui trabalhar na Lapa, na Roma, também fiquei acho que uns cinco anos, mais ou menos, na Roma. Foi onde eu arranjei emprego pro meu irmão. Era... como chamava lá? Não lembro. Assim: empregada doméstica, faxineira, a gente arranjava emprego. A gente trabalha no balcão lá e arranjava emprego pras pessoas que iam lá procurar e não sei o que, como se fosse uma agência, mas era diferente de hoje. Eu fiquei bastante tempo lá também. Não lembro quanto, mas fiquei bastante. De lá eu tenho bastante amiga, ainda. Eu tenho a Rose, que mora na zona leste, eu moro aqui, mas na época ela morava em Pirituba e eu na Freguesia, era perto, depois ela casou, foi pra zona leste, e a gente se fala hoje, com WhatsApp. Ela é que ficou mais, mas eu tive vários amigos ali. Tive o Enoque, que hoje ele não está ‘batendo mais bem’, (risos) não está bem ‘da cabeça’, teve derrame, esses negócios. Então a gente perdeu o contato, mas eu fiz amigos ali.
P/1 – E dali você trabalhou em outros lugares, ou se aposentou?
R – Não. Depois de lá eu fui pra onde? Antes de eu trabalhar na Lapa, eu
fiz um curso no Senac, pra Departamento Pessoal, aí quando eu entrei na
Lapa já foi pro Departamento Pessoal, porque a gente admitia pessoas,
tudo e depois, quando saía, também, isso, aquilo e aquilo outro. E aí, gozado, a filha do ‘seu’ Luiz, depois daquele primeiro emprego da 25, casou e o rapaz
que ela tinha casado, quando eu estava saindo de lá, ela casou e ele foi
trabalhar como médico de trabalho nessa empresa que eu estava. Quando
eu peguei os documentos dele, (risos) filho, tudo, Lascano, eu falei assim
pra ele: “Lascano, eu conheço a Helô”. Ele falou: “Você conhece?” Mas ele
já estava separado dela. (risos) Ele estava morando também pro lado de
Pirituba, com uma outra pessoa, mas ele tinha um filho com ela. Então, ele
tinha entregado o papel do filho, pra receber aquela... quando você tem filho,
você recebia aquilo, nem sei se hoje ainda recebe, quem é casado, quando
tem filho. Recebe um valor a mais no salário, por causa do filho. Eu falei: “Eu
conheço a Helô, a Lígia, Luizinho, isso e aquilo. Coincidência”. E essa minha
amiga que teve um caso lá atrás, com o patrão, era abuso, porque... mas ela
aceitou. Ela achou que era jovem, bonita, falou: “Eu estou podendo, vou
conseguir”, mas não deu nada certo, não mandou a pensão. Ela morreu, já. Ela
não chegou nos quarenta anos. Câncer de pulmão, de tanto que ela fumava,
era aquela que acendia um cigarro atrás do outro. Morreu. Mas eu trabalhei em
outros lugares. O que mais? Depois acho que o último de todos foi o marido da
minha irmã, da Lina, trabalhava na Siemens, a Siemens prestava serviço de
telefonia, aqueles aparelhos que não precisava, depois, mais, ter telefonista,
tinha aqueles aparelhos, isso e aquilo. Aí ele acho que aposentou lá e abriu, a
Siemens passava serviço pra ele, pra ele fazer nas empresas que a Siemens
conseguia... pegava o serviço, mas quem prestava o serviço era a empresa
desse ex-funcionário. Eu fiquei trabalhando também lá bastante tempo, com
ele. Aí depois ele separou da minha irmã, aquelas palhaçadas, mas não
interferiu na amizade, nas coisas, problemas deles. Nessa época também eu já
estava separada, porque eu separei cedo e inclusive a mãe dele, do marido da
minha irmã, passava o Natal com a gente, porque ela sempre passou, falou:
“Não é porque agora ele foi pra outros caminhos, o problema é dele, vou
continuar”. Passou alguns anos ainda o Natal com a gente. E é isso. Aí
aposentei e trabalho assim: vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo aquilo
outro. Mesmo depois que eu separei e estava trabalhando na Lapa, eu já
comecei a vender, com essa minha amiga, que é a Rose, que morava aqui em
Pirituba e depois ela foi pra zona leste. A gente ia no Brás, comprava roupa,
louça, um monte de coisa, novidades que tinha, isso e aquilo e marcava
reunião na casa da pessoa, a pessoa convidava os amigos, isso, aquilo, aquilo
outro e a gente vendia. Ela tinha carro, então facilitava isso, a gente ir lá no
Brás fazer a compra, isso e aquilo e a gente começou a vender. Agora não me
diga como é que eu aguentava fazer tudo isso. Que eu olho e falo assim:
“Como?” Os dois filhos hiperativos, com deficiência intelectual, eu os deixava
pra fazer a reunião, deixava com a minha mãe também, dependendo da idade,
tudo, quando estavam maiores os deixava em casa, mas como eu dava conta?
Eu não sei. Trabalhava a semana inteira, chegava no fim de semana fazia as
reuniões e tudo e fomos, estamos aí.
P/1 – Sônia, como você conheceu seu ex-marido?
R – Num desses bailinhos da Sociedade Amigos de Vila Iorio. Tinha um
baile, a gente ia dançar e até hoje, eu fui num salão outro dia, cortar o
cabelo, o cara, o dono, o marido da dona lá falou pra mim: “Eu te conheço
não sei de onde”. Eu falei: “De onde você é?” Ele falou: “Eu sou do
Buraco” Eu falei: “Do Buraco do Sapo?” Que tinha um lugar lá que chamava
Buraco do Sapo, porque descia assim e fazia, né? E quando chovia, aquilo
enchia, aquelas poças. Ele falou: “Eu morava ali”. Eu falei: “Eu sou da Iorio”.
Ele falou assim: “Perto da Sadia?” Eu falei: “É”. Ele falou: “Pô, eu ia dançar lá”.
(risos) Eu falei: “O Sebastiãozinho é meu pai” “Seu pai?” Porque meu
pai ficava na porta, de segurança. (risos) Na porta. Se faz bagunça ou
alguma coisa, você não pode entrar, mas com aquela educação, nossa! E a
turma adorava meu pai. As pessoas adoravam: “Você é filha do
Sebastiãozinho? Nossa, que saudade da sede”, isso, aquilo, aquilo outro.
Aí eu o conheci lá. Ele era mais novo que eu, eu passei muito tempo da
vida – agora não – tendo uma idade e as pessoas pensando que eu tinha
outra, porque eu demorei pra crescer, então ele era mais novo que eu. Na
época eu tinha o quê? Acho que 27 e ele tinha 23 anos, mas por muito
tempo eu não aparentava a idade que eu tinha. Eu sempre aparentava que
tinha menos. Aí a gente começou a namorar, tudo. Ele: “Vamos casar?” Casou,
tal, só que o Gilberto era ruim? Não, não era ruim. Eu trabalhava, ele
trabalhava, isso e aquilo, aquilo outro, quem chegava primeiro era que ia fazer
a janta; se tivesse roupa pra pôr na máquina, ele punha; se tivesse que fazer
janta, ele fazia; se tivesse que passar, ele passava; se tivesse que dar banho
nos filhos, ele dava. Até aí tudo bem. Só que... você já quer saber disso, do
fim? (risos)
P/1 – O que você quiser.
R – Que com os dois filhos com deficiência interfere um pouco na
relação da gente, porque aí a gente não tem muito tempo pra gente, é
dedicado pro trabalho e pros filhos. E eu o achava infantil. Não o achava
maduro pra enfrentar tudo isso: terapia, psicólogo, fono e não sei o que,
não sei o que lá, entende? Aí ele deu um jeito. Sabe o que ele fez? O que
ele teve a pachorra de fazer? Ele arranjou uma namorada, deu meu telefone pra ela, do serviço, e ela me ligou em horário de trabalho: “Quero falar com a
Sônia”. Passaram. “Eu estou com seu marido, isso e aquilo, aquilo outro,
pepepê, perererê”. As pessoas olhando, porque... hoje em dia eu não sei como
funciona, mas antigamente não podia ficar tratando problema pessoal no local
de trabalho, com o telefone da empresa, a não ser que fosse uma coisa
urgente: morreu, ou está doente, alguma coisa assim, porque... ele vai e deu o
telefone pra ela, porque não tinha coragem de falar comigo e ela falou, eu falei:
“Tudo bem, a partir de agora ele é seu. Pode ficar tranquila”. Aí chegou em
casa e eu falei pra ele... continuou sendo normal, pondo as crianças pra dormir,
dar banho, janta, isso, aquilo, aquelas coisas, aí eu falei: “Agora a gente vai
conversar: a fulana ligou pra mim, nem lembro o nome dela mais, disse que era
sua namorada, isso, aquilo e aquilo outro, você pode arrumar suas coisas e ir
morar com ela. Eu não quero mais você. Você não teve a hombridade de
chegar pra mim e falar. Você deu pra ela resolver pra você. Então pode
pegar suas coisas e ir embora”. Aí eu fiquei com dois filhos pequenos, um
com nove e outro com sete e de lá pra cá nós três.
P/1 – Ele não cuidou mais dos filhos?
R – Não. Você pergunta, se você encontrar com ele: “Que time seu filho
torce?” Ele foi embora, mas ele teve filho com ela, ele não criou nenhum
dos filhos dele. Que ele teve outros filhos, com outras pessoas, não criou
nenhum. Sempre ficou com as mães. Hoje... quanto tempo faz que eu não o
vejo? Uns três, quatro anos, porque com a família dele eu converso ainda.
A irmã dele me liga. Ela é a que mais liga, pra falar com os meninos e é
aquilo, né? Hoje ele teve derrame, está puxando a perna e o braço, está com
diabete altíssima, está ficando cego, aí as pessoas falam: “Você é tonta, que
não pediu...”. Eu pedi, foi pedida pensão, pra ele dar pensão, a gente foi no
juiz, ele ia dar pensão, só que ele deu alguns meses, depois não deu mais,
porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, pererê. Não deu mais. Eu
não fiquei correndo atrás disso, porque você tem dois filhos com deficiência, eu
preciso ficar correndo atrás da pessoa e falar pra pessoa: “Eles comem,
bebem”. Se não fosse minha mãe e meu pai estarem perto, pra eu poder
trabalhar, nossa, seria muito mais difícil, mas é isso. Ele não deu assistência
nenhuma, não sabe de nada. Quando o Amilcar arranjou um emprego, o
primeiro e único emprego do Carrefour, há doze anos, ele foi no Carrefour e viu o Amilcar lá: “Aillcar”. Aí o Amilcar chegou em casa e falou assim: “Mãe, você
não sabe quem eu vi, o pai, porque o Amilcar ainda fala ‘o pai’. O Giasy fala
‘o Gilberto’, não fala pai, não fala nada, não quer saber. Não que eu tenha ‘feito
a cabeça’ deles, falar: “Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo outro”.
Não. Nunca fechei a porta pra ele, pra ele poder ver as crianças, dar um pouco
de atenção. No começo ele ia e os buscava na escola, que eles estavam em
classe especial, na Pompéia. A gente mora na Freguesia, tinha que pegar
ônibus. Ele ia buscar. Mas ele ia junto com a mulher. Aí perguntava pra mim,
quando eu, às vezes, ia buscar também e ele estava lá esperando: “Quer ir
junto?” Eu ia vir junto? Eu o deixava vir com as crianças e vinha de ônibus.
Falava: “Não. Eu vou de ônibus”. Depois a gente combinou algumas vezes
dele ir só ele. Nessa época não dava pra eu trabalhar, por causa das crianças
eu precisei... aí que eu comecei a vender coisas, isso, aquilo e aquilo outro, por
causa das crianças, que estavam na escola. E foi de repente, não foi uma coisa que foi planejada. Ih, teve, nossa, muitas histórias. Nossa, só por Deus!
Nojenta. Sabe uma coisa que você olha e fala: “É nojenta”? Você ter que falar
pra um homem que ele tem dois filhos com deficiência, se ele vai buscar lá na
escola, ele leva a mulher dele junto e queria que eu viesse junto! Aí, depois, ele
foi rareando, rareando e depois não foi mais. E quando o Amilcar foi e falou pra
mim assim: “Eu vi o pai no Carrefour”, isso, aquilo e aquilo outro, coincidiu que
eu fui na Itaberaba lá, nem sei onde que eu fui lá em Itaberaba e encontrei com
ele, aí: “Oi” “Oi” Aí ele falou assim: “O Amilcar falou que eu encontrei?” Eu falei
assim: “Então, já que você...” e o Amilcar começou fazendo o horário da tarde,
saía dez horas da noite, até ele chegar em casa tinha que pegar duas
conduções. Não era longe, mas era contramão de ônibus. Eu falei: “Por que
você não dá carona pra ele? Vai num horário que você vai no mercado, mas
vai mais tarde, assim você dá carona pra trazê-lo, eu fico mais tranquila”. Você
foi? Não. Aí o Amilcar começou a dar problema lá: começou a conhecer
colegas, isso e aquilo. Não problemas no trabalho, problemas de chegar
mais tarde, eu ficar em casa sem saber o que está acontecendo, isso, aquilo e
aquilo outro, eu falei, liguei lá pra casa dele, pedi pra irmã dele: “Me dá o
telefone do seu irmão”. Ela deu, eu liguei pra casa dele lá e falei com a mulher
dele assim: “Eu queria falar com o Gilberto, sou a Sônia, mãe do Giasy e do
coisa”. Aí ela muito simpática, nunca me tratou mal, nada, pegou... essa já era
outra, tá? Que é a Eva. Foi um monte. Essa já era outra, que eles já estavam
grandes, quando ele deixou eram pequenos, aí falei pra ele: “Vem aqui, pra
gente conversar, porque assim você conversa com ele, isso e aquilo e aquilo
outro, que o primeiro emprego ele quer fazer amizade, então vai na conversa
de outras pessoas, tudo, porque está querendo fazer amizade, você conversa
com ele, isso e aquilo, aquilo outro!”. Ele veio, falou que ia... e o dia que ele
veio o Amilcar não estava, nem o Giasy. O Amilcar estava trabalhando e o
Giasy devia ter ido pro jogo, porque adora jogo, o Corinthians. Não precisa
falar mais nada, que é corintiano. Aí ele conversou comigo, já veio todo se
arrastando, isso e aquilo, se apresentando pra mim como um coitado e de
coitado não tinha nada, porque quem tinha que ser coitada era eu, que criou os
dois filhos sozinha e batalhando e correndo atrás. Mas não foi. Ele falou que ia
ligar pro Amilcar: “Então, vou ligar pra ele, vou conversar com ele”. Você
ligou? Não. Ele também não. Teve uma vez que eu encontrei com ele na casa
da irmã dele, a gente foi um sábado lá, que ela falou: “Vem aqui, não sei o que,
não sei o que lá, beber”. A irmã dele fazia festa de aniversário pro Giasy, que
o Giasy faz dia onze de dezembro e ela faz aniversário dia dez. Ela falou: “Em
vez de eu fazer a minha festa, eu faço a dele”. A irmã dele. Ele, não. Aí a gente
encontrou com ele na casa da irmã dele. Eu fui lá, não sei porque coisa, aí a
irmã dele: “Oi” “Oi”. Eu estava chegando pra entrar na casa dele, ele estava
saindo, aí o Giasy chegou, o magrinho: “Quem é?”, falou pra mim.
Eu falei pra ele: “Explica pra ele quem você é” e entrei na casa da irmã dele,
que o Giasy nem lembrava mais dele, nem sabia quem ele era. Esse é o pai
do Giasy e do Amilcar. (risos) E é isso. Ele não deu assistência nenhuma
pros meninos. Quando a gente estava junto, sim, aquele paizão, que eu achava que ele nunca ia se desvencilhar, mas ele se desvencilhou de uma forma que... e aí uma vez também o Amilcar foi na casa da tia, aí quando ele voltou, ele falou assim: “Conheci minha irmã, a Bruna”. Aí falou pro Giasy, o Giasy falou assim: “Irmã sua, minha não é nada”. Tudo bem. Aí um dia a gente
foi na Lapa, na 12 de Outubro, eu estava trabalhando de ‘marreteira’ ali na
12 de Outubro, aí passou, parecida com o Amilcar que, nossa: “Oi, Amilcar”, aí
o Amilcar olhou e falou: “É a Bruna”. Eu fui lá, conheci a Bruna, cumprimentei.
Ela tem alguma coisa com isso? Não tem, né? Eu ia ‘virar a cara’ pra ela e
xingar? Imagina! E é isso.
P/1 – Sônia, você queria, era um desejo ser mãe?
R – Não, assim de: “Nossa, se eu não for mãe...”, mas todo mundo quer
ter filhos, né? Mas assim: não era... inclusive quando eu engravidei do Giasy,
ele falou que não queria. Falou assim, como se eu tivesse culpa de ter
engravidado. Eu falei pra ele: “Eu não sei como eu engravidei, porque eu
estava tomando o remédio, mas engravidei”. Aí ele falou: “Não, mais um filho
agora, não sei o quê”. Não queria, como se não quisesse. Mas aí, quando veio,
veio e ficou até sete com o Giasy, mas o Giasy tem poucas lembranças
dele, o Amilcar tem mais. Com nove anos, tem mais. O Giasy fala ‘o Gilberto’;
o Amilcar fala ‘o pai’.
P/1 – E a sua primeira gravidez foi planejada?
R – Não foi assim. Eu já estava com trinta e um pouquinho, falei: “Está na
hora de ter filhos”, só. O Amilcar nasceu, eu acho que eu tinha 31. Sem
falar: “Eu não quero isso, ou aquilo”. Não. Numa boa. Estava trabalhando
também, tudo. Até o ‘seu’ Luiz, o patrão lá da 25 falou assim pra mim: “Sônia,
você vem trabalhar numa boa, isso, aquilo e aquilo outro”. Eu falei: “É coisa de
pobre. Pobre topa tudo”. (risos) E eu trabalhei até às vésperas da criança
nascer, numa boa, tal, tive uma gravidez ótima. Dos dois.
P/1 – Queria te perguntar: assim que você teve o Amilcar, se
mudou muita coisa na sua vida, como foi receber esse bebê na família, como
foi se tornar mãe?
R – Então, o Amilcar foi bem recebido, foi querido. Eu não via
deficiência nele, nenhuma. Ele demorou pra... como que eu vou falar? Ele
falava, entendia o que você falava, mas ele não completava a frase, uma frase
inteira. Faz de conta água, ele falava água. Ou comida, qualquer coisa. Ele não
falava: “Eu quero uma água”. Não fazia frases longas, mas muito esperto.
Falavam: “Nossa, como ele é esperto!” Nossa Senhora, só eu que sei! Eles
faziam coisas que até acho que Deus duvidava. Daí quando nasceu o Giasy,
então, os dois, nossa! (risos) Hiperativos os dois foram, de pequeno. Aquela
criança que não tinha medo, eles não tinham medo, subiam em qualquer coisa,
derrubou televisão, enfiava o pé dentro do vaso da privada e dava descarga.
Você não podia deixar sozinho nem um minuto os dois, porque eles punham
fogo dentro do lixinho do banheiro. Daí, pra mais. Não podia deixar sozinho.
Você vê que eles estavam brincando e eu ficava ali. Um dia o Giasy, que
sempre foi mais atrevido, falou pra minha mãe assim: “Vó, eu sou bicho?” Aí
minha mãe falou assim: “Não, por quê?” “Por que eu não posso sair na rua?” Aí
de sábado foi tudo pra fazer. Eu saía na rua com eles e ficava na rua,
vendo-os brincar com as outras crianças, jogar bola, ou qualquer coisa, ali,
porque o Giasy falou isso e eu chorei o dia que a minha mãe me contou que
ele falou isso: “Eu sou bicho?” Porque a gente trancava o portão e não deixava
sair. Então ele via as outras crianças brincando na rua e perguntou se ele era
bicho. Hoje as crianças brincam menos na rua, mas naquela época ainda tinha
um pouco de criança. Eu brinquei só na rua, mas minha mãe não ficava ‘em
cima’, era normal brincar na rua. E eu tinha que fazer plantão. Uma vez o
Amilcar ganhou um skate... não, carrinho de rolimã acho que era, skate é mais
pra agora, né? Eu fui no banheiro fazer xixi e o deixei, falei: “Rapidinho, vou lá
e volto”, né? O caminhão vinha vindo, com aquele carrinho, ele deitou e passou
por baixo do caminhão. Quase matou o homem de susto e eu, a hora que eu
saí, minhas pernas... (risos) ele falou assim pra mim: “Viu? Você falou que era
perigoso!” Ele saiu do outro lado. Era assim eles, sem limite pro perigo. Então,
o que acontecia? Os moleques sabiam que eles não tinham esse limite, caiu
pipa na casa do fulano: “Sobe lá o muro e pega”. Então quando eu chegava do
serviço, tinha fila na minha porta, porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro,
fez aquilo, fez aquilo outro, quando já estava maiorzinho. O que faziam?
Puxavam o shorts deles, os deixavam de bunda de fora na rua, sabe? Todo
esse tipo de abuso. Teve um senhor que já tinha idade, ele estava no carro,
Giasy chegou, sempre curioso, isso e aquilo, sem limite, sem filtro. (risos)
Menina, ele foi e cuspiu na cara do Giasy. Sabe, aconteceu coisas que você
fala assim... porque as pessoas não entendem o diferente. Então, aconteceram
coisas horríveis, quando eles eram pequenos. Quando eu deixava sair um
pouco na rua, que era um sábado, que eu ficava ali de plantão, na rua,
sentada, os vendo brincar, isso e aquilo. Mas quando você descuidava um
pouquinho, as pessoas abusavam, empurrava, isso e aquilo. Chegou uma
época que o Amilcar, o mais velho... o Giasy brincava com todo mundo,
topava todas essas palhaçadas que os outros faziam com ele, mas o Amilcar
ficou tão retraído, que ele saía na rua e ia encostando nas paredes, no muro,
com a cara virada, assim, pra dentro, pra não ter contato com ninguém, porque
os meninos debochavam, batiam, empurravam.
P/1 – Quando acontecia essas situações, como ficava o coração
de mãe?
R – Dolorido, né? Você ver e saber que você está... olha, a primeira vez...
o Amilcar foi pra escola especial, com sete anos saiu da creche, a creche
falando que ele não conseguia acompanhar, já começou a terapia, isso, aquilo
e aquilo outro. Aí não tinha classe especial em todos os bairros e lugares, tinha
alguns lugares, aí achei na Pompéia. Que bairro você mora, aqui?
P/1 – Mais pro Centro.
R – Você mora no Centro? Você mora também pro Centro?
P/2 – Não, eu moro pro lado do Capão Redondo.
R – Ah, pertinho. (risos) Zona sul, né? É. Então, eu moro na Freguesia do Ó,
zona norte. Então, o mais perto que tinha era na Pompéia, ali perto do Sesc
Pompéia. Era o lugar mais perto que tinha, então tinha que pagar perua, pra
levar e buscar. E aí quando o pai foi embora, eu não tinha dinheiro pra pagar
perua pra ir buscar, aí eles começaram, eu os treinei a irem de ônibus. Como
tinha o ponto final ali onde eu morava, ia lá, falava com o motorista: “Eles vão
pegar ônibus, descer em tal lugar, o senhor para pra eles, por favor”. Então,
parava, os treinei atravessar, porque como não parava desse lado, tinha que
descer ali na Praça Cornélia, atravessar a praça, pra entrar na rua da escola.
Como naquela época era mais respeitada a sinalização de escola, tem a faixa
ali, aí eu ficava sossegada. Agora, pra buscar que o pai dele falou: “Eu vou
buscar”, porque aí passava um monte de ônibus, eles tinham que vir no ponto,
não sabiam ler, então na minha casa estava escrito em tudo quanto é lugar
possível e imaginário Vila Iorio, porque tinha uma Vila Iara que passava, que é
parecido. Então eu treinava Vila Iorio, Vila Iorio. E lá sempre ficava uma
senhora ou um senhorzinho, eu nem lembro mais se era senhorzinho ou
senhora, vendendo ali no ponto amendoim, pipoca, milho, isso e aquilo, aquilo
outro. Eles saíam da escola e comprava ali, isso e aquilo: “Olha, ele pega Vila
Iorio, tá? Você olha pra mim?” Isso foi no começo. Aí às vezes eu ia e ficava
escondida atrás do poste, pra ver se eles conseguiam pegar ônibus direito,
como eles se comportavam quando estavam sozinhos. Fiz isso muitas vezes,
pra eles poderem se sentir mais seguros, pra poder virem sozinhos, muitas
vezes. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar perua de ida e volta.
Agora, o Amilcar... o pessoal do experimental, que ele ficou lá até os dezoito anos, dos sete aos dezoito anos, classe especial, eles fizeram um grupo no WhatsApp e agora eles estão saindo, estão conversando, o Antônio, eles estão se relacionando, porque o Amilcar não tem amigo. Nenhum. E quando ele acha, é tranqueira. Então, mesmo no serviço, quando ele achava algum, às vezes a chefe chamava e falava: “Ele está aqui, saindo com esse moleque, esse moleque aí não é coisa boa, isso, aquilo, aquilo outro”. E agora ele está, igual sábado agora, eles vão sair, vão pro shopping. Então, foi o melhor presente que eu ganhei em 2021, o Amilcar entrar nesse grupo. Pra ter com quem conversar, porque ali ninguém critica ninguém, porque o que sabe ler, não sabe escrever; o que sabe escrever, não sabe ler; o que não enxerga, ou é torto. Cada um é de um jeito, ninguém cobra ninguém e eles vão pro shopping e de lá vêm embora pra casa. Foi o meu maior presente, esse grupo. E eu estou no grupo. Eu vejo tudo que eles põem, isso e aquilo, eu estou no grupo. Porque o Amilcar, roubaram... ele trabalhava num horário que ele entrava às duas e saía às dez e quarenta. Depois, com a pandemia, saía até mais tarde, porque os mercados lotados e só trabalhando, só o mercado aberto. Agora está fechado.
Ele foi assaltado três vezes. Aí eu precisei fazer uma reunião com a família, um
dia o Celso ia buscar; outro dia era o Rogério; outro dia era o Valdemir, que é
casado com a minha sobrinha; outro dia o Vítor, que era casado... sabe, eles
fizeram o “Plantão Amilcar”. (risos) Cada dia um ia buscar o Amilcar, porque ele vinha, tinha que pegar duas conduções e o ponto vazio, demorava pra vir
ônibus e os ladrõezinhos, pra tomar o celular, roubaram o celular, bateram
nele, teve uma vez que bateram nele e eu ficava com medo. Enquanto não
chegava, eu não respirava direito, até que chegava. E quando chovia, que era
ali no bairro do Limão? Enche. Lota. Aí o pessoal já... nossa, eu só tenho a
agradecer o pessoal do Carrefour, viu? Ligavam pra mim e falavam: “Olha, a
gente não está conseguindo sair, mas o Amilcar está aqui, com a gente. A
gente avisa a hora que der pra sair, isso e aquilo, aquilo outro”. Mas mesmo
assim ele com o celular, o pessoal abusava dele, punha crédito, o pessoal
usava, todo mundo usava o celular dele, falavam. Tem sempre aqueles que
ajudam, mas tem aqueles que abusam. E roubaram várias vezes o celular
dele e agora mesmo, depois da pandemia, já foram dois celulares, que ele é
‘boca aberta’, vai tirar foto. Ele foi num show que teve lá na Freguesia, foi lá,
tirando foto lá, o cara passou e levou. Sozinho, ele não tem amigo. Agora que
arranjou essa turminha, eu estou... assim, por ele ter com quem sair, com
quem conversas as besteiradas que eles falam, mas sem censura.
P/1 – Sônia, queria voltar um pouquinho e saber como foi esse
processo de diagnóstico. Como você começou...
R – É um terror, por que você enfia seu filho onde? Na escola, quando eu pus
o Amilcar no Guilherme Kuhlmann, na Lapa de Baixo, que é uma escola que eu
estudei lá, o quinto ano fiz lá, muito boa a escola, então eu falei: “Eu vou pôr.
Eu estou aqui na Lapa e fica tudo mais fácil, quando saio do serviço já pego e
a gente vai embora”. Nossa, eu saí muitas vezes de lá chorando, porque era
escola que não era especial, era normal. E o Amilcar, eu cheguei lá um dia, o
Amilcar estava debaixo da mesa, os alunos todos lá na carteira e ele como se
fosse um cachorro, lá debaixo da mesa. Ela não sabia o que fazer, lidar com
ele, a professora. Aí eu fui lá acho que foi no horário do meu almoço, depois eu
fui chorando de lá até o serviço, na rua. Indo e chorando. Não liguei se tinha
alguém olhando, se não tinha, nem nada, que parecia que ele era bicho. Lindo!
Nossa, era um menino muito lindo, mas que nem bicho ali no chão. Porque não
atraía as coisas ficar horas sentado, ele era hiperativo. Horas sentado, ele não
ficava. Conversaram comigo: “É melhor tirar, porque isso e aquilo, bebebe”,
aquelas conversas que você odeia ouvir, aí que eu o coloquei no experimental,
na Pompéia. Olha, a gente já passou por tudo que você puder imaginar, de
terapia. Nossa, já passamos pela PUC, pela USP, essa da Pompéia, Uninove...
não, uma outra que tem aí. Por tudo quanto é lugar que a gente já passou. E agora que a gente está sem terapia, esses dois anos e pouco, por causa... mas sempre, sempre, sempre, sempre terapia, neuro e uma coisa atrás da outra. E pra mim foi difícil, porque eu nunca tinha visto de perto uma criança com deficiência, com esse tipo de deficiência. Pra eu aceitar foi difícil, dolorido, e lidar com a criança... igual… não tem uma pessoa na minha família que não me ajudou a buscar e levar. Hoje é terapia, dentista, fono, não sei o que e eu tinha que trabalhar, meu pai me ajudou muito. Você acredita que eu encontrei com uma pessoa agora, não tão agora, mas tipo uns cinco anos, mais ou menos, atrás, ela falou assim pra mim, sentou perto de mim, no ônibus e eu estava com um dos meninos: “Esse menino não ia com uma outra pessoa pra escola?” Era meu pai, quando ele levava o Giasy, elétrico, isso e aquilo, a mulher gravou. Uma outra pessoa também que, quando eu levava os dois pra creche, ia eu... eu não vestia blusa, podia estar o ‘tempo’ que for, eu levava as mochilas todas nas costas, segurava na mão do Amilcar e o Giasy aqui. Não podia soltar da mão do Amilcar. Se soltasse, ele atravessava no primeiro carro que passava. E tinha uma subida. E quando chovia tinha o guarda-chuva. Nessa época o Gilberto entrava seis horas no emprego, então ele saía de casa quatro e pouco da manhã e eu ficava, pra levar as crianças na creche, que eu entrava às sete. Mas aconteceu de tudo que você puder imaginar! E quando chovia eu pegava o guarda-chuva e com o Giasy no coiso e o guarda-chuva e as mochilas nas costas e vamos que vamos!
Tinha um japonês que tinha uma empresa de bebida que depois, terminava a subida, tinha aquela empresa enorme ali. Ele vinha trazer funcionários naquela empresa. Eu não sei, era acho que com táxi. Ele ficava me esperando quando era dia de chuva e falava: “Entra aqui, senhora, eu vou levar a senhora até a creche”. Eu lembro, dá vontade de chorar, eu agradeço muito a Deus por ele. Ele me dava carona, pra me levar até a creche. E também uma pessoa que mora nos predinhos lá perto de casa também. A gente foi numa reunião, numa casa de igreja, não sei o que, ela perguntou: “Você tinha uma criança?” Eu falei: “Era eu mesma”. Ela lembrava da época que eu subia com essas duas crianças e que eu não podia soltar da mão do Amilcar. Então, não foi fácil. Foi difícil, mas estamos aqui.
P/1 – Teve uma rede de apoio…
R – Então, mas assim: eu agradeço a família que eu tenho, porque todos
eles me ‘deram a mão’. Até a Cris, essa que tem a filha de vinte anos agora,
tem uma foto com ela eu barrigudinha assim, gordinha, com o Amilcar no colo.
(risos) Ela ajudava a tomar conta, quando ele ficava em época de férias, ou
que estava com alguma coisa: catapora, sarampo, que não pode ir, ela
ajudava, na minha mãe, ficava lá na minha mãe, pra ajudar a olhar. O Amilcar
era daquela criança que ficava no ‘chiqueirinho’, lá na minha mãe, subia no
‘chiqueirinho’ assim, pra pular do lado de fora, sabe? Eles eram hiperativos.
Então, você não podia... uma vez ele subiu na minha mãe, na estante, depois
que subiu deitou e ficou assim. Quando minha mãe viu, quase desmaiou.
(risos) Uma outra vez tinha uma escada no quintal, que o pedreiro estava
fazendo não sei o que, ele subiu na escada e ficou em cima da casa, ficou lá
em cima.
P/1 – Quantos anos o Amilcar tinha, quando vocês tiveram o
diagnóstico, que vocês entenderam que ele tinha uma deficiência
intelectual?
R – Já com... ele demorou pra ir pra creche. Ele foi depois. Acho que ele
foi com uns dois anos, por aí. Acho que devia ter uns três, quatro anos. O
Giasy foi pra creche com dezenove dias. Porque naquela época não tinha quatro meses pra ficar em casa, era menos e a moça falou assim: “Se você deixar pra época a coisa, você vai perder a vaga, vai entrar outra criança”. Então ele foi com dezenove dias, eu tinha que ir na creche lá dar mama, voltar, tirava em casa, passava um pouquinho, ia lá de novo, dava mama, voltava. Até que naquela época também não tinha Aids, nada disso, uma das meninas lá da creche falou assim: “Você quer? Eu dou mamar pra ele. Eu estou aqui, eu dou mama pra ele. Você não precisa vir de três em três horas”. Aí a gente revezava. Um pouco ela dava mama pra ele. Encontro com ela também, de vez em quando, porque minha irmã, no final das contas, foi trabalhar na creche. Ela prestou concurso, passou numa creche, foi como... como que fala? Não como
professora, como se fosse babá, tomar conta das crianças. E foi aí, depois
entrou a Erundina, não sei se foi a Erundina ou a Marta, acho que foi a Marta e
deu faculdade pra aquelas pessoas que estavam trabalhando lá, como se
fossem babás. Aí foi aí que ela fez a faculdade. Ela tinha feito já o colegial a
noite, foi aí que o casamento dela acabou, que ele arranjou outra, (risos)
porque ela trabalhava de dia, de noite ia pra escola e ali perto da casa dela fez
o colegial e depois a Marta deu a faculdade. Era em Santana, ela ia pra fazer a
faculdade. E ele falava que ele ficava sozinho, o marido dela, muito tempo
sozinho, não sei o que, arranjou outra. Mas ela falou assim: “Graças a isso que
hoje eu não dependo de filho”. Tem uma boa aposentadoria e ‘toca a vida’ dela.
P/1 – Sônia, o Giasy também entrou em uma escola de classe especial?
R – Opa, entrou e foi expulso rapidinho. (risos) Que o Giasy sempre foi
mais... o Amilcar era meio bobão, ele fazia as artes dele, mas mais lento,
porque sempre foi gordinho. Agora, o Giasy não, um ‘palito’. Aquilo era
um tufão. Ele empurrou uma criança da escada, aí eles o ‘convidaram a se
retirar’, ficou pouco tempo ali no experimental. Acho que chegou a ficar um
ano. Agora, o Amilcar não. Ficou dos sete aos dezoito anos. E aí arranjei outra
escola. Assim: uma na Pompéia e a outra lá no Alto da Lapa. O que eu fazia?
Não tinha esse negócio igual agora, que você paga condução e anda três
ônibus com o mesmo valor, isso não existia, então eu o levava, ele entrava
acho que uma hora da tarde, a gente comia em casa, o levava e ficava
esperando lá a aula terminar, pra voltar, porque eram duas conduções pra ir e
duas pra voltar. Ficava sentada lá, numa praça, morrendo de medo, já tinha...
não estava que nem agora, agora é impossível ficar, mas aí arranjei uma
pessoa também, que ia e que também fazia um sacrifício, ela morava em... não
sei, como chama? Eu sei que ela precisava pegar trem. Ela tinha que vir até a
Lapa, porque a gente estava no Alto da Lapa, da Lapa ela pegava um trem e
do trem que ela descia, ela pegava uma lotação, que levava até a casa dela.
Ela tinha acho que dezoito, dezenove anos. E ela também ficava lá, porque a mãe dela trabalhava, a mãe dela que sustentava a casa e esse irmão dela ela começou a levar, ela levava, então ela também não dava, ela disse: “Não dá nem tempo deu chegar em casa e ter que fazer todo o percurso e pagar condução tudo de novo”. Nessa época também acho que nem tinha bilhete único... bilhete especial. Acho que não tinha, não, porque eu ficava lá, aí a gente ficava sentada lá numa praça, às vezes a gente descia até a Lapa, ficava lá olhando as lojas, depois subia, mas daí, depois de ir, tinha que subir. Naquela época eu aguentava. Se fosse hoje, eu não ia, não. (risos) E aí, pra ganhar o sustento, eu fazia essas reuniões de sábado, com a minha colega, a gente continuou fazendo um bom tempo, para as psicólogas todas que nos atendia sempre oferecia as coisas na casa delas, falava: “Você não quer reunião no sábado?” E conseguia. Reunia o pessoal, a gente ia lá vender, isso e aquilo e também eu ia... tinha uma costureira que costurava muito bem. Aí eu comprava os panos, as revistas de moda e falava assim pra mim: “Escolhe uma roupa que você quer, isso e aquilo”. Aí ela fazia, tirava medida, fazia a roupa e quando eu levava pra ela, ela fazia a roupa. Porque ainda não tinha as roupas da China, esses negócios. (risos) Aí ela fazia as roupas e eu vendia pra família, isso e aquilo. Aí depois, não era sob medida, era mesmo jaqueta de lã, calça de lá, isso e aquilo. Às vezes eu olhava na coisa e falava: “Faz um desses aqui pra mim”. Isso e aquilo. Mas começou com uma medida certa e depois foi ela fazendo, eu escolhia o modelo e ia vender pras pessoas pra eu
poder me manter, pra poder acompanhar o Giasy nessa escola, porque o
Amilcar aqui, o Giasy ali e foi.
P/1 – E quando eles foram crescendo, pra você, como mãe, que
tem um convívio próximo, você tinha, pensava sobre a questão deles no
mercado de trabalho? Já era uma questão pra você?
R – Pra mim, não. Pra mim achava que não. Aí a mulher do meu irmão
falou assim: “Sônia...” – ela trabalha no Sesi – “eu vi um local, recebi um
jornalzinho, não sei o que, de um lugar que prepara pessoas pro mercado
de trabalho”. Eu falei: “É?” Ela falou: “É” “Onde é?” Ela falou: “Eu vou passar
pra você e você liga lá, pergunta, isso e aquilo”. Eu liguei. Aí lá vai eu e o
Amilcar, porque o Giasy falava: “Eu quero trabalhar”. Ele ficava sempre
falando pra mim: “Eu quero trabalhar”. Eu falei: “Trabalhar no quê?", porque o
Giasy é estabanado, sabe aquela pessoa que passa e vai esbarrando, esbarra
aqui, esbarra ali, derruba tudo, derruba ali, porque é estabanado? Com sete
anos, mais ou menos, ele começou já com o tremor. Ele tem um tremor, que faz de conta assim: se ele vai pegar esse copo, sabe? Se ele vai pôr isso aqui... aliás, nem dou um negócio de vidro na mão dele. Em casa não tem nada de vidro, copo é plástico. Ele tem um tremor que, nossa, ele treme as duas mãos, assim. E a mão dele, faz de conta, não é assim, é assim. Sabe aberta? Parece uma pata. Assim. E ele começou com sete anos, mais ou menos, com esse tremor. Falei assim: “Eu nunca vi uma criança tremer, ficar tremendo”. Não era com essa intensidade, mas já era um leve tremor. Daí em diante só foi piorando. Nós estamos no Hospital São Paulo acho que faz dez anos, fez tudo quanto é tipo de exame, ninguém sabe o que ele tem. Não é Parkinson, nem parente do Parkinson. Além da intelectual.
E o Amilcar, além do intelectual, tem epilepsia. Nossa, (risos) nem te conto
quantas vezes! Só que eu não sei... eu sei, é Deus, porque já deu em banco,
eu estar no banco com o Amilcar, o Amilcar ter, as pessoas me ajudarem, de
chamar um táxi, levar. Uns negócios que você fala assim: “O que é
isso?” Deus ali, ó. De não acontecer na rua e o carro passar por cima, porque
ele não sente quando vai dar. Nossa, manda contar quantas vezes. E o Giasy
tem dificuldade de parar em emprego porque ele tem vergonha do tremor dele.
Então, faz de conta assim: se tem almoço e todo mundo vai almoçar, ele não
vai. Ele fala: “Vou comer lanche”. Ou sai dali, ou qualquer coisa, mas ele não
come. Ele tem vergonha, ele derruba. Vai comer e derruba. Então é
complicado, muito complicado. Onde, assim, socialmente é complicado, porque
faz de conta: se ele vai numa festa, ou a gente leva o copo plástico de casa –
porque esses copos que você pega e faz assim, imagina, aquilo na mão dele
voa – ou ele vai e não come, nem bebe nada. O único lugar que ele se sente
igual, que meus irmãos, às vezes, ficam ‘enchendo o saco’, é na torcida do
Corinthians, porque lá pessoa é corintiana. É preto, é branco, é rico, é pobre, a
emoção é a mesma, o grito é o mesmo. E ‘vamos, Corinthians’, um bando de
louco, já sabe que é louco, mesmo. Você fala que é corintiano, já dá pra você
mover o perfil da pessoa, que é uma pessoa que é diferenciada. Corintiano é
diferenciado. Eu sou corintiana também. (risos) Mas assim: não sou do bando
de louco. Ele é. Mas no começo meus irmãos, nossa, brigaram muito comigo:
“Vai no meio lá com bandido”, porque um é santista, o outro é são paulino. Eu
falei: “Vocês são são paulinos, acho que estão podendo, porque são paulino é
a torcida mais... é tudo igual, só que o Corinthians não tem esse agravante,
corintiano já viu, né?” Mas o Giasy começou a me convencer isso, do negócio
com a torcida, quando ele falou assim: “Eu já fui preso alguma vez? Eu já entrei em alguma confusão? Eu já isso, aquilo e aquilo outro?” Eu falei: “Não. Você sabe, Giasy, que não”. Igual ele falou assim que no Rio de Janeiro, agora que vai ter... o Corinthians vai jogar com o Flamengo, acho, a Libertadores: “Vai ser a maior carreata da Gaviões da Fiel” para o Rio de Janeiro. Eu falei: “Mas
você não vai, tá, Giasy? Porque você está pagando ainda o que você foi para
a Argentina. Que ele foi pra Argentina lá, com o Boca. Eu falei: “Você está
pagando ainda, você não vai pro Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro deixa pros
outros, que não foram pra Argentina”, porque hoje em dia é muito arriscado.
Você viu as confusões que deu no campo? Que está dando? Deu no jogo do
Corinthians, querendo bater no Cássio, pulou dentro do campo. Quer dizer:
está aumentando o nível. Não sei. O que parece? Parece que, com a
pandemia, todo mundo ficou preso, quando soltou, soltou aquela manada de
bicho. Tem umas coisas que estão acontecendo nos jogos, que você fica
assim. Falei pra ele: “Ainda no Rio de Janeiro? No Rio você não vai, não, tá?
No Rio você deixa”. Mas meus irmãos, nossa Senhora! Eles ligam pra mim
falando: “Cadê o Giasy?” Quando ele foi pra Argentina, eles só ficaram
sabendo depois que ele chegou. Eu quase morri, que ele não chegava. Quatro
dias pra ir, quatro dias pra voltar, meu Deus do céu! Mas ele estava junto com
a diretoria da Gaviões da Fiel. Então eu fiquei mais tranquila. Porque eles não
foram de avião. A diretoria foi de ônibus, junto com a torcida.
P/1 – Sônia, teve alguma conversa com os seus filhos, sincera, franca, de sentimento, que foi muito marcante pra você, ao longo desses anos todos?
R – Eu sempre consegui conversar com eles, porque igual o Amilcar: não
questiona. Ele aceita tudo. O Amilcar já é isso e isso, aceita tudo, é meigo,
levanta: “Bom dia, mãe!” Vem, me dá um beijo. O Giasy levanta que nem
um bicho, cata no celular, não olha pra ninguém, só para o banheiro, vai lá
no banheiro, faz xixi e já cata no celular. Só fica no celular. Com tremor e
tudo, mas ali, no celular. São totalmente diferentes um do outro. O Amilcar não
reclama de tratamento. Faz de conta, se alguma pessoa... porque, nesses dez
anos que ele trabalhou no Carrefour, vaga especial, mas tinha gente que não
entendia. Eles o maltratavam, porque ele demora pra responder. Faz de conta
assim: você pergunta um negócio pra ele, você pensa que ele não vai
responder, mas ele está processando. Aí depois que ele responde. A pessoa
pensa que ele não vai responder. A pessoa: “Ô, isso, aquilo, aquilo outro”. O
Amilcar não responde, não é mal-educado, ele lida ‘na boa’. Vira as costas: “Dá
licença, muito obrigado, qualquer coisa...”. Se fosso o Giasy, ia pular na
pessoa. Porque o gênio é completamente diferente. Ia falar: “Porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê”. O que eu converso é das coisas que eu fico sabendo que acontece e pra eles tomarem cuidado, tanto com um, como com o outro. Às vezes eu nem falo de um perto do outro, eu falo separado. Porque... para o Giasy não se intrometer num assunto que é do Amilcar, dar os
pitacos dele, que nem: “Porque não sei o quê”. Eu falo: “Você não é pai dele.
Eu que sou a mãe, vou conversar com ele, deixa comigo”. E com Giasy
também eu tento conversar, eu já fui mais... o Giasy apanhou muito, porque
aquilo que batia na porta era tudo reclamação dele, que ele fez isso, fez aquilo,
fez aquele outro, não sei o que, pepepe pepepe. Você chega do serviço, todo
dia uma fila esperando você chegar pra reclamar o seu filho! (risos) Não. Não é
fácil, não, né? Aí eu dava uns petelecos nele. Ele apanhou mais do que o
Amilcar. O Amilcar apanhou menos. Mas eu converso, na medida das coisas
que vão acontecendo. Eu não fico falando todo dia: “Porque isso, porque
aquilo, porque aquele outro”. Não, não, não, não, não. E o Giasy acha que eu
gosto mais do Amilcar. Ele fala: “É o Giasy. Se fosse o Amilcar, você fazia”.
Mas não é. Eu falo assim: “Mas o Amilcar me trata igual você me trata?”
Porque se eu faço uma coisa que ele não quer, ele me xinga, fala alto comigo,
bate porta. O Amilcar é incapaz de fazer isso. “O Amilcar pode até não fazer o
que você está falando, mas ele não fica batendo boca e nem nada”. Aí você
tem que explicar tudo de novo: “Você não entendeu o que eu falei, criatura, que
assim não, olha com quem você anda, porque essa pessoa não vai te levar
pro... se lá no serviço eles já estão falando que essa pessoa não é boa pra
andar com você, presta atenção, Amilcar, não confia em todo mundo”, porque
como ele tem aquela ansiedade de ter uma amizade, então... igual pagamento:
deixava um dinheiro com ele e o outro dinheiro, que eu falava: “Metade pra
você, metade pra mim, mas na sua metade vê se você compra isso, compra
aquilo”. Sempre dava um jeito de gastar a metade dele com ele mesmo, porque
senão ele comprava tudo pra dar pros outros: caixa de chocolate, bijuteria,
coisa que a pessoa pedia pra ele: “Ai, compra pra mim, Amilcar”, as meninas e
ele querendo agradar, ia e comprava, entende? Então tudo isso tinha que ser
conversado. O Giasy falava do Amilcar: “Você é tonto, isso e aquilo, bebebe”,
mas o Giasy, uma vez, comprou três celulares. Ele tinha o cartão na mão, que
eu deixava o cartão na mão dele. Uma vez ele comprou três celulares.
Apareceu com um só em casa, que era o dele e os outros dois eu só soube
quando chegou a fatura. Foi da Claro? Foi da Claro. Aí eu fui lá na Claro, lá
no Brooklin, na central lá da Claro falar porque insistiram pra ele comprar
três celulares, vendo que ele era especial, que eu não tinha dinheiro pra
pagar aquele celular. A Claro não quis saber. Falou assim: se ele estava com
os documentos em mãos, a pessoa ia falar que não ia vender? Eu falei: “Tudo
bem, só que eu não vou pagar”. E não paguei. E falei pro Giasy assim:
“Você está com ‘nome sujo’, você não pode comprar nada, porque você
comprou o celular, deu pra não sei quem” - porque ele não falou. Até hoje
não sei pra quem ele deu – “então você fica com ‘nome sujo’. Que bom!
Você nunca mais vai poder comprar”. E assim a gente vai levando. Cada
dia eu me estoro.
P/1 – E dessas conversas, teve alguma muito marcante pra
você?
R – Acho que tudo é marcante. Porque depende do dia, de como você
está. Igual: eu estou falando assim, acho que faz já uns vinte anos que
meu olho não tremia. Aconteceram coisas essa semana que só por Deus,
da covid da minha mãe e da minha irmã. O Giasy passou mal - ele faz um
‘bico’ numa loja perto de casa – na loja, desmaiou, os caras falaram que o olho
dele ficou todinho branco, ele raaa, ficou assim, que nem um boneco,
um robô. Esticou tudo assim, desmaiou, chorou antes, que deu... eu não sei o
que é, que ele nunca tinha tido isso. Eu não sei o que ele teve. Eu estou
preocupada. Aí tem o Hospital São Paulo, que é lá, mas até você marcar
consulta, até passar, ou a pessoa morreu, (risos) e está tudo difícil, mesmo que
não fosse lá. O Hospital São Paulo está passando por uma crise lá. Não
tem pronto-socorro, porque podia entrar pelo pronto-socorro e conseguir, que
ele faz tratamento lá, com o neuro. Mas o pronto-socorro está fechado e eles
estão com vários problemas lá. Está arriscado até fechar o Hospital São
Paulo. Uma vergonha, mas é isso. Aí eu falei com o pessoal do posto de
saúde, eles disseram que quinta-feira é reunião... eles têm uma equipe lá que
tem psicólogo, um monte de profissionais. E conforme os casos, eles
encaminham pra esses profissionais. Então ela ficou de ver isso pra mim, eu
falei assim: “Só que na sexta-feira eu não vou estar. Aí você passa uma
mensagem, ou você vem na segunda-feira, pra dizer o que foi resolvido, se eu
consigo uma consulta pra ele, pra saber...”, porque o levaram pro pronto-
socorro, chamaram o Samu, mas falou: “Não dá pra esperar o Samu”. Disse
que o olho dele foi virando, tudo branco, eles falaram: “Ele vai morrer”, que
pensou que ele estava tendo... primeiro pensou que era epilepsia, mas falou:
“Não, não está babando, nada”, eu falei: “Não é”. Não sei o que foi que deu.
Apesar que mesmo lá no Hospital São Paulo, várias vezes eles perguntaram:
“Ele tem epilepsia?” Eu falei: “Não, não tem, nunca teve”, mas vai saber se
agora não foi, não sei. Como eu não vi... o Daniel, o menino que trabalha lá
falou que o filmou. Ele falou: “Depois eu te passo”. Então eu pedi pra ele me
passar, mas ele não me passou até agora, porque só falando não, mas você
mostrando pro médico, ele vai ter uma... né? Vamos ver o que deu lá no posto
de saúde, vamos ver se eles conseguem marcar uma consulta pra mim. Se
eles não conseguirem, sei lá, aí eu vou ver o que eu vou fazer. E a Net
setecentos e cinquenta paus, eu falei: “Meu Deus do céu! (risos) Misericórdia!”
Então, foi uma semana punk pra mim. Aqui está sendo... porque você coloca
um monte de coisa que fica lá dentro, não tem com quem falar, coloca pra fora.
Então, obrigada! (risos)
P/1 – Ah, o que é isso? Sônia, queria só saber sobre essa questão de inserção no mercado de trabalho. Você não sabia disso antes da sua amiga falar?
R – Não, não. Da minha cunhada. Eu não sabia que existia um local que eu
pudesse colocar. Aí, o que aconteceu? Fomos lá conhecer. Sabe onde é?
Aeroporto de Congonhas. Fui com o Amilcar, aí eu estava trabalhando, nessa
época, com o meu cunhado, aí eu combinei um horário, falei assim: “Eu vou na
hora do almoço”, aí o Amilcar saía da escola na hora do almoço, que o
experimental era pertinho de onde eu estava trabalhando, ele saía, a gente ia
direto lá pra Congonhas, pra saber onde era. Aí eu o levei acho que uma
semana, todos os dias, pra ele aprender onde ele descia, o ônibus que ele
pegava, dali da Lapa, pra poder ir. Aí ele ficou lá pouco tempo, não ficou muito
tempo, não. Nem sei. Aconteceu um monte de coisa, só por Deus e ele
ficou pouco tempo lá, mas no meio desse tempo: “Mãe, não sei onde eu estou”.
(risos) descia errado, isso e aquilo, aquele outro. Aí ligava lá pra coisa, eles
tinham uma perua com motorista, ligava lá e falava: “Dá pra pedir pro motorista, ele está em tal lugar, pergunta o nome da rua, pra ir buscar a criatura lá, que desceu”. Nossa Senhora, tanta coisa que dá pra escrever um livro de terror.
Depois o Giasy foi pra lá, que o Giasy: “Quero trabalhar”, aí o Amilcar tinha
ficado um tempo, não tinha ido mais, depois o Amilcar voltou pra lá, mas os
dois saíam juntos, mas chegavam em casa de tarde, cada um num horário,
porque o Giasy é duzentos e vinte e o Amilcar é cento e dez. O Giasy gosta
de modificar o trajeto: um dia vem assim, outro dia vem daquele jeito, entende?
O Amilcar, não. Se tirá-lo da rotina, ele se perde todo. Então o Amilcar fazia o
caminho que ele estava acostumado e dali não saía, porque ele se perde. O
Giasy não, gosta de aventura: um dia eu desço na Lapa, outro dia eu desço
em Pinheiros, outro dia eu desço aqui, naquele shopping que tem lá,
Ibirapuera, descer no Shopping Ibirapuera. Ontem foi no shopping (risos) com
os meninos lá, não sei o quê. Inclusive um dos meninos que frequentou com
ele lá no aeroporto está no grupo do experimental. Eu falei: “Como você
conseguiu, essa semana?” Ele falou: “É o Leo”. Eu falei: “Leo, você mora na
Paula Ferreira?” “É, moro”. Eu falei assim: “Você não era da O.A.T?” “É”. Eu falei: “Como você está nesse grupo?” “Que eu conheço não sei quem, não sei o que lá”, aí o colocaram no grupo. Aí Amilcar está saindo com ele. Ele
perguntou: “E o Giasy, como está?” O Giasy falou: “Nem lembro quem é,
não sei”. Não quis nem saber. Agora o Amilcar, não, lembrou dele, deu
atenção. O Amilcar é assim. O Giasy não, é completamente diferente. Aí eles
ficaram frequentando lá a O.A.T acho que uns quatro, cinco anos. Freguesia do Ó, Aeroporto de Congonhas todos os dias. Teve uma época, no
começo, o Amilcar estava estudando, eu o pus pra estudar à noite, no EJA,
chegava onze horas, pra entrar lá no aeroporto oito horas da manhã. Aí começou a dar convulsão debaixo do chuveiro, de manhã, a hora que ele levantava pra tomar banho, dava convulsão, mesmo tomando remédio, porque dormia pouco. Nossa! Aí acho que foi por isso que ele saiu, da primeira vez. Acho que foi isso. Nem sei, foi tanta coisa! Até esse menino perguntou: “Ele continua tendo aqueles problemas?”, porque deu também lá na O.A.T deu uma
ou duas vezes, nessa época, que eu precisei tirar da escola e da O.A.T, porque aí eu não tinha sossego nem quando estava na escola e
nem quando estava na O.A.T. Como eu ia mandá-lo daqui no
aeroporto... daqui, não, de lá da Freguesia no Aeroporto de Congonhas, todo
dia, sem saber se ele ia chegar? E acho que foi dessa vez, sim, que ele ficou
pouco tempo e saiu.
P/1 - Daí o Amilcar ficou dez anos no Carrefour?
R – Dez anos. De 2010 a 2020.
P/1 – E você, mãe, consegue dizer, conseguiu perceber os pontos positivos dele estar inserido no mercado de trabalho?
R – Foi porque, como ele não tinha amigo, tinha dificuldade. O dia que eu
fui no Carrefour, nem sei porque, se eles me chamaram, nem lembro e eu o vi
atendendo uma pessoa, eu falei assim: “Esse não é o Amilcar”, porque ele não
olhava as pessoas no olho. Ele ficava sempre assim. Não falei que teve uma
época que ele andava encostado nas paredes pra não ver as pessoas? E o
Amilcar atendendo, ele gostava de lá e lá é um hiper, não era super, só. Era
hipermercado. Tão grande, bonito, com outras lojas junto, assim: não dentro do
mercado, mas do lado tinha uma praça de alimentação enorme. Nossa, ele não
reclamou uma vez nesses dez anos: “Eu tenho que trabalhar hoje, hoje é
domingo, hoje é feriado, hoje é dia do meu aniversário, hoje é não sei o quê”.
Ganhou várias vezes como melhor funcionário do mês, ele adorava lá. E ele foi
muito bem recebido, sabe? Com as limitações dele e tudo, mas ele nunca
chegou em casa chorando, ou reclamando de algum... ele foi muito bem
recebido lá.
P/1 – Como foi pra você vê-lo trabalhando?
R – Nossa! Pra mim eu saí de lá chorando, porque ver que ele conseguiu
vencer as limitações dele e agora está difícil pra arranjar, está difícil. Imagina!
Igual, nesses dois anos, no primeiro ano eu não insisti, porque a pandemia
estava demais e o susto que a gente levava, aquele monte de assalto e ele
chegando de noite, sozinho, enquanto ele não chegava... bom, precisei colocar
marcapasso, né? É, filha, não tem quem aguente. Aí o ano passado eu
coloquei marcapasso, porque meu coração estava pedindo arrego, porque
muita tensão, você não dorme. Eu fiquei muitos anos, igual nesses dez anos,
sem dormir, enquanto o Amilcar não chega. E de fim de semana, Natal, época
de coisa, ele não saía dez e quarenta. Ele saía onze, onze e meia, às vezes
chegava meia-noite e meia, uma hora em casa e eu não dormia enquanto o
Amilcar não chega. E outra: se eu tenho dificuldade aqui no celular, ele tem
mais ainda. O Giasy não, ainda é melhor com o celular, com ler, por causa,
tudo, do Corinthians, porque ele quer saber tudo do Corinthians. O negócio que
bateram no Cássio, isso, aquilo e aquilo outro, no dia seguinte de manhã ele
estava contando tudo pra mim, que ele viu. Eu nem sabia, porque eu dormi, no
segundo tempo falei assim: “Vou dormir nesse jogo aí, está chato, vou dormir”
e fui dormir. Igual: eu posso fazer isso, quando eles estão os dois dentro de
casa. Agora, quando não está, não posso deitar e dormir. Então passei muitos
anos dormindo três, quatro horas por noite, pra levantar cedo no dia seguinte
pra trabalhar, ou mesmo agora, que eu estou aposentada, mas é tudo eu. Se
queima uma lâmpada lá em casa, sou eu. O Giasy, porque treme. O Amilcar,
porque eu tenho medo dele subir numa escada, ter alguma coisa e cair. Às
vezes eu fico no portão, assim, passa um moleque grandão, comprido, eu falo:
“Vem cá, (risos) troca uma lâmpada pra mim”, porque tudo sou eu. Tudo, em
casa, eu. E eu acho que o Amilcar, desses dois anos que ele está em casa, ele
regrediu, eu acho, porque ele fica perguntando coisa pra mim, assim: “Posso
pôr essa camiseta?” Ou qualquer coisa. Eu falo: “Não, Amilcar, até isso eu vou
ter que decidir, que roupa você põe? Você põe a roupa que você acha que
deve pôr, mas se der errado, você aguenta as consequências. Tudo eu que
tenho que decidir, tudo. Está ficando dependente?” Coisa que ele já tinha
desvencilhado, por aí. (risos) Então é complicado. Fácil não é, mas nós
estamos aí, cada dia aprendendo a lidar com as deficiências deles. Igual: não
adianta cobrar uma coisa que eles não têm pra dar. Igual meus irmãos falam
que o Giasy não pode sair, pra ir no jogo. Eu falei assim: “Ele está vivo. Ele
tem que viver. Eu vou impedir, amarrá-lo no pé da mesa e falar: “Você não
vai”? “Não, mas é perigoso”, porque eles falam, porque depois ‘sobra pra mim’,
eles devem pensar. “Celso!”, que ele é advogado. Mas eu posso prender? Ele
tem que viver, eu falei: “E o dia que eu morrer? Eles não vão saber se virar?
Vão ter que saber. Quando eu coloquei o marcapasso, eu fiquei quase um mês
com a recuperação, porque a minha irmã não me deixou voltar pra casa, que
minha casa tinha escada, eu fiquei na minha mãe. Eu fiquei 21 dias internada e
depois fiquei uns dez dias na minha mãe, até voltar, e eles ficaram, os dois, em
casa. Nossa, eu cheguei, imagina uma casa mais de mês com dois moleques!
Dava medo de ver, mas aí eu falei: “Eu não posso fazer faxina”. Chamei uma
pessoa e falei: “Faz pra mim”, depois que eu fui, porque era tudo bagunçado,
mas ficaram. E essa é a certeza que eles podem ter, que vai ter assessoria,
mas eles vão ter que morar os dois sozinhos. Não dá pra pôr uma pessoa ali pra morar com eles. E não deram trabalho nenhum, que falaram. Eu tenho um
vizinho também, que eu falo que é um irmão que a vida me deu, ele foi lá em
casa, trocou uma pia pra mim, que eu tinha falado pra ele, um dia: “Olha minha
pia”, que estava feia. Eu falei: “Você acha que eu mereço essa pia? Eu não
mereço essa pia, né?” Eu conversando com ele, dando risada, ele é casado,
tem os filhos dele e tal, mas ele me dá uma atenção, assim, e a mulher dele
também. Ela é um amor. Aí, quando eu internei, ele foi, comprou uma pia,
colocou a pia pra mim. Quando eu cheguei, a pia bonitinha, tirou foto. Quando
eu cheguei na minha mãe, que o celular eles não deixam ficar com a gente, no
hospital, ele tinha mandado as fotos, tudo, eu olhei, falei: “Ele trocou”. Ele
comprou a pia, pagou, colocou, arrumou pra mim e ficava dando uma olhada
nos meninos, dando serviço pra eles fazerem, ajuda aqui, ajuda ali, não sei o
que e dando uma assistência. Então, quem paga? Não tem, né? Só Deus. E a
mulher dele também: “Sônia, eles pediram pra eu fazer macarrão com molho.
(risos) Eles estavam com vontade de comer macarrão com molho”. Apesar que
minha irmã fala: “Vem comer aqui. Traz roupa pra lavar”. Isso, aquilo, aquilo
outro, mas tem muita coisa que eles não fizeram. Quando eu cheguei, estava
tudo lá, pra mim. Mas deu tudo certo e graças a Deus, não teve problema
nenhum, de ficar doente, nada, não tem o que reclamar.
P/1 – E, Sônia, você falou que está difícil arrumar emprego de novo,
pra eles. Qual a importância, pra você, de empresas pensarem nessa questão
de inclusão?
R – Então, está difícil pra achar porque, na época, há doze anos, a escolaridade era a mesma que ele tem agora, só que hoje eles pedem o segundo grau pra pessoa que tem deficiência intelectual. Então, bate lá e volta, não passa nas entrevistas. Porque ele não sabe preencher, se der uma ficha pra ele preencher. O Giasy pode até, teria... porque ele lê, não sabe escrever, fica toda hora perguntando: “Mãe, como escreve invicto?” Ontem mesmo ele
perguntou. Eu fico falando pra ele como escreve, falo: “Lê agora que você
escreveu, pra você aprender, pra não ficar perguntando toda hora”, porque ele
quer saber tudo do negócio do Corinthians. Então é um motivo a mais pra ele
aprender, querer ler, querer saber. Quando manda no Face isso, ele saber ler,
então. Agora, o Amilcar não. Ele é são paulino, você sabe, né? É mais meio
assim, não são aqueles ‘doentes’, né? Então, pra ele... e faz falta na hora que
vai fazer uma entrevista pra preencher, porque aí eu tenho que ir junto. Igual
outra coisa também: se for longe... igual da primeira vez, quando ele foi lá no
Carrefour, são duas conduções, ou andar quinze minutos pra pegar uma só. À noite não dava pra ele descer lá e vir a pé, com uma condução só, porque ele veio e foi assaltado. Ele veio com as duas conduções, quando ele foi pegar outra também, ele foi assaltado. Ficava longe. Aí ele começou a fazer um caminho, pegava o ônibus, descia numa avenida e pegava aquela avenida todinha, que dava uns vinte minutos, pra depois subir pra rua de casa. Uma hora da manhã. Não dá. Então, fica mais difícil. É uma coisa muito mais difícil pra ele arranjar agora, por causa da escolaridade e da idade também, chegou nos quarenta anos. Doze anos atrás ele tinha trinta e... né?
P/1 – Você, como mãe, queria saber se existem desafios e prazeres
específicos de ser mãe de pessoas com deficiência.
R – Então, as pessoas falam que especial é a mãe, que cuida de quem tem
deficiência. Eu não me sinto especial, não me sinto também a última... foi difícil
no começo, pra eu entender o que estava acontecendo. O que é isso? Aquela
energia deles duplicada, triplicada. Eu não entendia esse tipo de coisa, assim.
Eu ia num consultório médico, eles não ficavam que nem as outras crianças,
que a mãe põe um paninho na mão, uma chupeta na boca e a criança fica lá
quieta. Não. Descia, isso e aquilo, subia, falavam: “Mas se eles caíram lá, não
sei o quê”. Entende? Você nunca podia ficar sentada aqui e eles sentadinhos
ali. Isso não existia. Desde aí em diante, isso não existia. Sempre
hiperatividade, aquilo shiiiii, né? Eu não me sinto especial nisso, de ser mãe de
um especial. Não me sinto. Porque as pessoas falam pra gente, pra ‘jogar a
gente pra cima’, né? (risos) Mas eu não me sinto especial. Mas também não
me sinto a última coisa, não. Eu acho assim: eu dediquei muito tempo da minha vida pra eles e dedico até hoje? Dedico. Não tem como não dedicar. Eu
admiro... inclusive, nesse curso que eu estou fazendo tem uma professora que
passou, que estava passando um vídeo de pessoas que têm filhos com
autismo. E às vezes não é só um. Inclusive o meu médico... nossa, eu misturo
um monte de coisa, que eu estava com problema de labirintite, aí eu passei
com o médico e estava conversando com ele e ele falou assim, quando eu
acho que ataca mais a labirintite e isso e aquilo e eu falei assim: “Acho que
mais quando eu estou mais estressada, isso e aquilo, aquilo outro. Eu tenho
dois filhos especiais”. Ele falou: “Para, eu também tenho”. (risos) E ele é jovem.
Não deve ter quarenta anos. Ele falou: “Eu também tenho dois especiais, então
eu já sei o que é”. Porque de vez em quando, nossa, roda tudo. E o que é, mesmo? (risos)
P/1 – Desafios e prazeres.
R – Então, é dedicação total a você. Nesse vídeo que foi passado, a moça
tinha dois filhos com autismo: uma menina e um menino. Mãe solo, negra,
periferia, mas ela conseguiu - com a pandemia, tudo – que a ajudassem, que o
serviço que ela fazia, que ela estava fazendo, não conseguia fazer nesse
período, mas ela conseguiu algumas pessoas que a ajudaram, isso, aquilo e
aquilo outro. Ela foi uma pessoa que eu fiquei - não só ela, passou várias –
admirada, falei: “Como ela consegue?” Mas é o fôlego da juventude, também,
né? Que não deu aqui, foi pra lá. Depois eu fiquei – admirei – pensando assim:
“Mas eu também, não foi desse jeito, mas consegui, não sendo assim, mas de
outro jeito, né?”, mas a dedicação é integral. Não é que você pode deitar e
relaxar. Igual: eu sinto falta de não ter o que fazer. Sabe assim? “Ai, hoje eu
não vou precisar fazer nada. Ai, que delícia!” Isso não existe na minha vida.
Não existe. Não tem passeio, divertimento. Não existe. Não cabe. Ou são eles,
ou vamos os três juntos, ou não vai ninguém. Ou vão eles e eu fico, entende?
Porque assim: eu não consigo - pode ser que algum dia eu consiga – ir viajar e
deixá-los. Eu me cobro. Eu vou me divertir e eles vão ficar lá? Eu não consigo
ainda. Um dia talvez eu consiga. Até agora eu não consegui. E outra: de uma
outra forma eu também acho que eu mereço ir, sem precisar ficar... igual
quando você vai na praia, eu não tenho paz com eles, na praia. O Amilcar se
joga, adora água. Se joga. O Giasy já é meio ressabiado com a água, mas o
Amilcar se joga. Então, eu posso ficar lá? Não. Tenho que ficar atenta ali,
entende? Não tem aquele momento que você deita, fecha o olho e fica numa
boa. Teria, faz de conta... sei lá, não sei se tem mãe que vai na praia, fica
assim e deixa o filho pequeno na água, acho que não tem. Mas eles mesmo
adultos, o comportamento não é de uma pessoa de quarenta anos. Então,
só por Deus.
P/1 – Você falou que foi difícil aceitar ainda novinho. Como foi esse
processo, pra você?
R – Foi muita terapia. Eu fiz muita terapia, eles também e a gente já fez
terapia individual, cada um na sua; em grupo. Eu odiava grupo, eu falava
assim: “Eu já tenho meus problemas, ainda vou ficar lá ficar escutando
problema dos outros? Pelo amor de Deus, não quero”. Mas isso tem muito
tempo. Depois, quando eu fiz, eu adorei. Arranjei amigos e tenho amigos até
hoje. Tem a Nair, tenho amigas que ficaram, mas porque eu achava, falava:
“Que saco!” E fiz familiar e de um monte de jeito: individual e de tudo quanto é
jeito possível e imaginário, de várias linhas também, de terapia. A primeira que
eu fiz, eu odiei. O cara não falava nada, ficava aqui, assim. Eu aqui e ele aqui.
Ele não falava pra mim: “Então, fala você”. Não, ficava assim. Dava o horário:
“Deu o horário, tchau. Até a próxima”. Não, fala sério. Foi a primeira terapia que eu fiz. Aí eu acho que eu fui umas duas, três vezes, depois eu falei assim: “Eu vou mandar esse cara... então, é melhor não ir mais”. Ele não falava nada. Aí, depois, conversando com a minha irmã, que é psicóloga também, ela falou: “É uma outra linha”, né? Mas ninguém me falou nada, que era dessa linha. (risos) Você fica quarenta minutos olhando pra cara da pessoa e a pessoa não fala nada? Nem você, nem a pessoa.
P/1 – Mas a terapia te ajudou no quê?
R – Em tudo. Porque eu lembro de uma vez, foi da PUC? Foi da PUC. Eu
entrei lá esbagaçada, sabe? Que era um sacrifício pra ir naquela terapia, você
não tem noção do sacrifício que era. Era na época que eu trabalhava na Lapa,
pra economizar dinheiro eu ia da Lapa, mas ali, perto do Sesc, até a PUC a pé.
Eles me encontravam, vinham de casa e a gente se encontrava, marcava um
ponto pra se encontrar, pegavam um ônibus, desciam na Francisco Matarazzo
e subiam a rua do Parque da Água Branca e já saíam lá em cima, na PUC e eu
vinha ali da Lapa, da Clélia, pegava a rua do Palestra Itália, que agora é
Palestra Itália que chama a rua, que era Turiassu antes, ia até lá o fim, daí
subia pra sair no Sumaré, ali, pra subir, pra ir pra PUC. Isso tudo pra
economizar dinheiro de condução. E era difícil, eu chegava esbagaçada ali.
Depois, quando chega em casa é janta, isso, aquilo, aquilo outro, aquelas
coisas todas. Então, quando eu saí de lá, eu saí bem, porque recebemos alta:
“Pode ir, seguir. Do jeito que você chegou aqui e do jeito que você está saindo,
é outra pessoa”. Então, me deu… porque te fortalece. Porque você conversa,
põe pra fora as coisas que estão te incomodando. Eles vão dando: “Não é bem
assim, ou é, ou isso você pode fazer assim, ou assado”. Você vai pegando uma
direção, um jeito que ajuda, sim. A terapia ajuda. Ajuda bem.
P/1 – Foi importante?
R – Foi. Todas. Umas mais, outras menos, mas todas foram importantes. E
essa, a terapia de grupo foi muito boa também, porque eu comecei a ver o
outro, porque senão você fica focado só em você, só nos seus problemas. Aí
você começa a ver o outro. Nossa! Olhava aquilo, nossa! Ou mais, ou menos:
“Essa é exagerada, não precisa ser tão...”, mas assim, que é bom também.
Então, é isso.
P/1 – E, Sônia, a pandemia, como chegou na sua vida?
R – A pandemia? Eu não sou a mesma pessoa de dois anos atrás. Eu sou
outra pessoa. Porque as coisas que eu conseguia fazer há dois anos, hoje em
dia eu não estou conseguindo, falei: “Acostumei ficar em casa”. (risos) Como
que eu dava conta? Eu fazia pelo posto. De quinta-feira eu fazia ginástica, eu ia pro Sesc uma vez por semana, pra aprender a mexer com esse bicho aqui
(risos) e com outras coisas, ver gente, isso, aquilo e aquilo outro, uma vez por
semana. Era terça-feira. Na quinta-feira eu ia fazer ginástica. De terça-feira e
quinta-feira também eu ia pro curso. Eu dava conta e dava conta de serviço de
casa, dava conta das coisas e dormia tarde porque o Amilcar chegava tarde,
mas dava conta. Hoje em dia eu estou um bagaço. Não estou dando conta.
Falei: “Como eu dava conta?” Não consigo fazer tudo que eu fazia. Então, eu
falei: “Bom, dois anos faz diferença também”. Eu tinha setenta, agora tenho 72,
faz diferença. Mas, assim, não tanto de não conseguir fazer mais o que eu
fazia, não consigo.
P/1 – Você faz um curso, hoje? Do quê?
R – Da terceira idade. Falando de várias coisas, vários assuntos, duas vezes
por semana. Eu não ia. Quando começou, voltou presencial, falei: “Eu não
vou”. Acostumei ficar mais em casa, mas depois eu falei assim: “Não. Eu vou
porque, se eu ficar parada aqui dentro, eu fico parada, mas o mundo não para,
o mundo continua rodando, as coisas acontecendo”. E lá você tem a
oportunidade igual, quando terminou o curso, antes da pandemia, nós
tínhamos três salas, 150 alunos. Agora tem uma sala. O que
aconteceu com os alunos? Uns morreram, mas ninguém morreu, de 150 ter cinquenta, não chega nem a cinquenta, tem uns trinta e poucos,
só, que voltaram. Alguma coisa aconteceu, não sei o que, mas as pessoas não
voltaram. Mas mesmo assim eu não conhecia, entrei na sala, conhecia umas
cinco, seis que eram da minha sala. O restante eu não conhecia. Mas numa
boa, chego lá: “Oi. (risos) Como você chama? Onde você mora? Não sei o quê.
Pepepe”. Vou fazendo amizade com aquela, com outra, cada dia, cada aula eu
vou, sento num lugar, converso com esse, com aquele, isso, aquilo e aquilo
outro e vamos trocando. Eu estou indo, porque eu falei: “Se eu ficar em casa,
daqui a pouquinho eu não estou fazendo mais nada no externo: só serviço de
casa, só coisa de casa. Não, não quero isso pra mim”. Aí eu fiz um esforço,
(risos) que tem vez que eu falo: “Ai, eu não vou sair agora, não”. Vontade de
ficar em casa, mas eu vou.
P/1 – E quais são as coisas mais importantes pra você, hoje?
R – De... da vida?
P/1 – Hum-hum.
R – É viver. Estar viva. E aí, se é bom ou ruim, depende do dia e de você,
porque coisas boas e coisas ruins acontecem pra todo mundo e como você
reage àquelas coisas ruins, é você. Porque ninguém vai falar assim: “Olha, eu
não vou fazer pra Sônia, porque ela tem dois filhos com deficiência. Ela, não,
vou preservar”. Não existe isso. Na vida não existe. Não é? Acontecem coisas
boas e coisas ruins. Eu valorizo muito as coisas boas que acontecem. As
coisas ruins, é chato, isso e aquilo, mas amanhã é outro dia. E vou seguindo.
Já passei muito tempo de apontar o dedo pra pessoa: “Porque você está
errada, porque isso, porque não sei o quê”. Hoje em dia: “Ah, é assim que você
quer? Eu prefiro diferente, mas você quer assim?” E vou levando. Não me
estresso mais, muito difícil agora conseguir a pessoa me tirar fora do prumo.
Então, o que eu quero é viver, ver e ter a oportunidade de ver os meus filhos
avançando, o que eles puderem avançar. Eu sei que eles não vão ser aqueles
filhos que a mãe fala: “Ai, meu filho formou, está formado. Ai, meu filho casou,
me deu netos”. Eu sei que não vai ser assim, mas o que eles puderem me
dar... igual o Amilcar entrar no grupo, pra mim, foi uma satisfação, um
presente. Ele conseguir ter amizade, conversar, ser aceito, pra mim está ótimo.
O Giasy, com o gênio dele, que ele tem, terrível, que ele não te aceita, isso e
aquilo, mas ele tem um amigo que o que ele precisar e está com ele sempre.
Não desiste dele. Eu só tenho a agradecer. Porque se você tem um amigo
desse, você não precisa mais nada, não precisa de dinheiro, não precisa de
nada, nem põe o dinheiro no meio. Ele está bem de vida, consegue resolver os
problemas dele com dinheiro, tem carro, tem isso e tem aquilo. Não é isso que
eu estou falando. Eu estou falando quando o Giasy passou mal, ele levou o
Giasy pro pronto-socorro, ele foi me buscar em casa depois que deixou o
Giasy lá no pronto-socorro, veio em casa, me pegou e falou: “Eu vou voltar
pra loja. Quando terminar você me liga, eu venho buscar”. Ajudou o Giasy
descer as escadas, chegou em casa, abriu a geladeira: “O que tem aqui que
pode dar pra ele?” Deu suco pra ele. Ele abriu o olho lá e falou assim: “O
Amilcar foi buscar pão?” Eu falei: “Foi lá, pegou, deu, o ajudou a tirar roupa, o
pôs pra deitar na cama, o cobriu”. Eu vou querer o quê? Ali não é o dinheiro, é
amizade, o carinho que ele tem com o Giasy. Ele dá emprego pro Giasy. O
Giasy já aprontou tudo que você puder imaginar, já o mandou tomar naquele
lugar na frente dos outros, perto dos outros funcionários. Ele passa por cima de
tudo isso quando é o Giasy. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho um
vizinho que, se eu pego um martelo, ele fala: “Pra que você quer isso?” Eu falo:
“Eu vou...” “Deixa que eu faço pra você”. A mulher dele, nossa, vive enroscada
aqui. “Pelo amor de Deus, isso e aquilo”, ela: “Sônia, cinco minutinhos, eu vou
aí e já ajudo você”. Vem, na maior coisa e me ajuda fazer isso e aquilo. Então,
tem pessoas que me rodeiam, tenho minha família. Eu tenho uma mãe que fala
assim pra mim, com 95 anos: “De mais longe você já veio”. Eu falo: “Ai, mãe,
não estou aguentando mais, está duro. O Giasy fez isso, fez aquilo, aquilo
outro. Ela fala: “De mais longe você já veio”. Eu falo: “Melhor não, que a gente
já passou tudo”. Meus irmãos que estão comigo em tudo, igual quando eu
coloquei marcapasso. Eu falava assim: “Vou sair até a rua, ali, um pouco”. A
minha irmã falava: “Não vai. Fulano” - (risos) e ligava pro fulano – “a Sônia quer
ir na rua”. Nossa Senhora! Que eu fui colocar o marcapasso, primeiro eu passei pelo Ama, pra ver uma feridinha, ó, que tinha nascido. Onde que foi? Eu nem sei, acho que foi... nem sei onde que é, nem lembro mais. Não, era aqui, assim, na perna e não sarava. Sabe uma feridinha, você coçou, aí fez aquele feridinha e não sarava. Aí eu passei lá, pra médica ver, eu já tinha consulta marcada com o Incor, mas era março e eu estava em fevereiro. Já tinha passado várias vezes no pronto-socorro, dizendo o que eu estava sentindo, eles davam Dipirona, AAS, não sei o que, pra eu esperar a consulta.
P/1 – Esse ano?
R – Não, o ano passado. Aí eu passei, um dia eu levantei, eu não passei bem
de noite, o coração tã tã tã tã tã tã tã, aí eu falei assim: “Eu vou no Ama de
manhã, se eu não estiver bem”, falei pros meninos. Aí levantei e fui pro Ama.
Nem tomei café, nada. Levantei seis horas da manhã, abre às sete, eu falei:
“Eu quero ser a primeira” e fui a primeira a ser atendida, que cheguei lá, não
tinha fila, fui a primeira a ser atendida, sete horas, quando abriu, ela me
mandou fazer o eletro, fiz o eletro, a moça não me deixou descer da mesa. Ela
falou assim, a enfermeira: “Eu vou mostrar o eletro lá pra doutora, você fica aí,
não levanta, não, que eu já volto”. Foi. Daqui a pouquinho vem a doutora e
falou assim: “Está assim e assim seu caso, não vai dar pra gente liberar você,
vou te mandar pra UPA, que lá tem mais condições do que aqui”. Eu falei:
“Você está brincando!” Ela falou: “Não, é sério”. Eles não deixaram. Eu falei,
depois: “Eu quero fazer xixi”. Me levaram até o banheiro, só desci pra ir no
banheiro, mas fiquei ali, esperando a ambulância, aí ela falou assim, a médica:
“Mas dessa vez eles vão te atender direito, porque eu vou junto”. Eu falei:
“Então tá, porque eles me dão Dipirona, isso e falam pra eu aguardar a
consulta. Eu estou vendo que eu não vou aguentar, mas eu não vim aqui pra
isso, eu vim por causa disso aqui”. Ela falou: “Então tá”. Passou a pomadinha
que tinha que passar, deu isso, aquilo, aquilo outro, tal e falou: “Deixa eu só
avisar na ambulância, fazer aquelas coisas, pra eu te levar. E tem o doutor
fulano também, que atende!”. Eu falei pra ela: “Você esqueceu que ele está de
férias?”, porque eu tinha ligado pra minha sobrinha, que trabalha no posto da
Cachoeirinha e esse médico trabalha também no posto. Ele trabalha acho que
dois, três dias lá e dois dias aqui nesse posto, perto de casa. Ela falou assim:
“Vou ligar pra ele, pra ele te atender”. Aí ela ligou e falou assim: “Ele falou que
está de férias daí, ele só está aqui. Daí ele está de férias”. Eu falei: “Não, tudo
bem”. Aí eu falei pra ela: “Mas o doutor fulano está de férias”. Ela falou: “É
mesmo, ele está de férias. Problema deles. Eu vou com você. Por que eles não
puseram uma pessoa no lugar dele? Da direção lá do Ama. Problema deles”. E
foi comigo. Ela ficou acho que umas duas horas comigo lá no UPA. Aí tiraram
tudo as coisas, já tiraram minha roupa, já puseram avental, isso e aquilo, eu
falei: “Precisa avisar em casa”. Eu com o celular, ela falava assim: “Não pode
ficar com o celular”. Eu falei: “Mas tem que avisar em casa”.
P/1 – Dali você já foi pra cirurgia?
R – Já fui pro UPA. Aí, de lá, pra entrar naquela fila, sabe aquela fila que eles
têm, de... eu tinha que ir pro hospital. Fui pro Hospital de Taipas, fiquei no
Hospital de Taipas vários dias. Aí o que o médico... olha Deus na minha vida,
se é pra eu reclamar! A médica deixou tudo lá, não tinha outro médico, não
tinha e ela ficou comigo umas duas horas lá, até eles me atenderem e
fazerem - trouxeram um monte de coisa – um monte de exame ali, ela ficou. Aí
minha irmã, deu tempo, eu liguei pra minha irmã, minha irmã veio, trouxe os
papéis que eu tinha, do Incor, tudo, eu falei: “Traz, está lá em casa”. Ela foi em
casa, pegou, trouxe, levou lá pra mim. Aí de lá eles me transferiram pro
Hospital de Taipas e eu fiquei lá acho que uma semana e o médico não
conversava comigo, mas a equipe ótima, o pessoal, mas eu via como ele
tratava as outras pessoas: com o maior carinho, com a maior dedicação,
porque eu fiquei no pronto-socorro do hospital, não fiquei no quarto, porque
não tinha vaga. Fiquei ali, no pronto-socorro do hospital. Mas eu via como ele
tratava os pacientes. Moço bonito, novo, mas com o carinho que ele tratava as
pessoas e comigo ele não falava nada. Não falava nada comigo, né? ‘Nem tico,
nem taco’. E eu lá. Aí, o que ele fez? Ele chamou um cardiologista pra me
colocarem marcapasso no pronto-socorro, mas provisório, pra eu aguentar
chegar no Incor, acredita? O ortopedista... o cardiologista veio, falou pra mim:
“Eu sou o doutor tal, sou cardiologista, vou colocar em você marcapasso”. Não
precisou de nada. Colocou o marcapasso em mim até o Incor fazer os trâmites
lá, chegar minha vez na fila, que estava lá, esperando o Incor me chamar, pra
eu ir pro Incor. Aí eu vou reclamar do quê? Eu só tenho que agradecer porque,
se ele não tivesse colocado aquele provisório, talvez hoje eu não teria
aguentado ficar, que estava desse tamanhinho assim, meu coração batendo.
Então, eu acho que eu tenho, na vida, mais a agradecer do que reclamar: à
família que me deram, que a vida me deu; os amigos que eu tenho; os vizinhos
que eu tenho; as pessoas da Saúde que lidam com meus filhos. Tem uma
dentista que tratou dos dentes do Amilcar mais de dez anos, nunca cobrou um
centavo. E ainda encaminhou, que uma vez ele teve convulsão, caiu, quebrou
o dente da frente, saiu o dente da frente dele. Ela pôs um provisório e o
encaminhou pra um lugar que eu consegui fazer, ele teve um tratamento de
primeira, que é o lugar onde os dentistas fazem os cursos, pra aprimorar.
Nesse lugar. Que o Amilcar convulsionou lá, que eles me deram dinheiro pra
eu pegar um táxi, lembro até hoje, me deram cem reais, chamaram o Samu,
levou até o hospital, de lá ele falou: “Pra você ir embora, pegar um táxi, aqui,
cem reais”. Não perguntou se eu tinha ou se eu não tinha. Eu só tenho que
agradecer na vida! Tem coisas que acontecem, que eu falo: “Como? Como
uma médica deixa todo mundo esperando e vai me levar, fica duas horas
comigo lá? Como que o médico fala assim: ‘Eu não tenho espaço, local pra
fazer isso decentemente, mas eu vou fazer um provisório aqui, pra ela aguentar até...”. Eu vou reclamar do quê? Quando eu chego em casa tinha a pia que eu reclamei lá, falei: “Eu não mereço uma pia dessas. Você acha que eu mereço? Olha como está essa pia! Não sei o que, não sei o que lá”, que ele comprou a pia, colocou, não sabia se eu ia sair viva ou morta, gastou dinheiro, foi lá e fez. Que ele olhou meus filhos, enquanto meus filhos estavam lá. Eu vou reclamar do quê? Da família que eu tenho, do que meu pai, do que minha mãe sempre fizeram por nós e pelas pessoas ao redor. Eu não tenho o que reclamar. Só agradecer a Deus. Ele me deu um problema? Deu. Mas me ajuda todos os dias. Acontece coisas que eu falo assim: “Não é possível! Como?” Tem vez que eu deito destruída e falo assim: “Eu vou dormir, amanhã eu vejo o que eu faço”. No dia seguinte olha o negócio facilitado pra mim, aqui, que vem assim, sabe? Você fala assim: “O que é isso?” Então, eu não tenho o que reclamar, só agradecer.
P/1 – Quais são seus sonhos?
R – Meus sonhos são pequenos (risos). Eu não sonho grande, não. Eu acho
assim, igual eu já até falei: no curso uma das professoras é psicóloga, eu falei
pra ela assim: “Por que eu não sonho? Se eu sonho, eu não lembro, porque eu
não sonho dormindo”. Eu acho que é porque ou eu durmo muito pouco, não
entro naquele sono saudável, não sei se é isso, ou sei lá, sonho e não lembro.
Eu falei: “Eu não sonho nem de dia, nem de noite”. (risos) Porque eu acho que
os meus sonhos são diferentes do das outras pessoas, porque eu não me
ponho em primeiro lugar. Eu ponho em primeiro lugar meus filhos. Se eles
estiverem bem, eu estou bem; se eles estiverem mal, não adianta eu ter isso,
fazer aquilo, aquele outro, porque eu não vou estar bem. Então, o sonho, pra
mim, é muito relativo. Começa pelos meus filhos. Eles estão bem? Igual eu
falei ontem pro Amilcar: “Eu vou sair” – o Giasy foi trabalhar – “mas quando
eu chegar, eu quero você aqui dentro, tá? Não vai ficar ‘virando lata’, não, tá?”
“Que horas você vai chegar?” Falei assim: “Umas cinco horas eu devo estar de
volta”, mas vai ser às seis, né? (risos) Ou mais, né? Então, o que acontecer pra
mim é brinde, sabe? Se acontece uma coisa boa, eu agradeço: “Graças a Deus
aconteceu uma coisa boa!”, mas eu não fico, eu não consigo fazer: “Ai, eu
quero isso, eu sonho...”. Não. Eu quero meus filhos bem, assistidos,
respeitados, trabalhando. Eles conseguirem, dentro das limitações deles, as
coisas, sabe? Ser respeitado, não ser como se fosse lixo, igual eu vi o Amilcar
debaixo da mesa lá, da professora, como se ele fosse cachorro. E aí, se fosse
um cachorro: “Ai, um cachorro, que bonitinho! Não sei o quê” e meu filho
jogado lá, que nem bicho. Não é? Você não vê, muitas vezes, as pessoas aí,
com um animal, tratando o animal, ai, coisa e vê uma criança passando fome e
não tem coragem de comprar um lanche, pra dar pra uma criança que está
passando fome. Então eu acho que eu vejo o mundo diferente das outras
pessoas. Eu não quero ser rica. Muitas vezes... os meus irmãos têm uma vida
mais fácil do que a minha, financeiramente, já chegaram pra mim e
perguntaram se eu não tenho inveja: “Você não tem inveja dos seus irmãos?”,
porque a vida minha é batalha mesmo, eu falo: “Não, porque o que eu quero
eles não têm pra me dar. Não é dinheiro, não vou ficar correndo atrás de
dinheiro. Às vezes eles até me dão. Às vezes dá um presente de Natal.
Qualquer coisa, eles vão e me dão em dinheiro e falam assim: “Compra o que
você precisar, o que você quiser”. Mas eu não vou gostar da minha irmã
porque ela me deu cem reais, duzentos reais, trezentos reais, quatrocentos, o
que ela pôde me dar. Não é isso”. É a mesma coisa a amizade que esse rapaz
tem com meu filho: ele gosta dele, ele fala: “Ele é meu irmão, que eu não
tenho”. Então ele o aceita do jeito que ele é. Ele passa dos limites. O Giasy
não é fácil, não. Ele é uma pessoa difícil. E ele aceita, dá oportunidade pro
Giasy trabalhar lá, facilita as coisas pro Giasy fazer lá e não ficar
constrangido, sabe? E os outros têm até inveja do Giasy, os outros
funcionários, porque falam que ele é protegido. Mas, entende, não é dinheiro,
por que dinheiro ajuda? Ajuda. Você vai passear, isso, aquilo, aquilo outro, mas
não é tudo, porque eu podia ter um monte de dinheiro, mas se meus filhos
estivessem infelizes, e daí? É isso.
P/1 – Sônia, a gente está caminhando pro fim, eu queria te perguntar se você gostaria de contar alguma história, algum momento na sua vida, o que você quiser, que eu não tenha te perguntado.
R – Nossa, são tantas coisas! (risos) Não. Acho que eu falei o básico, porque
você não consegue contar uma vida de uma pessoa de 72 anos em duas
horas, né?
P/1 – É um recorte.
R – É, não dá.
P/1 – Mas tem algum recorte importante que ficou pra trás? Tudo
bem que tem vários, mas que você lembre agora. (risos)
R – Falei da família, de amigos, dos meus filhos...
P/1 – Você quer falar do seu irmão Carlos? Ou não.
R – Não falei dele, mas falei que ele não estava mais.
P/1 – É.
R – Só que é uma coisa assim, gozada, na família. Eu acho que a gente deve
isso pra ele. É como se ele não tivesse existido. Porque depois que ele morreu,
a gente não falou mais dele. Então, boa lembrança, porque é uma coisa, igual:
pra mim, eu era a mais velha, eu não consegui entender por que a pessoa faz
assim, se a vida está dizendo pra ela que é assim. Então o carinho que meu
pai sempre cuidou da gente, minha mãe. O carinho que eles não tiveram de
mãe, meu pai teve de pai, que o pai dele foi presente, mas a minha mãe que
não teve mãe, que a mãe dela morreu, ela tinha quatro anos, eles deram pra
gente. Por que ele não conseguiu receber tudo aquilo que foi dado? Por que
ele optou por um lado que não tinha nada a ver? Por quê? Umas coisas que
ficaram sem respostas, pra mim, que era mais velha, na época. Pros outros
que eram mais novos talvez nem questionaram isso, mas eu fiquei, você sabe
como se ficasse com raiva da pessoa? Por que você fez isso, se você não
tinha motivo nenhum? Nunca passou fome, não passava necessidade. A gente
tinha uma vida de pobre, mas com dignidade, não pobre miserável, pobre que
não tem isso, pobre que não tem aquilo, aquilo outro. Não, a gente sempre
teve, meu pai sempre fez. Ele não precisava querer nada de ninguém. Ele ia ter o dinheiro dele, pra comprar o carro dele, pra comprar uma moto que ele
quisesse. Ele ia ter. Por que desvendou pra um caminho que não tinha nada a
ver? Eu acho que aí a minha mãe engoliu seco isso, porque uma mãe perder
um filho com dezenove anos; o meu pai também foi uma coisa, porque acho que ele ficava perguntando: “Onde foi que eu errei?” Inclusive meu pai tinha, nessa época, um médico, doutor... agora não vem o nome dele, mas ele era ‘assim’ com meu pai. Ele foi - porque naquela época, também, os velórios eram dentro de casa, não eram fora – em casa e falou umas palavras bonitas pro meu pai, sabe? Quer dizer: aí que você vê – era doutor, meu pai semianalfabeto, paciente dele. Além de paciente, ele era amigo do meu pai, porque numa hora que meu pai mais precisou, ele foi lá em casa, ver como meu pai estava de saúde, minha mãe e falou pra ele, pro meu pai: “Você não tem que se envergonhar, porque você fez tudo que um pai faz para um filho. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus”. Eu lembro ele falando isso pro meu pai. Ele era um médico. Quer dizer: antigamente... igual hoje você trata médico de você, você fala você e trata mais ou menos de igual pra igual. Tem médico que não aceita, que acha... que uma médica outro dia perguntou pra mim: “Quem é a médica, aqui?” (risos) Eu falei: “É você, mas quem está sentindo sou eu”. Mas antigamente tinha muito disso: eles não se igualavam com o paciente. O paciente era o paciente e eles eram os médicos. Isso aí há cinquenta anos. E ele falou isso pro meu pai. Ênio, lembrei o nome dele, Doutor Ênio. E numa hora que meu pai... porque meu pai, caiu o chão. Meu pai sempre foi aquela pessoa honesta, que tratava os filhos com o maior carinho, mas ele olhava, não falava, você sabia o caminho que você tinha que tomar. Ele não precisava xingar, não precisava falar nada, ele só olhava: “Está muito engraçadinho” era o máximo que ele falava e acabou o assunto. E acontece isso com meu irmão!
Eu acho que a gente deve isso pra ele: ele fez errado - achar um jeito de falar
pra todo mundo que tiver oportunidade de ouvir – mas não foi dada pra ele a
chance de se arrepender do que fez e de consertar isso, porque quando você
atira na cabeça da pessoa, você não está dando chance pra ela. Podia ter
atirado nas pernas, na coisa, mas atirou na cabeça. Então não foi dada pra ele
a chance de mudar essa trajetória.
P/1 – Ele foi assassinado?
R – Foi. Com dezenove anos. E em casa é como se ele não tivesse existido, que a gente não se fala. Foi posto coisa, porque dava vergonha. Dava saudade, mas dava vergonha. E aí, com a vinda do outro, aí que não se falava, mesmo. Aí eu estou dizendo pra todos que me ouvirem que ‘eu te amei, Carlos, José Carlos’. Foi pouco tempo, dezenove anos é pouco tempo, mas nesses dezenove anos ele foi irmão, foi parceiro e mais de mim, que era mais velha, do que de quem era mais novo.
Obrigada, viu?
P/1 – Tem mais alguma coisa que você queira...
R – Não. Acho que falei tudo que eu gostaria de falar.
P/1 – (choro) Você gostaria de deixar alguma mensagem?
R – Eu acho assim: as pessoas são diferentes, querem coisas, cada uma
diferente da outra. Eu quero viver, eu quero ver, eu tenho esperança ainda de
ver pessoas com deficiência serem respeitadas, porque eu sou de uma época
que escondia as pessoas com deficiência, não se mostrava. Às vezes
você nem sabia que tinha aquela pessoa na casa, que era deficiente, porque
era escondido. Aí veio a geração que começou a se mostrar e eles não serem
aceitos, serem discriminados, empurrados, cuspidos. Eu passei por essa fase e
eu gostaria de ainda ter oportunidade de ver eles serem respeitados. As
pessoas com deficiência serem respeitadas, no ambiente de trabalho, de lazer,
qualquer lugar que eles quiserem, do jeito que são. Não precisar fingir que eu
sou isso, sou aquilo, ou eu tenho dinheiro. Independente se tem dinheiro, se
não tem, todo mundo tem que ser respeitado. Esse é o meu sonho: ver as
pessoas serem respeitadas.
P/1 – Sônia, como foi relembrar e compartilhar com a gente tudo
isso?
R – Foi uma experiência gratificante. Eu agradeço. Porque no dia a dia você
não tem oportunidade, nem quer ficar falando pras pessoas esse tipo de
conversa, com as outras pessoas. Você fala banalidades. Às vezes até... eu já
estou despedindo, vou falar, (risos) mas igual eu encontrei uma pessoa dessas
que eu me apresentei pra ela, na escola, isso e aquilo, ela falou umas
particularidades da vida dela, que eu fiquei assim: “Como, né?” Mas é raro
você falar e ter alguém que escute, porque normalmente você conversa, mas
mais banalidades, coisas que não são tão íntimas. E poder repartir isso com as
outras pessoas, pra mim é um prazer. Agora, se eles vão gostar do que eu
disse, aí já é outra conversa. (risos) Mas eu gostei de poder falar. Foi um
prazer!
P/1 – Muuuuito obrigada!
R – Imagina! Eu que agradeço.
P/1 – Muito obrigada, de coração.
R – Eu que agradeço, porque é troca. E eu gosto de trocar. (risos) Igual: o que
eu sei da sua vida? Nada. Mas eu gosto de você, já. É uma pessoa que eu
gosto também. Então, é isso. A vida é isso e pra mim basta. Não precisa mais.
Não preciso estar cheia de dinheiro. Também não tem, né? Aí também já... né?
Mas não precisa ser... “Nossa, você não tem inveja dos seus irmãos, isso e
aquilo?” Não. É isso: pra mim basta o que eu tenho, eu sou grata todos os dias,
por todas as coisas legais. Hoje vocês vão entrar na minha oração, à noite,
com certeza, de agradecimento, tá?
P/1 – Obrigada! Obrigada! Obrigada! Mesmo!
R – Amém!
Recolher(1).jpg)








.jpg)




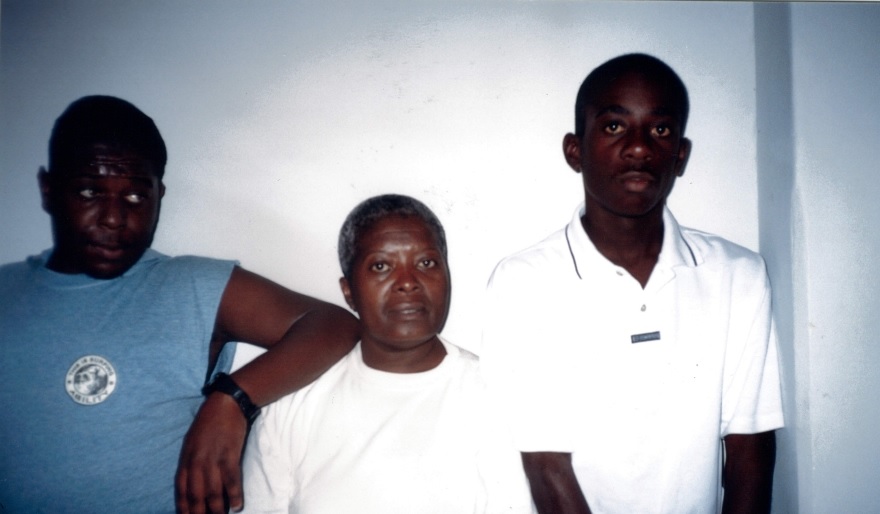



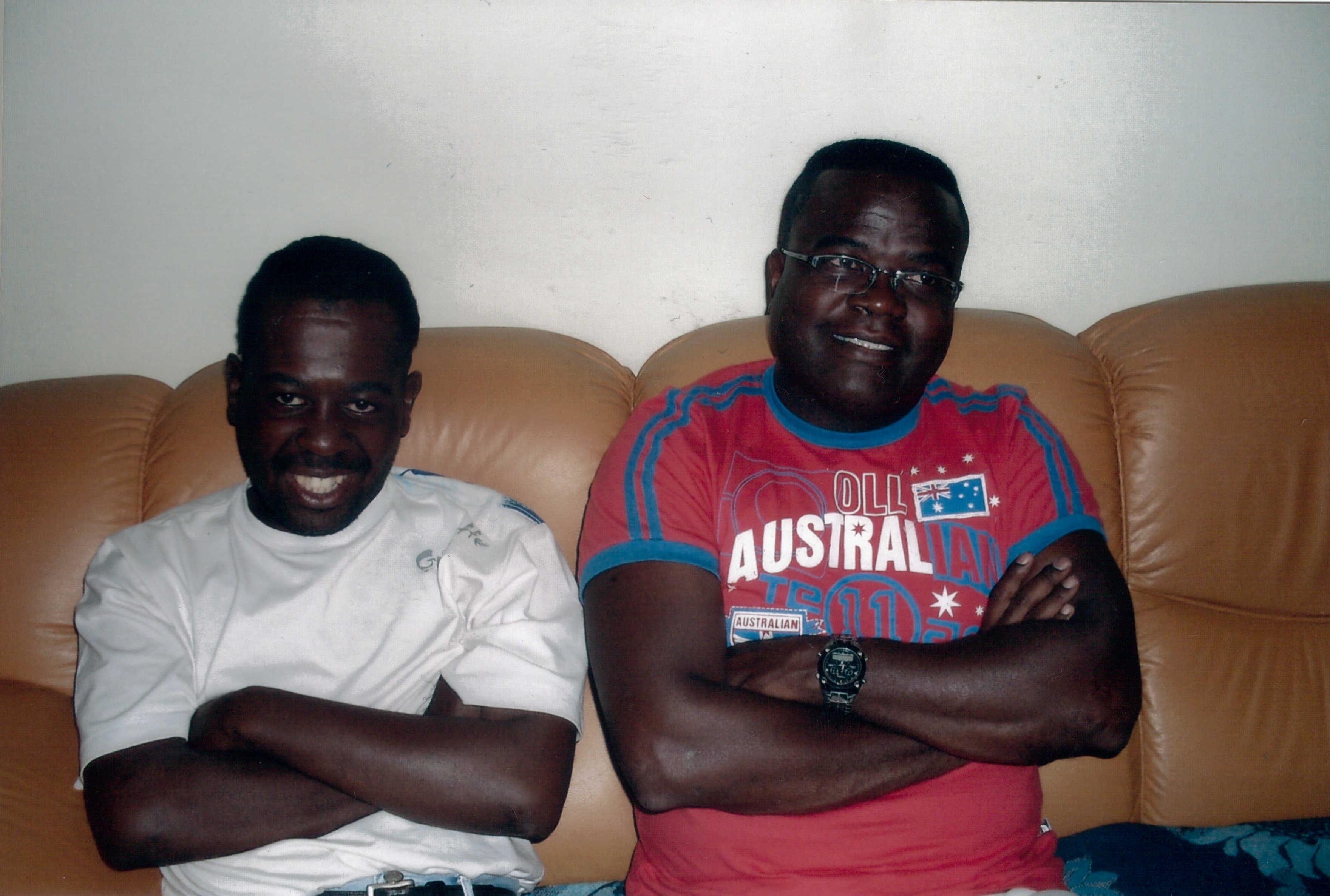
.jpg)
